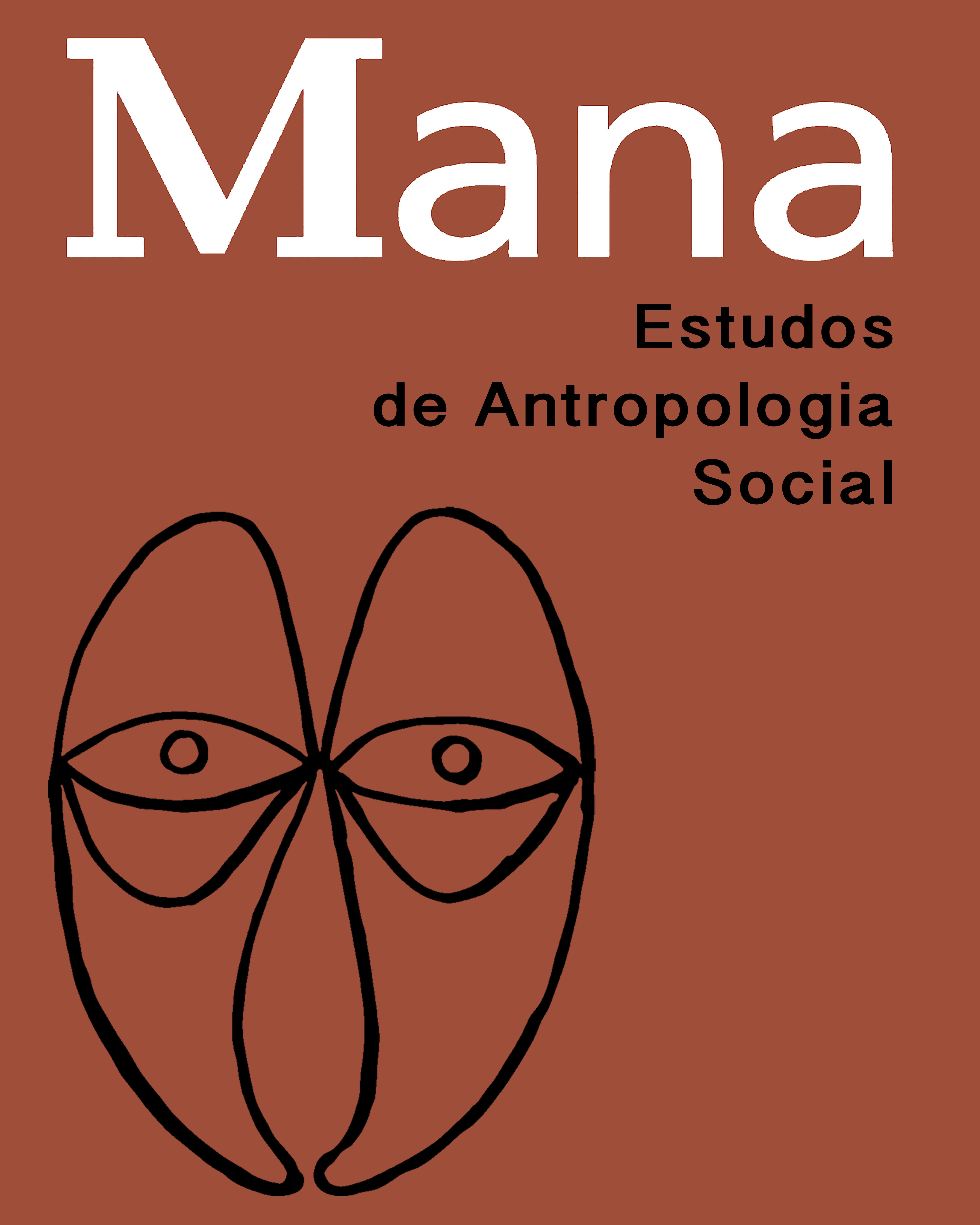Resumo
No decorrer do século XX a etnologia guarani produziu uma série de trabalhos cuja gênese se assentava nas migrações registradas por Nimuendaju e publicadas em sua obra de 1914. No litoral atlântico, diversos cronistas haviam registrado desde o início da Conquista fenômenos semelhantes entre diversos grupos indígenas que foram denominados genericamente como Tupi-Guarani. Desde então, muitos antropólogos se propuseram a estabelecer um fio condutor entre as migrações tupi-guarani e as dos Guarani, muitas vezes atribuindo a ambas os mesmos motivos e objetivos: escapar à destruição do mundo e adentrar em vida a terra dos imortais. Entretanto, um exame detalhado da bibliografia, bem como de algumas fontes documentais coloca em xeque este fio condutor. Este artigo é um estudo sobre as múltiplas formas de deslocamentos observadas entre os Guarani ao longo dos séculos XVI e XVII e posteriormente durante os séculos XIX e XX. O seu objetivo é analisar e distinguir essas formas de deslocamentos: de um lado, as migrações para a terra sem mal nos séculos XIX e XX, de outro, as expedições de guerra, pilhagens e captura de escravos, as fugas em face dos colonizadores espanhóis e bandeirantes portugueses e as atrações para as missões jesuíticas nos séculos XVI e XVII.
Palavras-chave:
Índios guarani; Missões jesuíticas; Deslocamentos; Migrações; Expedições; Manuscritos da Coleção de Angelis.
Resumen
En el transcurso del siglo XX la etnología guaraní produjo trabajos cuya génesis se asentaba en las migraciones registradas por Nimuendaju y publicadas en su obra, en 1914. En el litoral atlántico, diversos cronistas registraron desde el inicio de la Conquista fenómenos semejantes entre diversos grupos indígenas denominados genéricamente Tupi-Guaraní. Desde entonces, muchos antropólogos se propusieron establecer un hilo conductor entre las migraciones tupi-guaraní y la de los Guaraní, atribuyendo a ambas los mismos motivos y objetivos: escapar de la destrucción del mundo y adentrar, en vida, en la tierra de los inmortales. Sin embargo, un examen detallado de la bibliografía, así como de algunas fuentes documentales, pone en jaque ese hilo conductor. Este artículo es un estudio sobre las múltiples formas de desplazamiento observadas entre los Guaraní a lo largo de los siglos XVI y XVII y posteriormente durante los siglos XIX y XX. El objetivo es analizarlas y distinguirlas: de un lado, las migraciones hacia la tierra sin mal en los siglos XIX y XX; del otro, las expediciones de guerra, saqueos y captura de esclavos, las fugas de los colonizadores españoles y de los bandeirantes portugueses y el desplazamiento hacia las misiones jesuíticas en los siglos XVI y XVII.
Palabras clave:
Indios guaraní; Misiones jesuíticas; Desplazamientos; Migraciones; Expediciones; Manuscritos de la Colección de Angelis
Abstract
Over the course of the twentieth century, Guarani ethnology produced a series of works whose genesis can be traced back to the migrations registered by Curt Nimuendajú and published in his work of 1914. On the Atlantic coast, various chroniclers had registered similar phenomena, since the beginning of the European Conquest, among diverse indigenous groups that were generically denominated Tupi-Guarani. Since then, many anthropologists have proposed to establish a common thread between the Tupi-Guarani migrations and those of the Guarani, frequently attributing the same motives and objectives to both: to escape the destruction of the world and enter the land of the immortals while still alive. However, a detailed examination of the bibliography, as well as various documentary sources, calls any such connection into question. This article is a study of the multiple forms of translocation observed among the Guarani during the sixteenth and seventeenth centuries and subsequently during the nineteenth and twentieth. Its objective is to analyse and distinguish these forms of translocation: on one hand, the migrations toward the land without evil in the nineteenth and twentieth centuries; on the other, the war expeditions, raids, slave captures, flights from the Spanish colonisers and Portuguese bandeirantes, and attractions to the Jesuit missions in the sixteenth and seventeenth centuries.
Keywords:
Guarani indians; Jesuit missions; Translocations; Migrations; Expeditions; Manuscripts from the Angelis Collection
O diálogo acima ocorreu em 2012, na terra indígena Xambioá. Meu interlocutor - Albino Karai Ataa, de cerca de 85 anos - contava de um deslocamento empreendido por seu grupo, na década de 1930, desde a fronteira paraguaio-brasileira sob orientação de um xamã. Atravessaram os limites de Dourados, Campo Grande até chegar em Coxim (cidades do atual Mato Grosso do Sul). Haviam se afastado bastante das regiões ocupadas pelos Guarani e numa trajetória inédita, alcançaram o curso do rio Araguaia. Ora afastando-se, ora aproximando de seu leito chegaram, cerca de trinta anos mais tarde, ao município recém-fundado de Mozarlândia, em Goiás.
Lá, faleceu o último xamã, filho daquele que iniciou essa caminhada que falecera anos antes nas proximidades de Rio Bonito, atual Caiapônia, também em Goiás. Os motivos que levaram os Guarani a se lançarem por esta rota insólita foram a guerra do Chaco1 1 Conflito entre Bolívia e Paraguai ocorrido entre 1932 e 1935. e o que se pode chamar de busca de uma perfeição física e espiritual. Desejavam chegar à borda do oceano e de lá, a uma terra de imortalidade (yvy ju2 2 Yvy ju, que significa literalmente terra áurea, é correlato de yvy marã e’ỹ, traduzida por Nimuendaju (1987) como terra sem mal. Tradução divergente daquela apresentada pelo padre Antonio Ruiz de Montoya (2011:298), de solo intacto, seguida por Melià (1990:33) e Julien (2007:264). Esclareço que as palavras nativas serão mantidas conforme os registros de seus autores. Por isso, variações em ñanderu e nhanderu, candire e kandire. ). A borda do oceano era o local apropriado para se encontrar o acesso a esse paraíso e somente os xamãs eram reputados conhecedores desses caminhos. A morte do último xamã pôs fim aos planos daqueles remanescentes, pois não havia mais quem os conduzisse.3 3 Para uma análise desse deslocamento, recomendo Mendes Júnior (2021). Apenas reitero aqui que, junto com o xamã, faleceu uma grande parcela de pessoas, o que foi responsável por certo desmantelamento do grupo.
O tema da busca da imortalidade por meio do ingresso numa terra áurea emergiu nos debates acadêmicos a partir da etnografia de Nimuendaju, publicada em 1914 na Alemanha. Posteriormente, continuou a atrair a atenção de outros autores como Alfred Métraux (1927MÉTRAUX, Alfred. 1927. “Les migrations historiques des Tupi-Guarani”. Journal de la société des Américanistes, 19:1-45.), Léon Cadogan (1959CADOGAN, Léon. 1959. “Ayvu rapyta textos míticos de los Mbyá-Guarani del Guairá”. Boletim 227. São Paulo: USP, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. pp. 1-217.), Hélène Clastres (1978)CLASTRES, Hélène. 1978 [1975]. A terra sem mal: o profetismo tupi-guarani. São Paulo: Brasiliense., Pierre Clastres (2003)CLASTRES, Pierre. 2003 [1974]. A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: Cosac & Naif., Egon Schaden (1974SCHADEN, Egon. 1974 [1954]. Aspectos fundamentais da cultura guarani. São Paulo: Difel. ) e de críticos, como Bartomeu Melià (1981MELIÀ, Bartomeu. 1981. “‘El modo de ser’ Guarani en la primera documentación jesuítica (1594-1639)”. Revista de Antropologia, 24:1-24., 1990MELIÀ, Bartomeu. 1990. “A terra sem mal dos Guarani: economia e profecia”. Revista de Antropologia, 33:33-46.) e, mais recentemente, Catherine Julien (2007JULIEN, Catherine. 2007. “Kandire in real time and space: Sixteenth-Century expeditions from the Pantanal to the Andes”. Ethnohistory, 54 (2):245-272.) e Barbosa (2013BARBOSA, Pablo Antunha. 2013. “A ‘Terra sem mal’ de Curt Nimuendaju e a ‘Emigração dos Cayuáz’ de João Henrique Elliott. Notas sobre as ‘migrações’ guarani no século XIX”. Tellus, v. 13, n. 24:121-158.).
A análise dos deslocamentos proposta em minha etnografia (Mendes Júnior 2021MENDES JÚNIOR, Rafael Fernandes. 2021. A terra sem mal: uma saga guarani. Rio de Janeiro: EdURFJ.) foi o estímulo para a pesquisa que deu à luz este artigo, que é um estudo sobre as múltiplas formas de deslocamentos observadas entre os Guarani ao longo dos séculos XVI e XVII e posteriormente durante os séculos XIX e XX. Sua análise concentra-se nos três primeiros volumes dos Manuscritos da Coleção de Angelis (doravante, Manuscritos…), organizados por Jaime Cortesão e Hélio Vianna entre 1951CORTESÃO, Jaime. 1951. Manuscritos da Coleção de Angelis 1: Jesuítas e bandeirantes no Guairá (1594-1640). Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional. e 1970. Um conjunto de 141 documentos produzidos entre 1594 e 1760, na porção meridional da América do Sul.
A seleção desses períodos justifica-se pelos deslocamentos territoriais que resultaram tanto na compressão das reduções no interflúvio Paraná-Uruguai quanto na posterior expansão para a margem esquerda do Uruguai dos Sete Povos de Missões (Neumann 1996NEUMANN, Eduardo. 1996. O trabalho guarani missioneiro no Rio da Prata colonial, 1640-1750. Porto Alegre: Martins Livreiro .).4 4 Os deslocamentos ocorridos no século XVIII ganharam fôlego a partir da assinatura do Tratado de Madri (1750) e a sua análise escapa dos limites deste artigo, entretanto, para o período pós-1750 recomendo Garcia (2009). Afinal, haveria uma continuidade entre as migrações para a terra sem mal e os deslocamentos dos séculos XVI e XVII? Seria a busca da terra sem mal um fenômeno cuja recorrência dataria do início da Conquista, ou mesmo de antes dela (Nimuendaju 1987NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1987 [1914]. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp.; Métraux 1927MÉTRAUX, Alfred. 1927. “Les migrations historiques des Tupi-Guarani”. Journal de la société des Américanistes, 19:1-45.; Clastres 1978CLASTRES, Hélène. 1978 [1975]. A terra sem mal: o profetismo tupi-guarani. São Paulo: Brasiliense.; Clastres 2003CLASTRES, Pierre. 2003 [1974]. A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: Cosac & Naif.)? Se não, como interpretar os deslocamentos5 5 Utilizo o termo deslocamento em referência a qualquer movimento dos grupos no espaço. Alhures (Mendes Júnior 2021), empreguei os termos migração e mobilidade; o primeiro para me referir aos deslocamentos em busca da terra sem mal e o segundo, para aqueles orientados por relações de parentesco preestabelecidas entre grupos e pessoas que compartilhavam territórios em comum. cujos registros abundam nas fontes documentais?
Instigado a aprofundar em termos históricos e etnográficos esses deslocamentos, circunscrevi o contexto histórico e etnográfico às primeiras reduções jesuíticas fundadas em 1609 e 1610 na antiga região do Guairá:6 6 A região do Guairá fazia parte da Província Jesuítica do Paraguai e compreendia parte do atual estado do Paraná. Era delimitada ao norte pelo rio Paranapanema; ao sul, pelo rio Iguaçu; a oeste, pelo rio Paraná; e a leste, pelo rio Tibagi (Mörner 1968; Neumann 1996). Loreto e San Ignácio. O objetivo deste artigo é analisar e distinguir algumas formas de deslocamentos observadas entre os Guarani: de um lado, as migrações para a terra sem mal nos séculos XIX e XX, de outro, as expedições de guerra, pilhagens, captura de escravos, as fugas em face dos colonizadores espanhóis e bandeirantes portugueses e as atrações para as missões jesuíticas nos séculos XVI e XVII. Um exame detalhado da bibliografia, bem como dos dados provenientes desta pesquisa permite questionar a tese corrente da profundidade histórica das migrações em busca da terra sem mal e colocam outra indagação: seriam aqueles movimentos registrados a partir do século XIX também fenômenos históricos cuja gênese estaria nas transformações do modo de vida dos Guarani em face da experiência reducional?
Os Guarani e as migrações para a terra sem mal - séculos XIX e XX
Em 1914, o etnógrafo alemão Curt Nimuendaju publicou Die Sagen von der Erschaffung und Vernichtung der Welt als Grundlagen der Religion der Apapocúva-Guarani,7 7 Traduzido para o português em 1987 sob o título As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp. uma etnografia elaborada a partir do registro de quatro migrações empreendidas por subgrupos guarani (Tañygua, Oguauíva, Apapocuva) desde o sul do Mato Grosso do Sul e do Paraguai até o litoral de São Paulo. Nimuendaju conheceu os Guarani em 1905, no oeste do estado de São Paulo e entre eles viveu até 1907, numa aldeia apapocuva localizada no rio Batalha, afluente do médio Tietê. Posteriormente, esteve entre eles, ocasionalmente, até 1913.
Segundo o autor, as migrações tinham motivações “mágico-religiosas”, quando um xamã, inspirado por sonhos e visões, antevia um cataclismo gerador da destruição do mundo. Então reunia pessoas à sua volta e se propunha a conduzi-las em direção ao sol nascente (Leste), onde poderiam alcançar uma terra na qual nada pereceria, não haveria mazelas, uma terra sem mal, tradução que o autor emprestaria à expressão yvy marã e’ỹ.
A primeira dessas migrações, iniciada pelos Tañygua, teria ocorrido por volta de 1820, capitaneada por um de seus xamãs que faleceu alguns anos mais tarde. O grupo, composto por cerca de 150 pessoas, partiu, segundo Nimuendaju (1987NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1987 [1914]. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp.:9-10), do sul do Mato Grosso do Sul em direção ao Leste, em busca da terra sem mal. O seu sucessor instalou-se com o grupo, em 1837, nas proximidades de Itariri, litoral sul de São Paulo. Os Oguauíva foram os segundos a se colocar em movimento. Em 1830, nas proximidades de Itapetininga, sua caminhada enfrentaria o primeiro revés, que os obrigou a retroceder em direção oeste, estabelecendo-se nas proximidades da propriedade do barão de Antonina, no atual município de Itaporanga, em uma faixa de terra que o barão doou a eles.8 8 Note-se que em um artigo publicado na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1856, João Enrique Elliott, a serviço do então barão de Antonina, descreveu a chegada de vários índios “Cayuaz” na fazenda do barão, em 1844, e instalados numa porção de terra onde se fundaria, pouco tempo depois, uma capela em homenagem a São João Batista. A descrição de Elliott diz respeito a um grupo de Cayuaz que teria atravessado o rio Paraná pouco abaixo da barra do Ivahy. Subiram este rio até as ruínas de Vila Rica e mais tarde percorreram da comarca de Curitiba ao litoral sul de São Paulo, instalando-se finalmente na fazenda do barão de Antonina (1856:435). Barbosa (2013) foi o primeiro a notar certa incongruência entre os relatos de Elliott e de Nimuendaju. Também é instigante a forma como ele problematiza as migrações guarani no século XIX, falta-me, contudo, espaço para ampliar a discussão aqui.
O segundo revés aconteceu pouco mais tarde, quando os Oguauíva tiveram suas terras invadidas por colonos. Entretanto, a despeito do esbulho de suas terras, permaneceram neste local até 1912, quando Nimuendaju, a serviço do recém-criado Serviço de Proteção aos Índios (SPI), convenceu-os a se deslocarem para a reserva do Araribá, próximo ao município de Avaí, no estado de São Paulo.
Além dos relatos de Elliott que subsidiaram seu trabalho de reconstrução histórica dessas migrações, Nimuendaju teve a possibilidade de entrar em contato com os descendentes diretos dos grupos que as iniciaram. Diferentemente, o grupo que o acolheu como membro, os Apapocuva, iniciou sua marcha para o leste por volta de 1870, guiado por dois xamãs que também anteviam o fim do mundo. Neste caso, os relatos colhidos por Nimuendaju sobre as motivações dos seus deslocamentos foram registrados a partir das pessoas que deles tomaram parte desde o seu início. Os Apapocuva, como os demais grupos, enfrentaram a resistência das autoridades brasileiras e a opressão da população do entorno, bem como tiveram frustradas suas tentativas de alcançar o mar. Após percorrer a região do médio Tietê, este grupo também se deslocou em 1907 para o Araribá.
Em 1912, Nimuendaju encontrou, a 13 quilômetros da cidade de São Paulo, os últimos remanescentes de um grupo oriundo do Paraguai que, segundo o autor, pretendia chegar ao litoral, atravessar o mar e adentrar a terra dos imortais: seis pessoas, os últimos sobreviventes de um grupo que aos poucos pereceu pelo caminho. Nimuendaju tentou convencê-los a ir para o Araribá, mas diante de suas inúmeras recusas decidiu acompanhá-los até o litoral. Conduziu-os até a Praia Grande, onde chegaram sob forte chuva que perdurou a noite toda. Ao amanhecer, o sol apresentava o mar ao pequeno grupo que, atônito, permanecia mudo. Durante quatro dias Nimuendaju cantou e dançou com os seus companheiros, que se empenhavam em obter a passagem para a terra dos imortais. Mais uma vez, fez a proposta de se instalarem no Araribá, o que a contragosto aceitaram. Entretanto, pouco após sua chegada a essa reserva o grupo desapareceu sem deixar notícia.
Na origem de todas as migrações acima havia, segundo Nimuendaju, apenas uma causa: o medo da destruição iminente do mundo em razão de um cataclismo; e um objetivo: ingressar na terra sem mal. Categoricamente, o autor recusou a hipótese de que essa marcha rumo ao leste se “deve[sse] à pressão de tribos inimigas; tampouco à esperança de encontrar melhores condições de vida do outro lado do Paraná; ou ainda ao desejo de se unir mais intimamente à civilização” (Nimuendaju 1987:102NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1987 [1914]. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp.).
Para este autor, os registros sobre essas migrações revelavam casos particulares de um fenômeno maior. Em um esforço de generalização, propôs que a mesma motivação religiosa tivesse sido a mola propulsora dos movimentos migratórios que impeliram os Tupi,9 9 Utilizarei o termo Tupi para me referir ao conjunto de povos (Tupinambá, Tupinaés, Tupiniquim, Potiguara) que entre os séculos XVI e XVII ocuparam a região que se estende do litoral sul de São Paulo até o Maranhão. São povos linguisticamente aparentados e pertencentes ao complexo linguístico Tupi-Guarani (Combès & Saignes 1991). na época colonial, em direção à costa oriental (:108). Esta proposição fundava-se em um ethos pan tupi-guarani que associava a ocupação do litoral, principalmente de Cananeia ao Maranhão, ao desejo de encontrar uma terra sem mal do outro lado do oceano. Partindo das premissas de que em se tratando da obtenção de melhores condições de vida o interior superava o litoral, de que os grupos que ocupavam a costa tinham hábitos interioranos e que na época da Conquista a ocupação do litoral pelos Tupi era um fato recente, somente uma motivação religiosa poderia, para Nimuendaju, explicar tal presença (:107-108).
Outro autor cujos dados contribuíram para o conhecimento a respeito das migrações guarani em direção ao litoral foi Egon Schaden. Tratando especificamente da presença guarani no estado de São Paulo, fez notar que estes não remanesciam dos antigos Tupi, mas das correntes migratórias provenientes do oeste que, desde o início do século XIX, os colocavam em fuga em razão do iminente fim do mundo profetizado por seus xamãs (Schaden 1974SCHADEN, Egon. 1974 [1954]. Aspectos fundamentais da cultura guarani. São Paulo: Difel. ). Além de se referir às migrações descritas por Nimuendaju (1987NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1987 [1914]. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp.), Schaden deu notícia de outras mais recentes, originadas no Paraguai meridional nos anos 1924, 1934 e 1946, cujas pessoas se estabeleceram em duas aldeias em São Paulo: Rio Branco e Itariri. Havia também outro grupo na região de Chapecó, em Santa Catarina, com o qual o autor se deparou em 1947, cuja intenção era atingir o litoral.
Schaden, do mesmo modo que Nimuendaju, conviveu com remanescentes dessas e de outras migrações, como o nhanderu10 10 Nhanderu: onde nhande é pronome pessoal de 1ª pessoa do plural inclusivo (o interlocutor participa), “r” é epêntese, e u significa pai. É empregado para se referir às divindades, como em Nhanderu Tupã e Nhanderu ete, (Nosso Pai Tupã e Nosso Pai Verdadeiro). Em alguns grupos guarani designa também os xamãs, como nos casos citados, nos grupos que vivem no norte do Brasil e no Mato Grosso do Sul. Os grupos do litoral empregam mais frequentemente o termo opita’i va’e. Literalmente, aquele que fuma. Isto porque o cachimbo e o tabaco são os principais instrumentos de ação desses xamãs. Onde “o” é prefixo de flexão de pessoa que indica sujeito da 3ª pessoa, no singular e no plural; “pita” verbo intransitivo fumar; e “va’e” é um nominalizador (Dooley 2013). Outros termos utilizados são karai e o seu correspondente feminino kunhã karai, onde kunhã significa mulher; e pajé (mbaje, paye). Este, contudo, goza de um sentido ambíguo e refere-se antes àquele/a que pratica a feitiçaria (ver também Fausto 2005:408). Miguel, “que trouxera um grupo Mbüa [subdivisão guarani] em longa peregrinação do Paraguai até o Itariri, junto ao Oceano Atlântico” (Schaden 1974:121SCHADEN, Egon. 1974 [1954]. Aspectos fundamentais da cultura guarani. São Paulo: Difel. ). Em outra passagem, na aldeia do Bananal, no estado de São Paulo, dois informantes nascidos no litoral falaram-lhe da viagem que a geração anterior empreendeu sob a liderança do capitão Guatsu desde o Mato Grosso do Sul. Eles vieram “para ver o mar e fazer ñemongaraí11 11 Cerimônia na qual se revelam os nomes das pessoas (ver Nimuendaju 1987; Mendes Júnior 2021). na praia. Dizia-se que o mundo ia acabar. Muitos ficaram na aldeia do Alecrim, outros voltaram para o Mato Grosso. Rezavam muitos ñanderú para ver se Ñanderykeý12 12 Nome de uma das divindades guarani. Literalmente, nosso irmão mais velho, onde “r” é uma epêntese e -ike’y o termo que designa o irmão mais velho (enunciado por um homem). viria buscá-los (:169).
Os dois autores supracitados não deixam dúvidas quanto à presença constante de deslocamentos desde o oeste em direção ao leste; quanto à motivação desses deslocamentos: o medo do fim iminente do mundo; e quanto ao objetivo: alcançar a terra sem mal. O tema da busca da terra sem mal tornou-se o mito de origem da etnologia guarani.
Outro motivo que levou alguns grupos guarani, os Mbya, a se lançarem em busca de uma terra da imortalidade, segundo Schaden (1974SCHADEN, Egon. 1974 [1954]. Aspectos fundamentais da cultura guarani. São Paulo: Difel. ) e Cadogan (1959CADOGAN, Léon. 1959. “Ayvu rapyta textos míticos de los Mbyá-Guarani del Guairá”. Boletim 227. São Paulo: USP, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. pp. 1-217.), foi a busca de perfeição físico-espiritual (aguyje) obtida mediante a prática de rigorosos exercícios espirituais - cantos, danças e rezas - e de uma dieta alimentar que excluía carne e comidas de origem ocidental. Aqueles que conseguissem êxito e alcançassem esse estado, normalmente os xamãs, obteriam a revelação do caminho de acesso à terra sem mal e conduziriam os seus grupos até a beira do oceano, de onde atravessariam, de corpo e alma, para o paraíso (Cadogan 1959:143CADOGAN, Léon. 1959. “Ayvu rapyta textos míticos de los Mbyá-Guarani del Guairá”. Boletim 227. São Paulo: USP, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. pp. 1-217.).
Diferentemente de Nimuendaju e Schaden, Cadogan não baseou seu trabalho na experiência de pessoas que tivessem tomado parte de migrações ou que delas fossem descendentes. Seu trabalho estava fundamentado no registro de cantos e mitos sagrados entre os Mbya do atual departamento de Guairá, no Paraguai meridional. O autor tomou essa mitologia para propor, ao contrário de Nimuendaju (1987)NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1987 [1914]. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp., que os deslocamentos de que ela dava conta foram conduzidos por xamãs obtentores do estado de perfectibilidade que “aferravam-se à sua religião, língua e tradições, e os desesperados esforços que realizaram para subtrair à dominação espanhola e à assimilação” (Cadogan, 1959:144CADOGAN, Léon. 1959. “Ayvu rapyta textos míticos de los Mbyá-Guarani del Guairá”. Boletim 227. São Paulo: USP, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. pp. 1-217.). O autor completou ainda que tais xamãs “conduziam suas respectivas tribos em um êxodo em direção ao mar a fim de salvá-las de dita dominação” (:144-145). O medo da cataclismologia não estava presente entre os grupos com os quais o autor trabalhou.
Comparando-se os trabalhos de Nimuendaju e Cadogan, verifica-se que o segundo insinuou uma correlação entre migração e a dominação espanhola, que Nimuendaju rejeitou categoricamente afirmando que a motivação dos grupos estudados era isenta de quaisquer influências exógenas. Esta, no entanto, não era a opinião de Egon Schaden, para quem o tema do fim do mundo na cosmologia guarani era um arremedo de cristianismo missioneiro.
Uma etnologia do século XX sobre os Guarani e Tupi
Em um quadro mais amplo da etnologia tupi-guarani colonial, o trabalho de Nimuendaju exerceu influência sobre o etnólogo francês Alfred Métraux. Conforme apontado anteriormente, Nimuendaju havia sugerido que as migrações empreendidas pelos antigos Tupi e registradas pelos cronistas tinham motivações religiosas. Mesma motivação que - segundo Métraux (1927)MÉTRAUX, Alfred. 1927. “Les migrations historiques des Tupi-Guarani”. Journal de la société des Américanistes, 19:1-45., baseado nos relatos dos capuchinhos Claude d’Abbeville e Yves d’Evreux - motivou um grupo tupinambá a se deslocar por volta de 1609.13 13 “Durante uma de suas viagens, provavelmente em 1609, o oficial francês la Ravardière encontrou próximo da ilha de Santana os Potiguara de Pernambuco que tinham abandonado seu país para conquistar o Paraíso terrestre” (Métraux 1927:15, tradução nossa). Entretanto, somente desta se depreende tal motivo, pois, dentre as várias migrações analisadas pelo autor, quase todas eram marcadas pela fuga em face do conquistador português; e, de outra, ocorrida em 1605 em direção ao Maranhão, em que os motivos foram a pilhagem e o butim.
A influência do trabalho de Nimuendaju sobre Métraux é de ordem metodológica, pois este retomou as migrações de Nimuendaju para propor que elas “seriam suscetíveis de tornar mais bem compreendidas as características e as causas do êxodo dos outros guarani” (Métraux 1927:13MÉTRAUX, Alfred. 1927. “Les migrations historiques des Tupi-Guarani”. Journal de la société des Américanistes, 19:1-45.). A despeito de suas fontes não o autorizarem, Métraux afirmou que “a maneira como se produziu o êxodo dos Apapocuva e os obstáculos que eles tiveram que superar podem nos dar uma ideia aproximada do que devem ter sido as antigas migrações dos Tupi-Guarani” (:14).
O autor retoma a hipótese aventada por Nimuendaju - que a ocupação da costa pelos antigos Tupi entre os períodos pré e pós-Conquista tivesse motivação religiosa análoga às que se produziram entre os Guarani do século XIX - para afirmar que a migração de 1609 dos Tupinambá, tal como registrada pelos missionários capuchinhos, oferecia uma base sólida de apoio à tese de Nimuendaju.
Conforme observaram Viveiros de Castro (1987:xxvi)VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1987. “Nimuendaju e os Guarani”. In: Curt Unkel Nimuendaju, As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani.São Paulo: Hucitec/Edusp. e Pompa (2004:141)POMPA, Cristina. 2004. “O profetismo tupi-guarani: a construção de um objeto antropológico”. Revista de Indias, 64:141-174., a etnografia de Nimuendaju trouxe para a etnologia o tema das migrações em busca da terra sem mal. Pode-se afirmar ainda que sua principal consequência foi instituir os marcos da etnologia guarani ao longo do século XX. Constata-se tal afirmação tanto na influência exercida sobre os etnólogos da segunda metade do século XX quanto sobre Métraux (1927MÉTRAUX, Alfred. 1927. “Les migrations historiques des Tupi-Guarani”. Journal de la société des Américanistes, 19:1-45.) para o contexto tupi. Nimuendaju e Métraux estavam preocupados em estabelecer correlações entre as migrações recentes e aquelas do início da Conquista fundadas, sobretudo, em motivos religiosos. Correlações estas da qual se valeu o segundo para propor uma teoria mais geral sobre os fundamentos dos deslocamentos históricos tupi-guarani. Métraux propôs utilizar o que se sabia sobre as migrações guarani de seu tempo para lançar luz sobre o que não se sabia sobre as migrações pretéritas, e que o que se sabia sobre as migrações tupi preencheria as lacunas das primeiras migrações guarani. Segundo Pompa, Métraux pressupôs que os deslocamentos tupi e guarani formavam um corpo homogêneo.14 14 “Pelas semelhanças que apresentam os dois conjuntos culturais (o tupinambá do litoral da época colonial, observado pelos cronistas, e o guarani do Paraguai e sul do Brasil, registrado pelos etnógrafos na primeira metade deste século), eles foram identificados como um único ‘sistema’ tupi-guaraní. […] Com base nesta identificação, o ‘mito da Terra sem Mal’ e o consequente ‘messianismo’ foram definidos em geral como um conjunto cosmológico intrínseco à cultura tupi-guarani como um todo” (Pompa 2004:142).
O que nem Nimuendaju e nem Métraux pareciam admitir era que esses dois complexos culturais estiveram sujeitos às vicissitudes históricas responsáveis por transformações internas.15 15 A prática jesuítica na Província do Paraguai se afasta em muitos pontos daquela ocorrida na colônia portuguesa. Na América espanhola, os jesuítas - ao contrário de seus colegas no Brasil e cujos trabalhos em muito favoreceram a política colonial (Castelnau-L’Estoile 2000) - se empenharam em manter isolados os grupos que lograram reduzir (Haubert 1990; Mörner 1968). Não obstante, Métraux reconheceu em sua conclusão “que essas migrações foram motivadas, umas pelo desejo de escapar à servidão que os portugueses buscavam impor aos índios, outras, pela crença obstinada dos Tupi-Guarani na existência de um Paraíso terrestre situado seja do outro lado do mar, a leste, seja no interior, a oeste” (Métraux 1927:36MÉTRAUX, Alfred. 1927. “Les migrations historiques des Tupi-Guarani”. Journal de la société des Américanistes, 19:1-45.).
No florescer da etnologia guaranítica, os desenvolvimentos trazidos por Nimuendaju, Métraux, Schaden e Cadogan imprimiriam suas marcas nos trabalhos de outros dois etnólogos: Pierre e Hélène Clastres. Em A sociedade contra o Estado, o primeiro retomou o tema das migrações para a terra sem mal entre os Tupi-Guarani dos séculos XV e XVI, a fim de solucionar o problema da não emergência do Poder e do seu corolário, o Estado, nas sociedades ditas primitivas. Como mostrou o autor, nessas sociedades o Poder está dissociado da chefia e o chefe tinha sua legitimidade fundamentada no prestígio conquistado pelos dons da oratória, da generosidade e da capacidade de conciliação.
Clastres revisitou os deslocamentos tupi-guarani sistematizados por Métraux e aqueles registrados pelos cronistas para propor que suas motivações eram distintas: nem o medo da destruição do mundo, nem a busca da perfeição físico-espiritual, mas a negação do Poder centralizado e da emergência do chefe com poder, o déspota, como embrião do aparato político estatal. Poder e Estado caminhavam, segundo o autor, pari-passu com o tamanho populacional das sociedades e um dos fatores que favoreciam a ocorrência da chefia indígena “tradicional” era o reduzido tamanho populacional daquelas sociedades (2003:229CLASTRES, Pierre. 2003 [1974]. A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: Cosac & Naif.). Os Tupi do início da Conquista quando comparados ao “modelo primitivo habitual” discrepavam fortemente, pois, segundo o autor, apresentavam elevada taxa de densidade demográfica. “As aldeias tupinambá, por exemplo, que reuniam vários milhares de habitantes, não eram cidades; mas deixavam igualmente de pertencer ao horizonte ‘clássico’ da dimensão demográfica das sociedades vizinhas” (:230). Elas davam lugar à emergência de chefes que estavam a meio caminho entre o déspota e o chefe sem poder (:230CLASTRES, Pierre. 2003 [1974]. A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: Cosac & Naif.).
É neste contexto de surgimento de um Poder embrionário, e nas palavras de Clastres, “num sobressalto da própria sociedade enquanto sociedade primitiva, um sobressalto, uma sublevação de alguma forma dirigida, se não explicitamente contra as chefias, ao menos, por seus efeitos destruidores do poder dos chefes” (:231CLASTRES, Pierre. 2003 [1974]. A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: Cosac & Naif.), que os movimentos migratórios teriam irrompido nessas sociedades. Em sua origem encontravam-se os karai, xamãs, também detentores de prestígio, que conclamavam o maior número de pessoas a segui-los em busca de uma terra indestrutível a fim de escaparem do que era reconhecidamente a destruição da sociedade: a instauração do Poder (:231CLASTRES, Pierre. 2003 [1974]. A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: Cosac & Naif.).
Convencimento exercido, como na chefia indígena, pelo uso da palavra que afirmava a necessidade de se escapar da condenação da sociedade primitiva, da destruição mediante a iminente instituição do Poder centralizado e do Estado. O mal, para Clastres, emerge de dentro da sociedade, uma sociedade que não encontrou os próprios meios para conter o surgimento deste Poder e, por isso, impulsionava a busca por um lugar onde valesse a pena viver. Clastres afasta-se de Nimuendaju (1987)NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1987 [1914]. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp., para quem o mal provinha do exterior.
Hélène Clastres (1978CLASTRES, Hélène. 1978 [1975]. A terra sem mal: o profetismo tupi-guarani. São Paulo: Brasiliense.), assim como Pierre Clastres (2003)CLASTRES, Pierre. 2003 [1974]. A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: Cosac & Naif. e Métraux (1927MÉTRAUX, Alfred. 1927. “Les migrations historiques des Tupi-Guarani”. Journal de la société des Américanistes, 19:1-45.), utilizou o tema da busca pela terra sem mal para estabelecer uma linha que permitisse correlacionar os antigos Tupi da costa e os Guarani estudados por Nimuendaju (1987NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1987 [1914]. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp.) e Cadogan (1959CADOGAN, Léon. 1959. “Ayvu rapyta textos míticos de los Mbyá-Guarani del Guairá”. Boletim 227. São Paulo: USP, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. pp. 1-217.). Segundo a autora, a despeito do negligenciamento do tema pelos cronistas devido a um processo de redução das concepções indígenas ao entendimento europeu, para os Tupi, “[...] a terra sem mal também era um lugar acessível aos vivos, aonde era possível, ‘sem passar pela prova da morte’, ir de corpo e alma” (Clastres 1978:31, grifos da autoraCLASTRES, Hélène. 1978 [1975]. A terra sem mal: o profetismo tupi-guarani. São Paulo: Brasiliense.). Conforme os demais autores, associou os movimentos migratórios à ação de xamãs que reuniam em seu entorno um grupo maior ou menor de pessoas que, entre cantos e rituais, partiam em fuga da destruição iminente do mundo.
Hélène Clastres acreditava que há tempo haviam se encerrado os ciclos de migrações e que se a terra sem mal permanecia no discurso dos Guarani era, portanto, como um objeto de especulação: “objeto outrora de uma procura real, a terra sem mal tornou-se objeto de especulação; de homens de ação que eram, os profetas se fizeram pensadores” (:85). Opinião também compartilhada por Pierre Clastres, para quem os atuais xamãs guarani, ao questionarem a má condição do mundo, não faziam outra coisa senão “se obstinar[em] pateticamente em repetir o discurso dos profetas de outros tempos (Clastres 2003:232CLASTRES, Pierre. 2003 [1974]. A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: Cosac & Naif.).
O trabalho de Hélène Clastres é fortemente marcado pelas exegeses de Cadogan dos cantos e mitos guarani. Uma dessas glosas, encontrada entre os Mbya no Paraguai meridional, na década de 1940, é Onhemokandire:16 16 Expressão composta por “o” (cf. nota 11) + “nhe” partícula reflexiva + “mo” partícula causativa. O que poderia ser traduzido como “ele se fez kandire”. “com essa locução descrevem o trânsito da imortalidade sem passar pela prova da morte, isto é, a ascensão ao céu depois de purificar o corpo mediante os exercícios espirituais” (Cadogan 1959:59CADOGAN, Léon. 1959. “Ayvu rapyta textos míticos de los Mbyá-Guarani del Guairá”. Boletim 227. São Paulo: USP, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. pp. 1-217.). Aqui, a autora recupera a interpretação de Cadogan para aproximar a passagem à terra sem mal e as expedições chiriguano ao sopé dos Andes, no início do século XVI. Clastres, claramente, retoma a partir do trabalho de Métraux (1927MÉTRAUX, Alfred. 1927. “Les migrations historiques des Tupi-Guarani”. Journal de la société des Américanistes, 19:1-45.) os dados apresentados por Nordenskiöld (1917NORDENSKIÖLD, Erland. 1917. “The Guarani invasion of the Inca empire in the sixteenth century: an historical Indian migration”. The Geographical Review, IV:103-121.).
As análises em torno do tema das migrações em busca da terra sem mal ao longo do século XX permitem duas observações: primeira, tratando-se dos Guarani, Nimuendaju (1987NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1987 [1914]. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp.) e Schaden (1974SCHADEN, Egon. 1974 [1954]. Aspectos fundamentais da cultura guarani. São Paulo: Difel. ) registraram relatos diretos de grupos que empreenderam longas migrações com o objetivo de alcançá-la. Estas, desde o início do século XIX até meados do século XX, teriam como motivação escapar do fim iminente do mundo, ambos, ou a busca de perfeição físico-espiritual, o segundo. A Schaden se juntou Cadogan (1959CADOGAN, Léon. 1959. “Ayvu rapyta textos míticos de los Mbyá-Guarani del Guairá”. Boletim 227. São Paulo: USP, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. pp. 1-217.), para quem o tema da terra sem mal emergiu a partir dos relatos míticos de seus interlocutores.
Segunda, os registros dos cronistas trazidos por Métraux (1927MÉTRAUX, Alfred. 1927. “Les migrations historiques des Tupi-Guarani”. Journal de la société des Américanistes, 19:1-45.) e seguidos por Hélène Clastres (1978CLASTRES, Hélène. 1978 [1975]. A terra sem mal: o profetismo tupi-guarani. São Paulo: Brasiliense.) e Pierre Clastres (2003)CLASTRES, Pierre. 2003 [1974]. A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: Cosac & Naif. dão conta de inúmeros grupos tupi se deslocando ao longo da costa brasileira, motivados ora pela fuga em face do colonizador português (Métraux 1927MÉTRAUX, Alfred. 1927. “Les migrations historiques des Tupi-Guarani”. Journal de la société des Américanistes, 19:1-45.), ora pelo medo do iminente fim do mundo (Clastres 1978CLASTRES, Hélène. 1978 [1975]. A terra sem mal: o profetismo tupi-guarani. São Paulo: Brasiliense.; Métraux 1927MÉTRAUX, Alfred. 1927. “Les migrations historiques des Tupi-Guarani”. Journal de la société des Américanistes, 19:1-45.; Nimuendaju 1987NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1987 [1914]. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp.), ora ainda pela tentadora emergência do Estado travestido no fantasma do Poder centralizado (Clastres 2003CLASTRES, Pierre. 2003 [1974]. A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: Cosac & Naif.). Mas, pode-se perguntar, estariam esses homens e essas mulheres a marchar sobre a terra acossados pela constante necessidade de fuga? Se é verdade que todas essas circunstâncias pesavam contra eles, que eram impelidos, desde prisco tempo, a buscar uma terra sem mal, não restam dúvidas de que a imagem que o casal Clastres e Nimuendaju projetaram sobre os Tupi e os Guarani faz crer que realmente “os Guarani sempre foram a parte sofredora”17 17 Nesta mesma passagem, Nimuendaju indagou: “De onde, portanto, este pessimismo? Em primeiro lugar, poder-se-ia supor que os Guarani, antes mesmo da chegada dos europeus, carregavam o germe da decadência e da morte da raça, e aquele traço de caráter seria um reflexo desse estado” (Nimuendaju 1987:131). (Nimuendaju 1987:131NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1987 [1914]. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp.).
Sabe-se, portanto, que os Guarani e os Tupi se deslocavam. A questão é, diferentemente do que propuseram esses autores, que nem as motivações, nem os objetivos foram sempre os mesmos. Que os Tupi tenham chegado ao litoral por motivos religiosos, como propôs Nimuendaju (1987NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1987 [1914]. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp.:108), seguido pelos demais autores, é algo que nem as crônicas e nem as fontes autorizam afirmar. Hipótese que há tempo vem sendo refutada pela etnologia, como observou Viveiros de Castro: “Nimuendaju parece se equivocar, como quando, à força de querer demonstrar que a ocupação do litoral atlântico pelos Tupi se devera a fatores religiosos (demanda do paraíso), afirma que aqueles povos costeiros dependiam mais da caça do que da exploração de recursos marinhos” (1987:xxiiVIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1987. “Nimuendaju e os Guarani”. In: Curt Unkel Nimuendaju, As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani.São Paulo: Hucitec/Edusp.). Também Melià (1981MELIÀ, Bartomeu. 1981. “‘El modo de ser’ Guarani en la primera documentación jesuítica (1594-1639)”. Revista de Antropologia, 24:1-24.:10) ponderou acerca da hipóstase que, segundo os antropólogos, os Guarani fariam do tema da busca da terra sem mal. Em seu exame da primeira documentação jesuítica, o autor afirmou que o aspecto migratório, tão documentado a partir do século XIX, não aparecia claramente nos textos históricos analisados por ele. Neste mesmo sentido, Fausto (2005FAUSTO, Carlos. 2005. “Se deus fosse jaguar: canibalismo e cristianismo entre os Guarani (séculos XVI-XX)”. Mana, v. 11, n. 2:385-418.:408) criticou o achatamento temporal e espacial dos deslocamentos tupi e guarani utilizados como evidência de continuidade; práxis que se tornaria uma das fragilidades na etnologia guarani.
Desafios às interpretações dos deslocamentos guarani
Iniciei este artigo com um diálogo entre mim e o senhor Albino sobre sua partida desde o Paraguai. Ele era o último sobrevivente daquelas pessoas que na década de 1930 iniciaram esse deslocamento. Então, quando lhe perguntei o porquê de eles saírem do Paraguai, sua resposta foi:
Do outro lado do [rio] Paraguai os mais velhos vieram então nós viemos nosso cacique nos trouxe para nos levar à terra áurea nosso cacique nos levaria por essa terra aqui, por esta aqui, à terra áurea nos levaria, ele queria nos levar 18 18 Paraguai rovai kue’i tuja kue ou/ ha’e gui roju/ ore cacique rogueru karã/ rogueraa haguã yvy ju py/ orecacique rogueraa va’ekue yvy apy py, kova’e apy py, akaty yvyju py/ rogueraa va’e kue, rogueraa xe.Sua resposta era precisa. Buscavam a terra áurea, o paraíso da imortalidade, e faziam isso exatamente em um momento em que a guerra do Chaco recrutava e consumia um grande contingente indígena no Paraguai e na Bolívia. A cunhada de Albino, Benedita, trazia na memória as histórias de seu pai, há muito falecido, do tempo em que ele levava água para os soldados paraguaios nas trincheiras. A guerra era o fim do mundo. Buscaram fugir dessa destruição por uma rota insólita, até o falecimento de seu último xamã. A partir de então, essa ausência teve como principais consequências: o abandono do plano inicial, dada a incapacidade dos demais membros de conduzirem os remanescentes e, por conseguinte, a sua dispersão em unidades menores (Mendes Júnior 2018MENDES JÚNIOR, Rafael Fernandes. 2018. “Os Mbya desceram o Araguaia: parentesco e dispersão”. In: Dominique Tilkin Gollois & Valéria Macedo (orgs.), Nas Redes Guarani: Saberes, traduções, transformações. São Paulo: Hedra. pp. 339-360., 2021MENDES JÚNIOR, Rafael Fernandes. 2021. A terra sem mal: uma saga guarani. Rio de Janeiro: EdURFJ.). Estas, em ondas sucessivas, desceram o rio Araguaia, estabelecendo-se nas imediações de algumas cidades no Mato Grosso, e junto aos índios karajá, na ilha do Bananal. Num segundo momento, se espalharam ao longo do interflúvio Araguaia-Tocantins, desconhecendo o paradeiro umas das outras, pelo menos até o final da década de 1970.
A centralidade da figura do xamã em conduzir o grupo apareceu novamente na fala de outro interlocutor, Abílio Karai, durante uma conversa na aldeia Nova Jacundá, no Pará. Abílio, de cerca de 80 anos, era questionado por seu sobrinho (filho de seu irmão), Leonardo, do porquê de não terem permanecido em Goiás ou voltado ao Paraguai. Mais uma resposta precisa: “o nosso cacique19 19 O termo cacique foi utilizado em documentos coloniais desde o final do século XVI para designar os chefes de grupos locais e nem sempre coincidiam com a figura dos xamãs. Entretanto, na fala de meu interlocutor, o cacique e o xamã eram a mesma pessoa. morreu, nós não sabíamos mais para onde ir, não tínhamos mais aquela pessoa para guiar a gente. Não sabíamos mais por onde nós iríamos; nós espalhamos” (24/06/2013).
Procurei caracterizar cada um desses deslocamentos de forma distinta: o primeiro, ocorrido entre as décadas de 1930 e 1960, era uma migração para a terra sem mal tal como aquelas registradas por Nimuendaju. Diferença significativa foi a substituição do motivo cataclismológico pelo da guerra; as demais caraterísticas estavam presentes: a condução por um xamã e o desejo de alcançar uma terra de imortais situada, conforme parte da tradição, do outro lado do oceano (sobre o conhecimento xamânico necessário à condução desses deslocamentos, ver também Combès e Saignes 1991COMBÈS, Isabelle & SAIGNES, Thierry. 1991. Alter ego: naissance de l’identité chiriguano. Paris: Ed. de l’Ecole des hautes études em sciences sociales.:27). Opinião majoritária entre meus interlocutores, esta migração terminou após a morte do último xamã.
O segundo deslocamento denominei mobilidade, uma vez que a afirmação mais recorrente foi a de que, após a partida do primeiro grupo desde as margens do rio Araguaia, os demais seguiram em busca dos parentes que se deslocavam à frente. Este tipo de deslocamento aproxima-se mais daqueles observados entre os Guarani contemporâneos no sul e sudeste do Brasil, cuja dinâmica se baseia em uma rede de parentesco dispersa por um socius multilocal (Pissolato 2007PISSOLATO, Elizabeth. 2007. A duração da pessoa: mobilidade, parentesco e xamanismo mbya (guarani). São Paulo: Unesp.), e que alguns autores denominaram mobilidade (Garlet 1997GARLET, Ivori José. 1997. Mobilidade Mbya: História e Significação. Dissertação de Mestrado em História, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.; Pissolato 2007PISSOLATO, Elizabeth. 2007. A duração da pessoa: mobilidade, parentesco e xamanismo mbya (guarani). São Paulo: Unesp.).
Nota-se, portanto, tanto a recorrência do tema da busca da terra sem mal e suas variações motivacionais quanto outros temas, como a busca de parentes para a interpretação dos deslocamentos. Sucessivas às suas chegadas à ilha do Bananal foram também as suas partidas e, apesar de não serem muito claras as razões que levaram o primeiro grupo a sair daquele posto, são precisas as dos demais (Mendes Júnior, 2018MENDES JÚNIOR, Rafael Fernandes. 2018. “Os Mbya desceram o Araguaia: parentesco e dispersão”. In: Dominique Tilkin Gollois & Valéria Macedo (orgs.), Nas Redes Guarani: Saberes, traduções, transformações. São Paulo: Hedra. pp. 339-360., 2021MENDES JÚNIOR, Rafael Fernandes. 2021. A terra sem mal: uma saga guarani. Rio de Janeiro: EdURFJ.). O terceiro grupo, após percorrer o interflúvio Araguaia-Tocantins, encontrou o primeiro nas proximidades de Imperatriz, no Maranhão, no final da década de 1970.
O contexto etnográfico acima exposto revela dois sentidos para os deslocamentos. Não seria legítimo supor que diversos devem ter sido os motivos que impeliram os Guarani ao longo de sua experiência com a sociedade colonial? Conforme Pompa, não devemos buscar deduzir os motivos e os objetivos de cada deslocamento, pretérito ou atual, a partir “[d]a leitura e [d]o estudo pontuais dos fatos etnográficos e históricos”? (2004:142POMPA, Cristina. 2004. “O profetismo tupi-guarani: a construção de um objeto antropológico”. Revista de Indias, 64:141-174.), mediante um levantamento exaustivo empreendido, sempre que possível, em conjunto com as pessoas que deles participaram ou a partir das fontes documentais disponíveis.
Esse exercício evitaria análises que pretendem reduzir os deslocamentos registrados para os Tupi e os Guarani coloniais aos verificados entre os Guarani contemporâneos e vice-versa. Ainda aqui é necessário deixar claro que esses deslocamentos guarani e tupi coloniais não formam um bloco homogêneo, algo que os trabalhos de autores antigos (Nordenskiöld 1917NORDENSKIÖLD, Erland. 1917. “The Guarani invasion of the Inca empire in the sixteenth century: an historical Indian migration”. The Geographical Review, IV:103-121.) e recentes (Combès & Signes 1991COMBÈS, Isabelle & SAIGNES, Thierry. 1991. Alter ego: naissance de l’identité chiriguano. Paris: Ed. de l’Ecole des hautes études em sciences sociales.; Julien 2007JULIEN, Catherine. 2007. “Kandire in real time and space: Sixteenth-Century expeditions from the Pantanal to the Andes”. Ethnohistory, 54 (2):245-272.; Mendes Júnior 2021MENDES JÚNIOR, Rafael Fernandes. 2021. A terra sem mal: uma saga guarani. Rio de Janeiro: EdURFJ.) deixaram claro.
Três anos após a etnografia de Nimuendaju, Nordenskiöld (1917NORDENSKIÖLD, Erland. 1917. “The Guarani invasion of the Inca empire in the sixteenth century: an historical Indian migration”. The Geographical Review, IV:103-121.) tratou do que se sabe ser o primeiro deslocamento, historicamente documentado, empreendido por grupos guarani em direção ao Império Inca.20 20 Para um estudo detalhado da expansão dos Chiriguano em direção ao Império Inca recomendo o trabalho de Combès e Saignes (1991). Os relatos em que se baseou o autor provêm sobretudo dos escritos de Rui Diaz de Guzmán, Nuflo de Chaves e Francisco Ortiz Vergara.21 21 Rui Diaz de Guzmán, tenente de governador no Guairá entre 1594 e 1596, e em Santiago de Xerez entre 1596 e 1599, foi o primeiro historiador crioulo da América Meridional (Cortesão 1951:78). Nuflo de Chaves, explorador espanhol integrante da expedição de Cabeza de Vaca entre 1541 e 1542. Ortiz Vergara, explorador espanhol, que substituiu Domingos Martinez de Irala, após a sua morte em 1557, como governador do Rio de la Plata, sendo destituído em 1567. Esse deslocamento teria ocorrido no início da década de 1530,22 22 Nordenskiöld aponta o ano de 1526 como data dessa expedição, mas tal fato parece duvidoso, pois Martim Afonso de Souza partiu de Lisboa em direção ao Brasil somente em 03 de dezembro de 1530. quando o português Aleixo Garcia e sua comitiva - composta por outros três portugueses e índios tupi da costa, seguindo ordens de Martin Afonso de Souza - chegaram ao rio Paraguai com o objetivo de descobrir minas de ouro e prata no interior do continente. Na região onde seria fundada Assunção persuadiu cerca de 2 mil índios guarani a segui-lo até as fronteiras do Império Inca e de lá retornaram com um butim de ouro e prata. Aleixo Garcia enviou dois emissários ao Brasil para dar conta da descoberta enquanto aguardava junto aos Guarani.
Nesse intervalo os Guarani mataram Aleixo Garcia e os membros de sua comitiva, poupando apenas o filho deste. Do Brasil foi enviada uma expedição composta por 60 soldados, que também foi morta pelos Guarani entre os rios Paraná e Paraguai; eles, em seguida, partiram em direção à província de Santa Cruz, onde “empreenderam uma guerra sangrenta contra os habitantes locais e fizeram numerosos escravos”23 23 O uso da expressão “escravo” na literatura colonial é ainda controverso. Segundo Santos-Granero (2009:48-49), à exceção dos Kalinago e Conibo - onde aos cativos de guerra eram impostos uma forma de servidão - na maioria do continente tais escravos se referem àqueles cativos transformados em afins (mulheres) ou adotados (crianças). Outro fato notável era a prática, a partir do final do século XVI, entre os Chiriguano, de vender cativos como escravos aos espanhóis (Combès e Saignes 1991:65). (Nordenskiöld 1917NORDENSKIÖLD, Erland. 1917. “The Guarani invasion of the Inca empire in the sixteenth century: an historical Indian migration”. The Geographical Review, IV:103-121.: 106, tradução nossa).
Os escritos de Nuflo de Chaves - referidos aqui a partir de Nordesnkiöld (1917)NORDENSKIÖLD, Erland. 1917. “The Guarani invasion of the Inca empire in the sixteenth century: an historical Indian migration”. The Geographical Review, IV:103-121. - davam pistas de uma expedição de grupos Guarani (Chiriguano e Guaraio24 24 Segundo Combès e Saignes os Guaraio são remanescentes de grupos guarani (Itatim) fragmentados por pressões portuguesas e espanholas a partir da segunda metade do século XVII (1991:32). ) para Oeste. Este explorador obteve o relato de um chefe chiriguano, de nome Bambaguazú, a respeito das lutas entre estes e os Candire - “os índios das montanhas” - segundo Nordenskiöld (:114). Outro relato do qual se valeu Nordenskiöld foi o de Ortiz Vergara. Este, em 1565 percorreu desde o rio Paraguai à sede antiga de Santa Cruz de la Sierra, “cruzando áreas que foram abandonadas pelos habitantes originários por medo dos Guarani” (:115, tradução nossa).
Publicado entre os escritos de Nimuendaju e de Métraux, o estudo de Nordenskiöld foi a primeira contraposição às hipóteses discutidas anteriormente a respeito dos deslocamentos guarani, principalmente àquelas de Nimuendaju e, mais tarde, do casal Clastres, que estabeleciam um fio condutor entre os deslocamentos guarani dos séculos XIX e XX e tupi do período colonial a partir da busca da terra sem mal. Embora subutilizado por vários especialistas dos Guarani, Nordenskiöld, por um lado, reuniu novos elementos para se analisar os primeiros deslocamentos guarani - praticar a guerra, pilhagens e obtenção de “escravos” - e, por outro, contribuiu para que autores recentes (Julien 2007JULIEN, Catherine. 2007. “Kandire in real time and space: Sixteenth-Century expeditions from the Pantanal to the Andes”. Ethnohistory, 54 (2):245-272.) discutissem temas que a etnologia guarani clássica (Cadogan 1959CADOGAN, Léon. 1959. “Ayvu rapyta textos míticos de los Mbyá-Guarani del Guairá”. Boletim 227. São Paulo: USP, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. pp. 1-217.; Clastres 1978CLASTRES, Hélène. 1978 [1975]. A terra sem mal: o profetismo tupi-guarani. São Paulo: Brasiliense.) consolidou sobre bases frágeis.25 25 Os ensaios do casal Clastres, apontaram Melià et al (1987:53), “são construídos sobre dados muito fragmentários e seletivos, citados de modo geral e nada científico, tanto no que se refere à leitura das fontes históricas como à utilização de dados empíricos de segunda mão”. Opinião compartilhada por Descola e Taylor: “o estatuto dos trabalhos de Pierre Clastres não é menos paradoxal […]: A sociedade contra o Estado é a primeira obra do americanismo tropical que teve um impacto muito grande sobre o conjunto da disciplina, e mesmo muito além, pois ela propunha um paradigma ou um conjunto de postulados de porte muito geral. Pela primeira vez, os materiais etnográficos oriundos das terras baixas sul-americanas alimentavam diretamente uma hipótese potente sobre a natureza das relações sociais. Porém, novamente, a relação entre etnografia e teoria se via falseada, pois os Selvagens que Clastres apresenta não são mais os Guayaki, ou os Índios do Chaco, ou tal sociedade particular, mas antes uma construção híbrida sobre a qual se projetou uma teoria do laço social. Trajetória inspirada pela filosofia política clássica que se apresentava aos olhos dos não especialistas como uma teoria etnológica ortodoxa” (Descola e Taylor 1993:20).
Um desse temas é a imortalidade: condição daqueles que alcançassem a terra áurea “sem solução de continuidade [...] sem passar pela prova da morte: onhemonkandire” (Clastres 1978CLASTRES, Hélène. 1978 [1975]. A terra sem mal: o profetismo tupi-guarani. São Paulo: Brasiliense.:89). Seguindo a etimologia apresentada na nota 17, podemos concordar que para Hélène Clastres “fazer-se kandire” é não dissolver a continuidade entre uma vida nesta terra e outra na terra áurea, portanto, atravessar para o paraíso com o mesmo corpo terreno. Clastres recupera uma etmologia proposta por Cadogan em que kandire seria uma “apócope de kã = ossos, ndikuéri = se mantêm frescos” (1959CADOGAN, Léon. 1959. “Ayvu rapyta textos míticos de los Mbyá-Guarani del Guairá”. Boletim 227. São Paulo: USP, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. pp. 1-217.:59, tradução nossa). Combès e Saignes oferecem outra interpretação que associa a guerra e o canibalismo ao acesso à terra sem mal entre os Tupinambá. Para os autores, ela era o destino póstumo dos grandes guerreiros, que no círculo da guerra e do canibalismo passavam de matadores a vítimas. O guerreiro “devorado ritualmente, não era mais do que ‘ossos frescos’ ka-ndicueri” (1991:24COMBÈS, Isabelle & SAIGNES, Thierry. 1991. Alter ego: naissance de l’identité chiriguano. Paris: Ed. de l’Ecole des hautes études em sciences sociales.). Diferentemente do destino póstumo do guerreiro tupinambá, Combès e Saignes apontam que contemporaneamente kandire designa tanto a técnica de acesso à terra sem mal quanto o processo de tornar o corpo leve.
Cadogan e Clastres tinham consciência de que o termo kandire designou na época da Conquista uma “nação não-guarani” (1959:59CADOGAN, Léon. 1959. “Ayvu rapyta textos míticos de los Mbyá-Guarani del Guairá”. Boletim 227. São Paulo: USP, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. pp. 1-217.), localizada a oeste do rio Grande ou Guapay, próximo a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ainda assim, Clastres insiste que os deslocamentos “chiriguanos aos pés dos Andes [estavam] “ligad[os] à procura da terra sem mal” (1978:31CLASTRES, Hélène. 1978 [1975]. A terra sem mal: o profetismo tupi-guarani. São Paulo: Brasiliense.)26 26 Segundo Combès e Saignes “[no] século XVI, “Candire” designava o nome da terra sem mal dos Chiriguano e dos Guarayo (1991:24). . Sugestão, apressadamente, associada ao nome “Candire, que como notou a autora, os Chiriguano deram ao Império Inca.
As interpretações de Cadogan, ratificadas por Clastres, gozaram de certo prestígio na etnologia Guarani. Talvez isso se deva ao pouco investimento dos etnólogos nas fontes documentais. Essa, no entanto, é uma tendência que com o passar dos anos vem se transformando (Wilde, 2009, Barbosa, 2013BARBOSA, Pablo Antunha. 2013. “A ‘Terra sem mal’ de Curt Nimuendaju e a ‘Emigração dos Cayuáz’ de João Henrique Elliott. Notas sobre as ‘migrações’ guarani no século XIX”. Tellus, v. 13, n. 24:121-158., Julien, 2007JULIEN, Catherine. 2007. “Kandire in real time and space: Sixteenth-Century expeditions from the Pantanal to the Andes”. Ethnohistory, 54 (2):245-272., Orantin 2021ORANTIN, Mickaël. 2021. La cloche, le rabot et la houe. Fragments d’un quotidien de travail dans les missions jésuites du Paraguay (1714?). Paris: Presses de l’Inalco (Amériques).). Tratando-se do termo kandire e de sua relação com o tema da terra sem mal, um estudo de Catherine Julien (2007:247)JULIEN, Catherine. 2007. “Kandire in real time and space: Sixteenth-Century expeditions from the Pantanal to the Andes”. Ethnohistory, 54 (2):245-272. questionou o seu uso pela literatura antropológica.
A antropologia privilegiou, segundo a autora e como vimos anteriormente, a abordagem das primeiras expedições sob a égide da busca da terra sem mal e deixou de lado os significados encontrados nas fontes documentais que as correlacionavam a contextos específicos. A documentação analisada por Julien foi produzida durante três expedições que os espanhóis, partindo de Assunção, empreenderam em companhia dos Guarani pelo rio Paraguai até o Pantanal: 1542-1543, conduzida por Domingos de Irala; 1543-1544, conduzida por Cabeza de Vaca; 1557-1559, conduzida por Nuflo de Chaves.
Segundo Julien, houve expedições que antecederam a fundação de Assunção, em 1537, quando os primeiros espanhóis deram início à busca por metais preciosos. À parte aquela de Aleixo Garcia, já referida, a autora indica outra conduzida por Juan de Ayolas, em 1537, que culminou na sua morte e na de sua comitiva pelos índios (não especificado) que o acompanhavam quando voltavam do sopé dos Andes ao rio Paraguai (2007:251JULIEN, Catherine. 2007. “Kandire in real time and space: Sixteenth-Century expeditions from the Pantanal to the Andes”. Ethnohistory, 54 (2):245-272.).
Na documentação produzida por Irala, Julien chamou a atenção para o encontro deste com dois intérpretes falantes de guarani que haviam sido capturados por grupos guaxarapo27 27 Os Guaxarapo, no século XVI, era um grupo de canoeiros que se encontrava a montante de Assunção, possivelmente membros da família linguística Guaycuru (Martínez 2018:288). em tempos pretéritos: o primeiro, no sul do Pantanal, o outro, mais ao norte. Em 1543, num porto chamado Los Reyes (situado às margens do rio Paraguai, acima da atual cidade de Corumbá), Irala encontrou vários índios chané28 28 Povo de língua arawak habitante da porção sudeste do sopé andino (Combès, Saignes 1991:18) que ainda garotos foram capturados pelos Itatim (grupo guarani) quando estes se deslocavam por seu território em direção oeste em busca de metal (para yr a buscar el metal) (2007:253JULIEN, Catherine. 2007. “Kandire in real time and space: Sixteenth-Century expeditions from the Pantanal to the Andes”. Ethnohistory, 54 (2):245-272.). Também lhe contaram que Aleixo Garcia atravessara o seu território em busca de metais preciosos no mesmo período em que foram atacados pelos Itatim.
A oeste de Los Reyes, Irala encontrou outro grupo que identificou como falante guarani, que deu notícias de grupos anteriores que também haviam partido em busca de metais preciosos. Uma mulher chané - cativa desde a juventude e que no passado fora casada com um homem guarani - contou a Irala que outros grupos tinham ido até as regiões onde se obtinham metais preciosos, que teriam atravessado vários territórios até chegarem aos “Canire” (Kandire), os senhores do metal (Julien 2007JULIEN, Catherine. 2007. “Kandire in real time and space: Sixteenth-Century expeditions from the Pantanal to the Andes”. Ethnohistory, 54 (2):245-272.:254). Em face dos relatos dos próprios informantes de Irala sobre suas capturas, Julien sugere que não somente a busca por metais, mas também por cativos teria motivado os deslocamentos guarani para oeste (2007:254JULIEN, Catherine. 2007. “Kandire in real time and space: Sixteenth-Century expeditions from the Pantanal to the Andes”. Ethnohistory, 54 (2):245-272.). Combès e Saignes (1991COMBÈS, Isabelle & SAIGNES, Thierry. 1991. Alter ego: naissance de l’identité chiriguano. Paris: Ed. de l’Ecole des hautes études em sciences sociales.) analisaram a ocupação da região localizada entre o Chaco e a porção sudeste do sopé andino pelos Chiriguano e as relações de sujeição impostas por estes aos Chané.
Quanto a Nuflo de Chaves, a expedição de 1557 tinha o propósito de fundar uma cidade ao norte de Assunção entre os índios xarayé29 29 Os Xaraye eram um povo de língua arawak que vivia nos limites da região do Pantanal outrora denominada Laguna de los Xarayes. Posteriormente, tornaram-se conhecidos como Saraveca, Sarave, Zarave (Martínez 2018, agradeço a Gustavo Godoy pelas informações sobre este povo). que possibilitasse continuar a busca pela fonte do ouro usado como ornamento por eles. Entre estes índios, encontrou um homem cujo pai, chamado Çaye, era também conhecido como Candire. Çaye tomou este nome porque havia matado muitas pessoas no território dos Candire. Nota-se, segundo Julien, que o termo “Candire” designava também tanto o chefe dos Xarayé quanto o lugar onde os metais podiam ser obtidos30 30 Situado nos limites de um grande lago nas montanhas de Araracanguá. Não obtive referências a respeito da localização dessas montanhas. (Julien 2007:255JULIEN, Catherine. 2007. “Kandire in real time and space: Sixteenth-Century expeditions from the Pantanal to the Andes”. Ethnohistory, 54 (2):245-272.).
Em outra localidade, Bambaguazu (que levava o nome de seu chefe), seus moradores disseram a Chaves que os “Candire” habitavam uma terra enorme, cercada por trincheiras, localizada nas altas montanhas, onde havia um grande lago e eram donos de metal. Lá, Chaves recebeu informações de outras duas localidades onde muitos de seus membros estiveram entre os “Candire”. Após serem recebidos em ambas, Chaves tomou conhecimento de que, quando cruzasse o rio Guapay (ou Grande), estaria no território “Candire”.31 31 Confira Nordenskiöld, “Quando os ‘Chiriguano’ passaram o rio Guapay, eles avistaram as fronteiras do território dos Candire” (1917:114, tradução nossa).
Como visto, para a etnologia guarani a expressão kandire com o significado de “passagem para a imortalidade sem passar pela morte” remonta a Cadogan (1959CADOGAN, Léon. 1959. “Ayvu rapyta textos míticos de los Mbyá-Guarani del Guairá”. Boletim 227. São Paulo: USP, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. pp. 1-217.:59). É, no entanto, Hélène Clastres que faz a aproximação da interpretação de Cadogan e das expedições chiriguano em direção aos Andes em termos de busca da terra sem mal,32 32 Embora Combès e Saignes (1991) mantenham as relações entre kandire e um lugar de imortalidade, herdadas de Clastres (1978), seus dados e suas análises fornecem elementos sólidos que pesam a favor de uma expansão em direção ao oeste motivada por guerras, butins e capturas de “escravos”. sobretudo a partir da referência à kandire nas fontes documentais produzidas no curso da expedição de 1557. Hipótese que Julien ironizou: “nada nos documentos contraria efetivamente a proposta de que uma conceituação como terra sem mal existisse no século XVI” (Julien 2007:264JULIEN, Catherine. 2007. “Kandire in real time and space: Sixteenth-Century expeditions from the Pantanal to the Andes”. Ethnohistory, 54 (2):245-272.), entretanto, continua a autora, não em termos de ideias como paraíso, ressurreição ou mal, que entre os Guarani dos séculos XIX e XX pareciam derivadas da experiência jesuítica.
Julien, assim como Melià (1990)MELIÀ, Bartomeu. 1990. “A terra sem mal dos Guarani: economia e profecia”. Revista de Antropologia, 33:33-46., chamou a atenção para o uso da expressão yvy marane’ỹ desde Montoya (2011MONTOYA, Antonio Ruiz de. 2011 [1639]. Tesoro de la lengua Guaraní. Asunción: Cepag.), que a definiu como solo intacto. Neste sentido, “a busca por yvy marã e’ỹ poderia ser tão simplesmente um movimento para terras não cultivadas, uma prática agrícola comum nas terras baixas da América do Sul” (Julien 2007:265). Essa acepção em torno da expressão yvy marã e’ ỹ, assim como para Melià (1981:10)MELIÀ, Bartomeu. 1981. “‘El modo de ser’ Guarani en la primera documentación jesuítica (1594-1639)”. Revista de Antropologia, 24:1-24., apontava um uso “ecológico e econômico” que não tinha a ver com o significado profético encontrado entre os grupos guarani desde a segunda década do século XIX.
Diversas faces dos deslocamentos nos séculos XVI e XVII
Uma leitura crítica da bibliografia sobre os deslocamentos guarani entre os séculos XVI e XX tem ampliado a compreensão de seus significados de modo a rever a hipótese de que as migrações para a terra sem mal fossem um fenômeno que tivesse emergido entre os séculos XV e XVI. Esta revisão foi corroborada pela pesquisa realizada nos Manuscritos… trazendo o foco da análise para os grupos que habitavam a região do Guairá, em especial aqueles próximos às reduções de Loreto e San Ignácio. Os dados da pesquisa trazem uma imagem dos Guarani guerreiros que nada tem a ver com um povo em desalento que demanda uma terra que lhe permitirá escapar da destruição.
Para se compreenderem os deslocamentos guarani nesta região, foi necessário reconstruir, na medida do possível, alguns aspectos daquelas sociedades: a guerra e o canibalismo ofereceram os melhores dados para um tratamento mais denso. Descola (1993DESCOLA Philippe & TAYLOR Anne-Christine. 1993. “Introduction”. L’Homme, 33(126, 128):13-24.) chamou a atenção para a importância do tema da guerra no repertório dos estudos amazônicos, o que pode ser confirmado por um rápido exame da bibliografia (Descola 1993DESCOLA, Philippe. 1993. “Les Affinités sélectives. Alliance, guerre et prédation dans l’ensemble Jivaro”. L’Homme, 33 (126,128):171-190.; Fausto 2001FAUSTO, Carlos. 2001. Inimigos Fiéis. São Paulo: Edusp.; Fernandes 2006; Vilaça 1992VILAÇA, Aparecida. 1992. Comendo como gente. Rio de Janeiro: EDUFRJ/Anpocs.; Viveiros de Castro 1986VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1986. Araweté: os deuses canibais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar/Anpocs.). O lugar que guerra e canibalismo ocupam nos estudos amazônicos se deve, em grande parte, ao fato de alguns destes povos os praticarem até recentemente. Os Wari’ (Vilaça 1992VILAÇA, Aparecida. 1992. Comendo como gente. Rio de Janeiro: EDUFRJ/Anpocs.), os Araweté (Viveiros de Castro 1986VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1986. Araweté: os deuses canibais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar/Anpocs.), os Parakanã (Fausto 2001FAUSTO, Carlos. 2001. Inimigos Fiéis. São Paulo: Edusp.) e seus remanescente ainda guardam uma memória, e produzem um discurso sobre eles.
Quanto aos Guarani, a guerra e o canibalismo - presentes nas fontes documentais - não foram objetos de maiores investimentos. Estes muitas vezes emergem em trabalhos como uma consequência ou objetivo dos deslocamentos (Julien 2007JULIEN, Catherine. 2007. “Kandire in real time and space: Sixteenth-Century expeditions from the Pantanal to the Andes”. Ethnohistory, 54 (2):245-272.; Nordenskiöld 1917NORDENSKIÖLD, Erland. 1917. “The Guarani invasion of the Inca empire in the sixteenth century: an historical Indian migration”. The Geographical Review, IV:103-121.). Os motivos de suas ausências na etnologia se devem, de um lado, à distância temporal. Se as fontes coloniais dão conta da prática do canibalismo nos séculos XVI e XVII, não há notícia de que ele tenha sido praticado posteriormente.33 33 Um exame mais detalhado dos rituais de canibalismo entre os Guarani coloniais permanece ainda por ser feito. Contudo, é sugestiva a observação de Fausto para os Guarani contemporâneos sobre “uma negação do canibalismo como condição geral do cosmos e mecanismo de reprodução social”, o que o autor denominou “desjaguarificação” (2005:396). Compare-se aqui também outros exemplos amazônicos que fazem coincidir os polos do xamanismo e da guerra (Viveiros de Castro 1986:530-531; Andrade 1992:136; Vilaça 1992:60). Por outro lado - segundo a premissa de que ambos pertencem a um passado distante -, somente a partir de seus registros podemos acessá-los. Entretanto, a dispersão desses registros em arquivos e museus dificulta, ou até mesmo desestimula, o seu estudo.
Dentre esses registros, os de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca e do padre Antonio Ruiz de Montoya são os que melhor descrevem o canibalismo guarani. Cabeza de Vaca (2007:131)CABEZA DE VACA, Alvar Nuñez. 2007 [1555]. Naufrágios e comentários. Porto Alegre: L&PM. foi o primeiro a perceber que a guerra era motivada pela vingança e, como consequência, mantinha relação direta com o canibalismo e a nominação. O inimigo era levado com seus captores até o povoado destes, onde faziam dele um afim (cunhado e genro), entregando-lhe algumas mulheres. Mantinham-no em liberdade vigiada até o momento em que ele era solenemente executado.34 34 Após descrever a condução do inimigo até a praça da aldeia, entram em cena os adolescentes: “Chegam os meninos com as machadinhas, e o maior deles, ou filho do principal, é o primeiro a golpeá-lo com a machadinha na cabeça até fazer correr o sangue. Em seguida os outros começam a golpear e, enquanto estão batendo, os índios que estão em volta gritam e incentivam para que sejam valentes, para que tenham ânimo para enfrentar as guerras e para matar seus inimigos; que se recordem que aquele que ali está já matou a sua gente. Quando terminam de matá-lo, aquele índio que o matou toma o seu nome, passando assim a chamar-se como sinal de valentia” (Cabeza de Vaca, 2007:131-132, grifos nossos). Note-se também que, conforme apresentado anteriormente, o chefe dos Xarayé, Çaye, passou a se chamar também Kandire após matar muitos destes em seus territórios. Montoya (1997:55)MONTOYA, Antonio Ruiz de. 1997 [1639]. Conquista espiritual feita pelos padres da Companhia de Jesus nas províncias do Paraguai, Paraná, Uruguai e Tape. Porto Alegre: Martins Livreiro., cujo registro tem um hiato de quase um século em relação a Cabeza de Vaca, observou o mesmo tratamento quanto ao inimigo capturado. Nos Manuscritos… há registros que correlacionam a guerra ao canibalismo ritualizado. Vejamos uma descrição sumária datada de 1628.
Havendo chegado em seu poder um índio jovem, da nação gualacho, capturado durante uma guerra dos Taiaovas,35 35 Subgrupo guarani liderado por um principal chamado Tayaova ou Tayaoba (conforme o registro). foi trocado por uma faca e de mão em mão chegou a esta comarca e à deste cacique. Ainda que o tenha servido este escravo alguns anos, desejou certo dia comê-lo e convocou os índios vizinhos para uma bebedeira generalizada. O mesmo cacique, havendo ornamentado-se de plumas para a festa, deu com uma maçana na cabeça do pobre índio e fez aos convidados um solene convite.36 36 Carta ânua do P. Nicolas Mastrillo Durán em que dá conta do estado das reduções da Província do Paraguai durante os anos de 1626 e 1627. Transcreve-se apenas a parte que diz respeito às reduções do Guairá. Córdova, 12 de novembro de 1628 (Manuscritos... I).
Apesar de trazer algumas lacunas, a descrição acima é a mais completa encontrada e a recorrência com que o tema aparece nos Manuscritos… não deixa dúvida quanto à sua centralidade, bem como quanto à associação entre guerra, canibalismo e festim. Autores como Cabeza de Vaca (2007CABEZA DE VACA, Alvar Nuñez. 2007 [1555]. Naufrágios e comentários. Porto Alegre: L&PM.), Montoya (1997MONTOYA, Antonio Ruiz de. 1997 [1639]. Conquista espiritual feita pelos padres da Companhia de Jesus nas províncias do Paraguai, Paraná, Uruguai e Tape. Porto Alegre: Martins Livreiro.), Nordenskiöld (1917NORDENSKIÖLD, Erland. 1917. “The Guarani invasion of the Inca empire in the sixteenth century: an historical Indian migration”. The Geographical Review, IV:103-121.) Julien (2007JULIEN, Catherine. 2007. “Kandire in real time and space: Sixteenth-Century expeditions from the Pantanal to the Andes”. Ethnohistory, 54 (2):245-272.) e os dados encontrados nos Manuscritos… têm mostrado a preponderância de uma imagem dos Guarani associada à guerra, ao butim, ao canibalismo que se afasta daquela de um povo em fuga, como nas migrações dos séculos XIX e XX.
Guerreiros e canibais! A essa imagem agregam-se outras: “gente valorosa na guerra”, “senhores das nações circunvizinhas”, “altivos e soberbos”, porém, que ao espanhol queriam chamar apenas “cunhado ou sobrinho”.37 37 Informe de um jesuíta anônimo sobre as cidades do Paraguai e do Guairá, espanhóis, índios e mestiços, dezembro de 1620 (Manuscritos...I). Que consequências são possíveis de se extrair dessas imagens?
Se o parentesco marcou as relações iniciais entre índios e espanhóis, possibilitando a fundação da cidade de Assunção,38 38 Os espanhóis, subindo o rio Paraguai, foram convencidos pelos Guarani a permanecer naquele sítio. Estes deram-lhes mulheres e filhas e os chamaram de cunhados. Como cada espanhol tinha tantas esposas quanto desejasse, em pouco tempo tiveram tantos filhos mestiços que foram capazes de povoar todas as cidades (idem nota anterior). o surgimento de uma população mestiça fez aos poucos com que essas relações, esgarçadas, dessem lugar à prestação de serviços pessoais por meio das encomendas.39 39 “Pela encomienda, um grupo de famílias de índios, maior ou menor, segundo os casos, ficava, com seus próprios caciques, submetido à autoridade de um espanhol encomendero. Este obrigava-se juridicamente a proteger os índios que lhe ficavam por esta forma encomendados e a cuidar da sua instrução religiosa [...] Adquiria o direito de beneficiar-se com os serviços pessoais dos índios para as necessidades várias do trabalho e de exigir-lhes o pagamento de diversas prestações econômicas” (Capdequi 1946:37 citado em Cortesão 1951:490). No Guairá, os Guarani conheceram esse sistema a partir de 1556, com a fundação da Cidade Real do Guairá. A instalação de Vila Rica do Espírito Santo, em 1589, acentuou o processo de submissão indígena a essa forma de trabalho (Mörner 1968MÖRNER, Magnus. 1968 [1953]. Atividades Politicas y economicas de los jesuitas en el Rio de la Plata. Buenos Aires: Paidos. ), o que levou alguns grupos que ocupavam as margens dos rios vizinhos a estas cidades a se retirarem para regiões mais distantes. Outro fator, a ação de bandeirantes desde o início do século XVII - cujo objetivo era cativar os índios infiéis para vendê-los como escravos em São Paulo - motivou a dispersão dos grupos por regiões distantes dessas cidades.
Somente a partir da instalação das primeiras reduções jesuítas, em 1609, no Guairá - Loreto e San Ignacio - criaram-se polos de atração da população dispersa pelos rios e montes. Um dos fatores que podem ter estimulado essa atração foi a proibição pelo rei espanhol de que os índios livremente reduzidos fossem encomendados. As reduções emergem como abrigos contra encomenderos e bandeirantes (Haubert 1990HAUBERT, Maxime. 1990 [1967]. A vida cotidiana: Índios e Jesuítas no tempo das missões. São Paulo: Companhia das Letras. ; Sarreal 2014SARREAL, Julia. 2014. “Caciques as placeholders in the Guaraní missions of eighteenth century Paraguay”. Colonial Latin American Review, 23 (2):224-251. DOI: 10.1080/10609164.2014.917547
https://doi.org/10.1080/10609164.2014.91...
). Não obstante, uma parcela dos índios que atenderam a essas duas reduções já era encomendada, não podendo ser eximida desta condição. Os Guarani encontravam-se em uma situação delicada: fora das reduções, encomenderos e bandeirantes em busca de seus corpos; dentro delas, os jesuítas, ávidos por suas almas. Em 1612 o padre Joseph Cataldino, escrevendo sobre as reduções de Loreto e San Ignacio, afirmava:
Nuestra S.ra de Loreto, y el pueblo de Roquillo; S.to Ignacio y Tamarca, y que abra en las dichas rreducciones [cerca] de dos mil indios estos de tassa que serán por todos con hijos y mugeres como siete o ocho mil almas.
Las quales dichas rreducciones de suso sabe que los dichos P.es las hicieron y rredujieron ellos, y no otros sacándolos de los montes, ydolatrias, e rritos, y seremonias y su mal vivir en que estavan, y de rrios caudalosissimos donde han tenido exesivos trabajos por ser tierra aspera emferma, y de malas comidas, y no aver cabalgaduras en que poder andar y de ordinario con gran rriesgo de perder las vidas y q sabe q de la pro.cia del brasil, y villa de S. Pablo vienen los Portugueses a maloquear a los dichos repartimientos de las dichas rreducciones de suso donde se los dichos P.es no defendiessen los dichos Indios no huviera naturales ningunos em la dicha provincia de Guayra40 40 Informe sobre a fundação das reduções do Guairá. Feita a pedido do respectivo superior padre Joseph Cataldino. Santa Fé, 02/02/1614 (Manuscritos...I). .
Assunto que seria reiterado em outra carta de 1629, na qual o padre Simon Masseta relata o seu embate com o cacique Guirabera quando este insistia para que o padre o presenteasse com vestimentas religiosas: “dixele q avia venido a enseñarles la palabra de Dios y defenderles del Dem.º y Portug. es y no a traerle ropas41 41 Carta do padre Simão Masseta para o provincial Nicolau Duran, dando-lhe conta da fundação da redução de Jesus Maria, na terra dos Taiaobas e os trabalhos sofridos. Jesus Maria, 25/1/1629 (Manuscritos... I). ” (grifo nosso).
O impedimento de fazer cativos os índios convertidos foi respeitado até o ano de 1628, quando o padre Antônio Ruiz Montoya relatou o fato de que os portugueses haviam capturado alguns índios e, duvidando que fossem convertidos, examinaram-nos quanto aos seus conhecimentos da doutrina cristã, e como alguns deles responderam muito bem, foram libertados; os demais, escravizados.42 42 Carta ânua do padre Antonio Ruiz, superior da missão do Guairá. Dirigida ao padre Nicolau Duran, provincial da Companhia de Jesus, 2/7/1628 (Manuscritos... I). Posteriormente, conforme relatado pelos padres Justo Mancilla e Simão Maceta,43 43 Relação feita quer ao rei, quer ao provincial Francisco Vasquez de Trujillo, sobre os estragos causados pela grande bandeira de Raposo Tavares às Missões do Guairá nos anos de 1628-1629. Cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos, 10/10/1629 (Manuscritos… 1). 17 índios cristãos foram novamente capturados próximo à redução de Encarnación, a leste de Loreto, pelos membros de outra bandeira. O padre Montoya, vendo fracassada sua tentativa de recuperar seus discípulos, avançou com 1.200 índios para o lugar onde estavam os portugueses, fato este que levou o chefe da bandeira a concordar com a libertação dos índios.
Pouco tempo passou e um cacique de nome Tatavrana, que havia sido capturado pelos portugueses e conseguido fugir, foi demandado por estes aos padres de outra redução, San Antônio, que se recusaram a entregá-lo. Em 30 de janeiro de 1629, mediante aprovação de Antônio Raposo Tavares, os portugueses, cujo contingente estava em torno de 100 portugueses e 1 mil índios tupi,44 44 Informe de Manuel Juan de Morales, da vila de São Paulo, feito à sua Majestade das coisas e maldades de seus moradores, 1636 (Manuscritos... I). atacaram a dita redução, destruindo-a e levando consigo o referido cacique e mais 4 mil índios. Em 20 de março do mesmo ano, atacaram outra redução, Jesus Maria, onde mataram toda a população. Por fim, três dias depois deste último ataque destruíram a redução de San Miguel, próxima à primeira, que havia sido esvaziada quando os padres souberam do ocorrido em San Antônio.
Em 1630, em face das destruições que vinham ocorrendo desde o início do ano anterior e do risco iminente de novo ataque bandeirante, o padre provincial Nicolau Duran solicitou à Real Audiência de Chuquisaca autorização para que se mudassem as reduções de Loreto e San Ignácio para regiões mais ao sul do rio Paraná. Concedida a autorização, iniciaram em tempo exíguo a construção de balsas e canoas que transportaram rio abaixo uma população em torno de 12 mil índios. Um relato do padre Montoya ilustra que a necessidade da fuga não atendia somente a um receio especulativo. De fato, os portugueses chegaram:
Havíamos viajado dois dias rio abaixo, quando nos alcançaram alguns índios, retardatários em sua partida. Deles soubemos como aquele inimigo tão pernicioso ficou tomado de fúria, ao ver-se burlado. É que teria bastado dar um pouco mais de pressa, para na certa apanhar-nos e conquistar uma presa tão boa e rica (Montoya 1997MONTOYA, Antonio Ruiz de. 1997 [1639]. Conquista espiritual feita pelos padres da Companhia de Jesus nas províncias do Paraguai, Paraná, Uruguai e Tape. Porto Alegre: Martins Livreiro.:152).
Considerações finais
Ao longo deste artigo propus uma análise dos deslocamentos guarani nos termos de seus múltiplos significados. Para isso explorei um tema clássico na etnologia guarani que foram as migrações para a terra sem mal. Parafraseando Nimuendaju, posso dizer que essas migrações foram a “mola propulsora” para se compreenderem outras formas de deslocamentos observadas desde o início da Conquista entre grupos guarani. É importante ressaltar que ao longo do artigo privilegiei analisar os deslocamentos em face de diversos atores: inimigos, cativos, encomenderos, bandeirantes, missionários. Na sequência, mostrar as peculiaridades de cada um questionando, sobretudo, a ideia de uma continuidade entre esses e alguns daqueles que emergiram a partir do século XIX e se tornaram conhecidos como busca da terra sem mal.
A opção por viver nas reduções, seja como forma de escapar às agruras das encomendas ou à sujeição dos bandeirantes, trouxe consequências, como a apropriação e a ressignificação de ideias em ambos os sentidos: dos padres aos índios e vice-versa. A tônica desses fluxos oscilou muitas vezes entre a conversão e a resistência. Vimos anteriormente como Guiravera, que foi um dos maiores opositores à conversão religiosa no Guairá, demandava ao padre Simon Masseta indumentárias religiosas. E por que o fazia? Inúmeros são os exemplos, nas fontes documentais, de xamãs se apropriando de artefatos religiosos para o exercício de suas atividades e assim se oporem aos jesuítas.45 45 Para outras formas de resistência anteriores à implantação das missões jesuíticas, veja-se Roulet (1993), Chamorro (1998) e para o contexto tupi (Vainfas 2022).
Questionar a continuidade entre os deslocamentos dos séculos XIX e XX e aqueles do período colonial não significa negar que as migrações para a terra sem mal fossem eventos reais, entretanto, esses eventos estão localizados no tempo e no espaço. Conforme mostrou Nimuendaju, iniciaram-se por volta de 1820, entre o extremo sul do Mato Grosso do Sul e o leste do Paraguai, e terminaram a leste e ao norte do Brasil na década de 1960, com os grupos quase nunca conseguindo realizar o desejo de alcançar o mar. Como busquei mostrar, seus motivos intercalaram eventos produzidos no decorrer de um processo histórico, vide a guerra do Chaco, e interpretações xamânicas.
Causalidades históricas ou cosmológicas, esta não parecer ser a questão para uma antropologia que há muito abandonou noções como pureza, autenticidade e para sociedades cuja reprodução social depende, em larga medida, da apropriação do exterior, “sociedades canibais”, na expressão de Viveiros de Castro (1986:384)VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1986. Araweté: os deuses canibais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar/Anpocs.. Esta é também uma crítica de Fausto àquelas análises que recorreram às concepções de cultura e tradição subjacentes às ideias de pureza e autenticidade da “religião” guarani (2005:392FAUSTO, Carlos. 2005. “Se deus fosse jaguar: canibalismo e cristianismo entre os Guarani (séculos XVI-XX)”. Mana, v. 11, n. 2:385-418.). Sugiro também que essas não sejam concepções adequadas para se compreenderem os múltiplos sentidos que envolvem os deslocamentos em diferentes períodos.
Das migrações ocorridas ao longo dos séculos XVI e XVII, constatou-se, a partir da literatura, a dificuldade de se projetarem para os Tupi os mesmos motivos que impulsionaram os Guarani a partir do século XIX. Para aqueles, é notória a fuga em face do conquistador português (Métraux 1927MÉTRAUX, Alfred. 1927. “Les migrations historiques des Tupi-Guarani”. Journal de la société des Américanistes, 19:1-45.). Quanto aos Guarani, os trabalhos de Nordenskiöld (1917NORDENSKIÖLD, Erland. 1917. “The Guarani invasion of the Inca empire in the sixteenth century: an historical Indian migration”. The Geographical Review, IV:103-121.), Julien (2007JULIEN, Catherine. 2007. “Kandire in real time and space: Sixteenth-Century expeditions from the Pantanal to the Andes”. Ethnohistory, 54 (2):245-272.) e os Manuscritos… revelaram sociedades marcadas pelo prestígio conquistado na guerra, no butim, na sujeição de povos inimigos ao longo da margem direita do rio Paraguai. Estas certamente não se assemelhavam àquelas descritas pelos etnólogos que trataram do tema da terra sem mal - um povo acossado pelo iminente fim do mundo - a cataclismologia (Nimuendaju 1987NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1987 [1914]. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp.; Clastres 1978CLASTRES, Hélène. 1978 [1975]. A terra sem mal: o profetismo tupi-guarani. São Paulo: Brasiliense.) - ou pelo fim de seu mundo - expropriações e guerras (Cadogan 1959CADOGAN, Léon. 1959. “Ayvu rapyta textos míticos de los Mbyá-Guarani del Guairá”. Boletim 227. São Paulo: USP, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. pp. 1-217.; Melià 1990; Mendes Júnior 2021MENDES JÚNIOR, Rafael Fernandes. 2021. A terra sem mal: uma saga guarani. Rio de Janeiro: EdURFJ.). Dos dados provenientes do Guairá, constatou-se que a guerra não somente moveu os grupos, mas também corroborou com a imagem de um povo destemido.
O encontro com o colonizador marcou profundamente as suas relações sociais. Do parentesco entre índios e espanhóis emergiu uma população criolla que junto com os espanhóis se empenhou, a partir da década de 1560, em submeter a mão de obra indígena às encomiendas -intensificada após a descoberta da erva-mate na serra de Maracayu, no Paraguai, por volta de 1600 (Manuscritos… I, II). A partir de então, as estruturas sociais guarani seriam profundamente transformadas, o que daria lugar a outro tipo de deslocamento, as fugas, intensificadas com as bandeiras.
Com o estabelecimento das reduções jesuíticas em 1609 - acompanhado da proibição de utilização da mão de obra indígena nas encomiendas por um período de dez anos - verificou-se um movimento de atração de índios que fez surgir uma população no entorno das missões muito maior do que era comum para esses grupos até então. Loreto e San Ignácio tinham uma população em torno de 8 mil índios em 1612; em 1629, ano de sua destruição, San Antonio contava com 4 mil índios e Jesus Maria com outros 3 mil (Manuscritos… I). O terceiro tipo de deslocamento, portanto, foram as atrações dos grupos para junto das reduções - estivessem eles dispersos devido às dinâmicas internas que formavam unidades menores ao longo dos rios e dos montes, ou aqueles que fugiam do colonizador e dos bandeirantes.
O quarto tipo de deslocamento é também uma fuga, porém, distinta dos anteriores, pois ela poderia reunir contingentes maiores ou menores. O que diferia este tipo de fuga das anteriores era a ação dos padres na condução dos grupos que fugiam em face do avanço das bandeiras. Recupero aqui a saída de 12 mil índios conduzidos por sete padres desde Loreto e San Ignácio para uma região mais ao sul do Paraná. Também na redução de Mboiboi, no Itatim, seus integrantes seguiram com o padre Barnabé de Bonilla até as margens do rio Ypane, em 1648, fugindo dos bandeirantes (Manuscritos… II).
Este quarto tipo de deslocamento coloca uma questão que muitos etnólogos têm procurado evitar e que, infelizmente, devido às limitações das informações disponíveis nos Manuscritos, não pode ser mais bem explorada neste artigo. Seriam essas fugas conduzidas por padres uma espécie de gênese daquelas migrações orientadas por xamãs a partir do início do século XIX e que eclodiram cerca de 40 anos após a expulsão dos jesuítas? A documentação analisada permitiu a formulação desta hipótese que deverá ser investigada em pesquisas futuras.
Agradecimentos
Agradeço ao Programa de Apoio à Pesquisa da Fundação Biblioteca Nacional pela concessão de bolsa de pesquisa entre outubro de 2018 e setembro de 2019. Agradeço também as leituras e os comentários preciosos de Amanda Migliora, Aparecida Vilaça, Elizabeth Pissolato, Isabel Martínez, Joaquin Ruiz, Tatiana Cipiniuk, Valéria Macedo, Vicente Pereira e dos pareceristas anônimos.
Referencias
- ANDRADE, Lucia M. M. 1992. O corpo e os cosmos: relações de gênero e o sobrenatural entre os Asurini do Tocantins Dissertação de Mestrado em Antropologia Social, Universidade de São Paulo.
- BARBOSA, Pablo Antunha. 2013. “A ‘Terra sem mal’ de Curt Nimuendaju e a ‘Emigração dos Cayuáz’ de João Henrique Elliott. Notas sobre as ‘migrações’ guarani no século XIX”. Tellus, v. 13, n. 24:121-158.
- CABEZA DE VACA, Alvar Nuñez. 2007 [1555]. Naufrágios e comentários Porto Alegre: L&PM.
- CADOGAN, Léon. 1959. “Ayvu rapyta textos míticos de los Mbyá-Guarani del Guairá”. Boletim 227 São Paulo: USP, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. pp. 1-217.
- CASTELNAU-L’ESTOILE, Charlotte de. 2000. Les ouvriers d’un vigne stérile: les jésuites et la conversion des indiens au Brésil (1580-1620) Paris/Lisbonne: Centre Culturel Caloustre Gulbenkian.
- CHAMORRO, Graciela. 1998. A espiritualidade guarani: uma teologia ameríndia da palavra São Leopoldo: Sinodal. (Teses e dissertações, 10).
- CLASTRES, Hélène. 1978 [1975]. A terra sem mal: o profetismo tupi-guarani São Paulo: Brasiliense.
- CLASTRES, Pierre. 2003 [1974]. A sociedade contra o Estado Rio de Janeiro: Cosac & Naif.
- COMBÈS, Isabelle & SAIGNES, Thierry. 1991. Alter ego: naissance de l’identité chiriguano Paris: Ed. de l’Ecole des hautes études em sciences sociales.
- CORTESÃO, Jaime. 1951. Manuscritos da Coleção de Angelis 1: Jesuítas e bandeirantes no Guairá (1594-1640) Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional.
- DESCOLA, Philippe. 1993. “Les Affinités sélectives. Alliance, guerre et prédation dans l’ensemble Jivaro”. L’Homme, 33 (126,128):171-190.
- DESCOLA Philippe & TAYLOR Anne-Christine. 1993. “Introduction”. L’Homme, 33(126, 128):13-24.
- ELLIOTT, João Henrique. 1856. “A Emigração dos Cayuáz. Narração coordenada sob os apontamentos dados pelo Sr. João Henrique Elliott, pelo sócio effectivo, o Sr. Brigadeiro J.J. Machado de Oliveira”. Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, 19:434-447.
- FAUSTO, Carlos. 2001. Inimigos Fiéis São Paulo: Edusp.
- FAUSTO, Carlos. 2005. “Se deus fosse jaguar: canibalismo e cristianismo entre os Guarani (séculos XVI-XX)”. Mana, v. 11, n. 2:385-418.
- GARCIA, Elisa Frühauf. 2009. As diversas formas de ser índio: políticas indígenas e políticas indigenistas no extremo sul da América portuguesa Rio de Jeneiro. Arquivo Nacional.
- GARLET, Ivori José. 1997. Mobilidade Mbya: História e Significação Dissertação de Mestrado em História, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
- HAUBERT, Maxime. 1990 [1967]. A vida cotidiana: Índios e Jesuítas no tempo das missões São Paulo: Companhia das Letras.
- JULIEN, Catherine. 2007. “Kandire in real time and space: Sixteenth-Century expeditions from the Pantanal to the Andes”. Ethnohistory, 54 (2):245-272.
- MARTÍNEZ, Cecilia. 2018. Uma etnografia de chiquitos: más allá del horizonte jesuítico Cochabamba. Itinerarios Editorial.
- MELIÀ, Bartomeu. 1981. “‘El modo de ser’ Guarani en la primera documentación jesuítica (1594-1639)”. Revista de Antropologia, 24:1-24.
- MELIÀ, Bartomeu. 1990. “A terra sem mal dos Guarani: economia e profecia”. Revista de Antropologia, 33:33-46.
- MELIÀ, Bartomeu; SAUL, Marcos Vinícios & MURARO, Valmir. 1987. O Guarani: uma bibliografia etnológica Santo Ângelo: Fundação Missioneira de Ensino Superior.
- MENDES JÚNIOR, Rafael Fernandes. 2018. “Os Mbya desceram o Araguaia: parentesco e dispersão”. In: Dominique Tilkin Gollois & Valéria Macedo (orgs.), Nas Redes Guarani: Saberes, traduções, transformações São Paulo: Hedra. pp. 339-360.
- MENDES JÚNIOR, Rafael Fernandes. 2021. A terra sem mal: uma saga guarani Rio de Janeiro: EdURFJ.
- MÉTRAUX, Alfred. 1927. “Les migrations historiques des Tupi-Guarani”. Journal de la société des Américanistes, 19:1-45.
- MONTOYA, Antonio Ruiz de. 1997 [1639]. Conquista espiritual feita pelos padres da Companhia de Jesus nas províncias do Paraguai, Paraná, Uruguai e Tape Porto Alegre: Martins Livreiro.
- MONTOYA, Antonio Ruiz de. 2011 [1639]. Tesoro de la lengua Guaraní Asunción: Cepag.
- MÖRNER, Magnus. 1968 [1953]. Atividades Politicas y economicas de los jesuitas en el Rio de la Plata Buenos Aires: Paidos.
- NEUMANN, Eduardo. 1996. O trabalho guarani missioneiro no Rio da Prata colonial, 1640-1750 Porto Alegre: Martins Livreiro .
- NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1987 [1914]. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani São Paulo: Hucitec/Edusp.
- NORDENSKIÖLD, Erland. 1917. “The Guarani invasion of the Inca empire in the sixteenth century: an historical Indian migration”. The Geographical Review, IV:103-121.
- ORANTIN, Mickaël. 2021. La cloche, le rabot et la houe. Fragments d’un quotidien de travail dans les missions jésuites du Paraguay (1714?) Paris: Presses de l’Inalco (Amériques).
- PISSOLATO, Elizabeth. 2007. A duração da pessoa: mobilidade, parentesco e xamanismo mbya (guarani) São Paulo: Unesp.
- POMPA, Cristina. 2004. “O profetismo tupi-guarani: a construção de um objeto antropológico”. Revista de Indias, 64:141-174.
- ROULET, Florencia. 1993. La resistencia de los Guaraní del Paraguay a la conquista española (1537-1556) Posadas: Editorial Universitaria/ Universidad Nacional de Misiones.
- SANTOS-GRANERO, Fernando. 2009. Vital enemies: Slavery, Predation, and the Amerindian Political Economy of Life Austin: University of Texas Press.
- SARREAL, Julia. 2014. “Caciques as placeholders in the Guaraní missions of eighteenth century Paraguay”. Colonial Latin American Review, 23 (2):224-251. DOI: 10.1080/10609164.2014.917547
» https://doi.org/10.1080/10609164.2014.917547 - SCHADEN, Egon. 1974 [1954]. Aspectos fundamentais da cultura guarani São Paulo: Difel.
- VILAÇA, Aparecida. 1992. Comendo como gente Rio de Janeiro: EDUFRJ/Anpocs.
- VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1986. Araweté: os deuses canibais Rio de Janeiro: Jorge Zahar/Anpocs.
- VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1987. “Nimuendaju e os Guarani”. In: Curt Unkel Nimuendaju, As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-GuaraniSão Paulo: Hucitec/Edusp.
Notas
-
1
Conflito entre Bolívia e Paraguai ocorrido entre 1932 e 1935.
-
2
Yvy ju, que significa literalmente terra áurea, é correlato de yvy marã e’ỹ, traduzida por Nimuendaju (1987)NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1987 [1914]. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp. como terra sem mal. Tradução divergente daquela apresentada pelo padre Antonio Ruiz de Montoya (2011:298)MONTOYA, Antonio Ruiz de. 2011 [1639]. Tesoro de la lengua Guaraní. Asunción: Cepag., de solo intacto, seguida por Melià (1990:33)MELIÀ, Bartomeu. 1990. “A terra sem mal dos Guarani: economia e profecia”. Revista de Antropologia, 33:33-46. e Julien (2007:264)JULIEN, Catherine. 2007. “Kandire in real time and space: Sixteenth-Century expeditions from the Pantanal to the Andes”. Ethnohistory, 54 (2):245-272.. Esclareço que as palavras nativas serão mantidas conforme os registros de seus autores. Por isso, variações em ñanderu e nhanderu, candire e kandire.
-
3
Para uma análise desse deslocamento, recomendo Mendes Júnior (2021)MENDES JÚNIOR, Rafael Fernandes. 2018. “Os Mbya desceram o Araguaia: parentesco e dispersão”. In: Dominique Tilkin Gollois & Valéria Macedo (orgs.), Nas Redes Guarani: Saberes, traduções, transformações. São Paulo: Hedra. pp. 339-360.. Apenas reitero aqui que, junto com o xamã, faleceu uma grande parcela de pessoas, o que foi responsável por certo desmantelamento do grupo.
-
4
Os deslocamentos ocorridos no século XVIII ganharam fôlego a partir da assinatura do Tratado de Madri (1750) e a sua análise escapa dos limites deste artigo, entretanto, para o período pós-1750 recomendo Garcia (2009)GARCIA, Elisa Frühauf. 2009. As diversas formas de ser índio: políticas indígenas e políticas indigenistas no extremo sul da América portuguesa. Rio de Jeneiro. Arquivo Nacional..
-
5
Utilizo o termo deslocamento em referência a qualquer movimento dos grupos no espaço. Alhures (Mendes Júnior 2021)MENDES JÚNIOR, Rafael Fernandes. 2018. “Os Mbya desceram o Araguaia: parentesco e dispersão”. In: Dominique Tilkin Gollois & Valéria Macedo (orgs.), Nas Redes Guarani: Saberes, traduções, transformações. São Paulo: Hedra. pp. 339-360., empreguei os termos migração e mobilidade; o primeiro para me referir aos deslocamentos em busca da terra sem mal e o segundo, para aqueles orientados por relações de parentesco preestabelecidas entre grupos e pessoas que compartilhavam territórios em comum.
-
6
A região do Guairá fazia parte da Província Jesuítica do Paraguai e compreendia parte do atual estado do Paraná. Era delimitada ao norte pelo rio Paranapanema; ao sul, pelo rio Iguaçu; a oeste, pelo rio Paraná; e a leste, pelo rio Tibagi (Mörner 1968MÖRNER, Magnus. 1968 [1953]. Atividades Politicas y economicas de los jesuitas en el Rio de la Plata. Buenos Aires: Paidos. ; Neumann 1996)NEUMANN, Eduardo. 1996. O trabalho guarani missioneiro no Rio da Prata colonial, 1640-1750. Porto Alegre: Martins Livreiro ..
-
7
Traduzido para o português em 1987 sob o título As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp.
-
8
Note-se que em um artigo publicado na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1856, João Enrique Elliott, a serviço do então barão de Antonina, descreveu a chegada de vários índios “Cayuaz” na fazenda do barão, em 1844, e instalados numa porção de terra onde se fundaria, pouco tempo depois, uma capela em homenagem a São João Batista. A descrição de Elliott diz respeito a um grupo de Cayuaz que teria atravessado o rio Paraná pouco abaixo da barra do Ivahy. Subiram este rio até as ruínas de Vila Rica e mais tarde percorreram da comarca de Curitiba ao litoral sul de São Paulo, instalando-se finalmente na fazenda do barão de Antonina (1856:435)ELLIOTT, João Henrique. 1856. “A Emigração dos Cayuáz. Narração coordenada sob os apontamentos dados pelo Sr. João Henrique Elliott, pelo sócio effectivo, o Sr. Brigadeiro J.J. Machado de Oliveira”. Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, 19:434-447.. Barbosa (2013)BARBOSA, Pablo Antunha. 2013. “A ‘Terra sem mal’ de Curt Nimuendaju e a ‘Emigração dos Cayuáz’ de João Henrique Elliott. Notas sobre as ‘migrações’ guarani no século XIX”. Tellus, v. 13, n. 24:121-158. foi o primeiro a notar certa incongruência entre os relatos de Elliott e de Nimuendaju. Também é instigante a forma como ele problematiza as migrações guarani no século XIX, falta-me, contudo, espaço para ampliar a discussão aqui.
-
9
Utilizarei o termo Tupi para me referir ao conjunto de povos (Tupinambá, Tupinaés, Tupiniquim, Potiguara) que entre os séculos XVI e XVII ocuparam a região que se estende do litoral sul de São Paulo até o Maranhão. São povos linguisticamente aparentados e pertencentes ao complexo linguístico Tupi-Guarani (Combès & Saignes 1991)COMBÈS, Isabelle & SAIGNES, Thierry. 1991. Alter ego: naissance de l’identité chiriguano. Paris: Ed. de l’Ecole des hautes études em sciences sociales..
-
10
Nhanderu: onde nhande é pronome pessoal de 1ª pessoa do plural inclusivo (o interlocutor participa), “r” é epêntese, e u significa pai. É empregado para se referir às divindades, como em Nhanderu Tupã e Nhanderu ete, (Nosso Pai Tupã e Nosso Pai Verdadeiro). Em alguns grupos guarani designa também os xamãs, como nos casos citados, nos grupos que vivem no norte do Brasil e no Mato Grosso do Sul. Os grupos do litoral empregam mais frequentemente o termo opita’i va’e. Literalmente, aquele que fuma. Isto porque o cachimbo e o tabaco são os principais instrumentos de ação desses xamãs. Onde “o” é prefixo de flexão de pessoa que indica sujeito da 3ª pessoa, no singular e no plural; “pita” verbo intransitivo fumar; e “va’e” é um nominalizador (Dooley 2013). Outros termos utilizados são karai e o seu correspondente feminino kunhã karai, onde kunhã significa mulher; e pajé (mbaje, paye). Este, contudo, goza de um sentido ambíguo e refere-se antes àquele/a que pratica a feitiçaria (ver também Fausto 2005:408)FAUSTO, Carlos. 2005. “Se deus fosse jaguar: canibalismo e cristianismo entre os Guarani (séculos XVI-XX)”. Mana, v. 11, n. 2:385-418..
-
11
Cerimônia na qual se revelam os nomes das pessoas (ver Nimuendaju 1987NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1987 [1914]. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp.; Mendes Júnior 2021)MENDES JÚNIOR, Rafael Fernandes. 2021. A terra sem mal: uma saga guarani. Rio de Janeiro: EdURFJ..
-
12
Nome de uma das divindades guarani. Literalmente, nosso irmão mais velho, onde “r” é uma epêntese e -ike’y o termo que designa o irmão mais velho (enunciado por um homem).
-
13
“Durante uma de suas viagens, provavelmente em 1609, o oficial francês la Ravardière encontrou próximo da ilha de Santana os Potiguara de Pernambuco que tinham abandonado seu país para conquistar o Paraíso terrestre” (Métraux 1927:15, tradução nossa)MÉTRAUX, Alfred. 1927. “Les migrations historiques des Tupi-Guarani”. Journal de la société des Américanistes, 19:1-45..
-
14
“Pelas semelhanças que apresentam os dois conjuntos culturais (o tupinambá do litoral da época colonial, observado pelos cronistas, e o guarani do Paraguai e sul do Brasil, registrado pelos etnógrafos na primeira metade deste século), eles foram identificados como um único ‘sistema’ tupi-guaraní. […] Com base nesta identificação, o ‘mito da Terra sem Mal’ e o consequente ‘messianismo’ foram definidos em geral como um conjunto cosmológico intrínseco à cultura tupi-guarani como um todo” (Pompa 2004:142)POMPA, Cristina. 2004. “O profetismo tupi-guarani: a construção de um objeto antropológico”. Revista de Indias, 64:141-174..
-
15
A prática jesuítica na Província do Paraguai se afasta em muitos pontos daquela ocorrida na colônia portuguesa. Na América espanhola, os jesuítas - ao contrário de seus colegas no Brasil e cujos trabalhos em muito favoreceram a política colonial (Castelnau-L’Estoile 2000)CASTELNAU-L’ESTOILE, Charlotte de. 2000. Les ouvriers d’un vigne stérile: les jésuites et la conversion des indiens au Brésil (1580-1620). Paris/Lisbonne: Centre Culturel Caloustre Gulbenkian. - se empenharam em manter isolados os grupos que lograram reduzir (Haubert 1990HAUBERT, Maxime. 1990 [1967]. A vida cotidiana: Índios e Jesuítas no tempo das missões. São Paulo: Companhia das Letras. ; Mörner 1968)MÖRNER, Magnus. 1968 [1953]. Atividades Politicas y economicas de los jesuitas en el Rio de la Plata. Buenos Aires: Paidos. .
-
16
Expressão composta por “o” (cf. nota 11) 10 Nhanderu: onde nhande é pronome pessoal de 1ª pessoa do plural inclusivo (o interlocutor participa), “r” é epêntese, e u significa pai. É empregado para se referir às divindades, como em Nhanderu Tupã e Nhanderu ete, (Nosso Pai Tupã e Nosso Pai Verdadeiro). Em alguns grupos guarani designa também os xamãs, como nos casos citados, nos grupos que vivem no norte do Brasil e no Mato Grosso do Sul. Os grupos do litoral empregam mais frequentemente o termo opita’i va’e. Literalmente, aquele que fuma. Isto porque o cachimbo e o tabaco são os principais instrumentos de ação desses xamãs. Onde “o” é prefixo de flexão de pessoa que indica sujeito da 3ª pessoa, no singular e no plural; “pita” verbo intransitivo fumar; e “va’e” é um nominalizador (Dooley 2013). Outros termos utilizados são karai e o seu correspondente feminino kunhã karai, onde kunhã significa mulher; e pajé (mbaje, paye). Este, contudo, goza de um sentido ambíguo e refere-se antes àquele/a que pratica a feitiçaria (ver também Fausto 2005:408). + “nhe” partícula reflexiva + “mo” partícula causativa. O que poderia ser traduzido como “ele se fez kandire”.
-
17
Nesta mesma passagem, Nimuendaju indagou: “De onde, portanto, este pessimismo? Em primeiro lugar, poder-se-ia supor que os Guarani, antes mesmo da chegada dos europeus, carregavam o germe da decadência e da morte da raça, e aquele traço de caráter seria um reflexo desse estado” (Nimuendaju 1987:131)NIMUENDAJU, Curt Unkel. 1987 [1914]. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos Apapocúva-Guarani. São Paulo: Hucitec/Edusp..
-
18
Paraguai rovai kue’i tuja kue ou/ ha’e gui roju/ ore cacique rogueru karã/ rogueraa haguã yvy ju py/ orecacique rogueraa va’ekue yvy apy py, kova’e apy py, akaty yvyju py/ rogueraa va’e kue, rogueraa xe.
-
19
O termo cacique foi utilizado em documentos coloniais desde o final do século XVI para designar os chefes de grupos locais e nem sempre coincidiam com a figura dos xamãs. Entretanto, na fala de meu interlocutor, o cacique e o xamã eram a mesma pessoa.
-
20
Para um estudo detalhado da expansão dos Chiriguano em direção ao Império Inca recomendo o trabalho de Combès e Saignes (1991)COMBÈS, Isabelle & SAIGNES, Thierry. 1991. Alter ego: naissance de l’identité chiriguano. Paris: Ed. de l’Ecole des hautes études em sciences sociales..
-
21
Rui Diaz de Guzmán, tenente de governador no Guairá entre 1594 e 1596, e em Santiago de Xerez entre 1596 e 1599, foi o primeiro historiador crioulo da América Meridional (Cortesão 1951:78)CORTESÃO, Jaime. 1951. Manuscritos da Coleção de Angelis 1: Jesuítas e bandeirantes no Guairá (1594-1640). Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional.. Nuflo de Chaves, explorador espanhol integrante da expedição de Cabeza de Vaca entre 1541 e 1542. Ortiz Vergara, explorador espanhol, que substituiu Domingos Martinez de Irala, após a sua morte em 1557, como governador do Rio de la Plata, sendo destituído em 1567.
-
22
Nordenskiöld aponta o ano de 1526 como data dessa expedição, mas tal fato parece duvidoso, pois Martim Afonso de Souza partiu de Lisboa em direção ao Brasil somente em 03 de dezembro de 1530.
-
23
O uso da expressão “escravo” na literatura colonial é ainda controverso. Segundo Santos-Granero (2009:48-49)SANTOS-GRANERO, Fernando. 2009. Vital enemies: Slavery, Predation, and the Amerindian Political Economy of Life. Austin: University of Texas Press., à exceção dos Kalinago e Conibo - onde aos cativos de guerra eram impostos uma forma de servidão - na maioria do continente tais escravos se referem àqueles cativos transformados em afins (mulheres) ou adotados (crianças). Outro fato notável era a prática, a partir do final do século XVI, entre os Chiriguano, de vender cativos como escravos aos espanhóis (Combès e Saignes 1991:65)COMBÈS, Isabelle & SAIGNES, Thierry. 1991. Alter ego: naissance de l’identité chiriguano. Paris: Ed. de l’Ecole des hautes études em sciences sociales..
-
24
Segundo Combès e Saignes os Guaraio são remanescentes de grupos guarani (Itatim) fragmentados por pressões portuguesas e espanholas a partir da segunda metade do século XVII (1991:32)COMBÈS, Isabelle & SAIGNES, Thierry. 1991. Alter ego: naissance de l’identité chiriguano. Paris: Ed. de l’Ecole des hautes études em sciences sociales..
-
25
Os ensaios do casal Clastres, apontaram Melià et al (1987:53)MELIÀ, Bartomeu; SAUL, Marcos Vinícios & MURARO, Valmir. 1987. O Guarani: uma bibliografia etnológica. Santo Ângelo: Fundação Missioneira de Ensino Superior., “são construídos sobre dados muito fragmentários e seletivos, citados de modo geral e nada científico, tanto no que se refere à leitura das fontes históricas como à utilização de dados empíricos de segunda mão”. Opinião compartilhada por Descola e Taylor: “o estatuto dos trabalhos de Pierre Clastres não é menos paradoxal […]: A sociedade contra o Estado é a primeira obra do americanismo tropical que teve um impacto muito grande sobre o conjunto da disciplina, e mesmo muito além, pois ela propunha um paradigma ou um conjunto de postulados de porte muito geral. Pela primeira vez, os materiais etnográficos oriundos das terras baixas sul-americanas alimentavam diretamente uma hipótese potente sobre a natureza das relações sociais. Porém, novamente, a relação entre etnografia e teoria se via falseada, pois os Selvagens que Clastres apresenta não são mais os Guayaki, ou os Índios do Chaco, ou tal sociedade particular, mas antes uma construção híbrida sobre a qual se projetou uma teoria do laço social. Trajetória inspirada pela filosofia política clássica que se apresentava aos olhos dos não especialistas como uma teoria etnológica ortodoxa” (Descola e Taylor 1993:20)DESCOLA Philippe & TAYLOR Anne-Christine. 1993. “Introduction”. L’Homme, 33(126, 128):13-24..
-
26
Segundo Combès e Saignes “[no] século XVI, “Candire” designava o nome da terra sem mal dos Chiriguano e dos Guarayo (1991:24)COMBÈS, Isabelle & SAIGNES, Thierry. 1991. Alter ego: naissance de l’identité chiriguano. Paris: Ed. de l’Ecole des hautes études em sciences sociales..
-
27
Os Guaxarapo, no século XVI, era um grupo de canoeiros que se encontrava a montante de Assunção, possivelmente membros da família linguística Guaycuru (Martínez 2018:288)MARTÍNEZ, Cecilia. 2018. Uma etnografia de chiquitos: más allá del horizonte jesuítico. Cochabamba. Itinerarios Editorial..
-
28
Povo de língua arawak habitante da porção sudeste do sopé andino (Combès, Saignes 1991:18)COMBÈS, Isabelle & SAIGNES, Thierry. 1991. Alter ego: naissance de l’identité chiriguano. Paris: Ed. de l’Ecole des hautes études em sciences sociales.
-
29
Os Xaraye eram um povo de língua arawak que vivia nos limites da região do Pantanal outrora denominada Laguna de los Xarayes. Posteriormente, tornaram-se conhecidos como Saraveca, Sarave, Zarave (Martínez 2018MARTÍNEZ, Cecilia. 2018. Uma etnografia de chiquitos: más allá del horizonte jesuítico. Cochabamba. Itinerarios Editorial., agradeço a Gustavo Godoy pelas informações sobre este povo).
-
30
Situado nos limites de um grande lago nas montanhas de Araracanguá. Não obtive referências a respeito da localização dessas montanhas.
-
31
Confira Nordenskiöld, “Quando os ‘Chiriguano’ passaram o rio Guapay, eles avistaram as fronteiras do território dos Candire” (1917:114, tradução nossa)NORDENSKIÖLD, Erland. 1917. “The Guarani invasion of the Inca empire in the sixteenth century: an historical Indian migration”. The Geographical Review, IV:103-121..
-
32
Embora Combès e Saignes (1991)COMBÈS, Isabelle & SAIGNES, Thierry. 1991. Alter ego: naissance de l’identité chiriguano. Paris: Ed. de l’Ecole des hautes études em sciences sociales. mantenham as relações entre kandire e um lugar de imortalidade, herdadas de Clastres (1978)CLASTRES, Hélène. 1978 [1975]. A terra sem mal: o profetismo tupi-guarani. São Paulo: Brasiliense., seus dados e suas análises fornecem elementos sólidos que pesam a favor de uma expansão em direção ao oeste motivada por guerras, butins e capturas de “escravos”.
-
33
Um exame mais detalhado dos rituais de canibalismo entre os Guarani coloniais permanece ainda por ser feito. Contudo, é sugestiva a observação de Fausto para os Guarani contemporâneos sobre “uma negação do canibalismo como condição geral do cosmos e mecanismo de reprodução social”, o que o autor denominou “desjaguarificação” (2005:396)FAUSTO, Carlos. 2005. “Se deus fosse jaguar: canibalismo e cristianismo entre os Guarani (séculos XVI-XX)”. Mana, v. 11, n. 2:385-418.. Compare-se aqui também outros exemplos amazônicos que fazem coincidir os polos do xamanismo e da guerra (Viveiros de Castro 1986:530-531VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1986. Araweté: os deuses canibais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar/Anpocs.; Andrade 1992:136ANDRADE, Lucia M. M. 1992. O corpo e os cosmos: relações de gênero e o sobrenatural entre os Asurini do Tocantins. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social, Universidade de São Paulo.; Vilaça 1992:60)VILAÇA, Aparecida. 1992. Comendo como gente. Rio de Janeiro: EDUFRJ/Anpocs..
-
34
Após descrever a condução do inimigo até a praça da aldeia, entram em cena os adolescentes: “Chegam os meninos com as machadinhas, e o maior deles, ou filho do principal, é o primeiro a golpeá-lo com a machadinha na cabeça até fazer correr o sangue. Em seguida os outros começam a golpear e, enquanto estão batendo, os índios que estão em volta gritam e incentivam para que sejam valentes, para que tenham ânimo para enfrentar as guerras e para matar seus inimigos; que se recordem que aquele que ali está já matou a sua gente. Quando terminam de matá-lo, aquele índio que o matou toma o seu nome, passando assim a chamar-se como sinal de valentia” (Cabeza de Vaca, 2007:131-132, grifos nossos)CABEZA DE VACA, Alvar Nuñez. 2007 [1555]. Naufrágios e comentários. Porto Alegre: L&PM.. Note-se também que, conforme apresentado anteriormente, o chefe dos Xarayé, Çaye, passou a se chamar também Kandire após matar muitos destes em seus territórios.
-
35
Subgrupo guarani liderado por um principal chamado Tayaova ou Tayaoba (conforme o registro).
-
36
Carta ânua do P. Nicolas Mastrillo Durán em que dá conta do estado das reduções da Província do Paraguai durante os anos de 1626 e 1627. Transcreve-se apenas a parte que diz respeito às reduções do Guairá. Córdova, 12 de novembro de 1628 (Manuscritos... I).
-
37
Informe de um jesuíta anônimo sobre as cidades do Paraguai e do Guairá, espanhóis, índios e mestiços, dezembro de 1620 (Manuscritos...I).
-
38
Os espanhóis, subindo o rio Paraguai, foram convencidos pelos Guarani a permanecer naquele sítio. Estes deram-lhes mulheres e filhas e os chamaram de cunhados. Como cada espanhol tinha tantas esposas quanto desejasse, em pouco tempo tiveram tantos filhos mestiços que foram capazes de povoar todas as cidades (idem nota anterior) 37 Informe de um jesuíta anônimo sobre as cidades do Paraguai e do Guairá, espanhóis, índios e mestiços, dezembro de 1620 (Manuscritos...I). .
-
39
“Pela encomienda, um grupo de famílias de índios, maior ou menor, segundo os casos, ficava, com seus próprios caciques, submetido à autoridade de um espanhol encomendero. Este obrigava-se juridicamente a proteger os índios que lhe ficavam por esta forma encomendados e a cuidar da sua instrução religiosa [...] Adquiria o direito de beneficiar-se com os serviços pessoais dos índios para as necessidades várias do trabalho e de exigir-lhes o pagamento de diversas prestações econômicas” (Capdequi 1946:37 citado em Cortesão 1951:490)CORTESÃO, Jaime. 1951. Manuscritos da Coleção de Angelis 1: Jesuítas e bandeirantes no Guairá (1594-1640). Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional..
-
40
Informe sobre a fundação das reduções do Guairá. Feita a pedido do respectivo superior padre Joseph Cataldino. Santa Fé, 02/02/1614 (Manuscritos...I).
-
41
Carta do padre Simão Masseta para o provincial Nicolau Duran, dando-lhe conta da fundação da redução de Jesus Maria, na terra dos Taiaobas e os trabalhos sofridos. Jesus Maria, 25/1/1629 (Manuscritos... I).
-
42
Carta ânua do padre Antonio Ruiz, superior da missão do Guairá. Dirigida ao padre Nicolau Duran, provincial da Companhia de Jesus, 2/7/1628 (Manuscritos... I).
-
43
Relação feita quer ao rei, quer ao provincial Francisco Vasquez de Trujillo, sobre os estragos causados pela grande bandeira de Raposo Tavares às Missões do Guairá nos anos de 1628-1629. Cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos, 10/10/1629 (Manuscritos… 1).
-
44
Informe de Manuel Juan de Morales, da vila de São Paulo, feito à sua Majestade das coisas e maldades de seus moradores, 1636 (Manuscritos... I).
-
45
Para outras formas de resistência anteriores à implantação das missões jesuíticas, veja-se Roulet (1993)ROULET, Florencia. 1993. La resistencia de los Guaraní del Paraguay a la conquista española (1537-1556). Posadas: Editorial Universitaria/ Universidad Nacional de Misiones., Chamorro (1998)CHAMORRO, Graciela. 1998. A espiritualidade guarani: uma teologia ameríndia da palavra. São Leopoldo: Sinodal. (Teses e dissertações, 10). e para o contexto tupi (Vainfas 2022).
-
Errata
No artigo Cartografias dos deslocamentos Guarani: Séculos XVI e XVII, de autoria de Rafael Fernandes Mendes Júnior, com DOI 10.1590/1678-49442022v28n2a202, publicado na seção Artigos da Revista Mana. Estudos de Antropologia Social, volume 28, número 2 de 2022, na página 24, nota de rodapé 16:Onde se lia:cf. nota 11Leia-se:cf. nota 10
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
05 Set 2022 -
Data do Fascículo
2022
Histórico
-
Recebido
30 Nov 2021 -
Aceito
20 Jun 2022