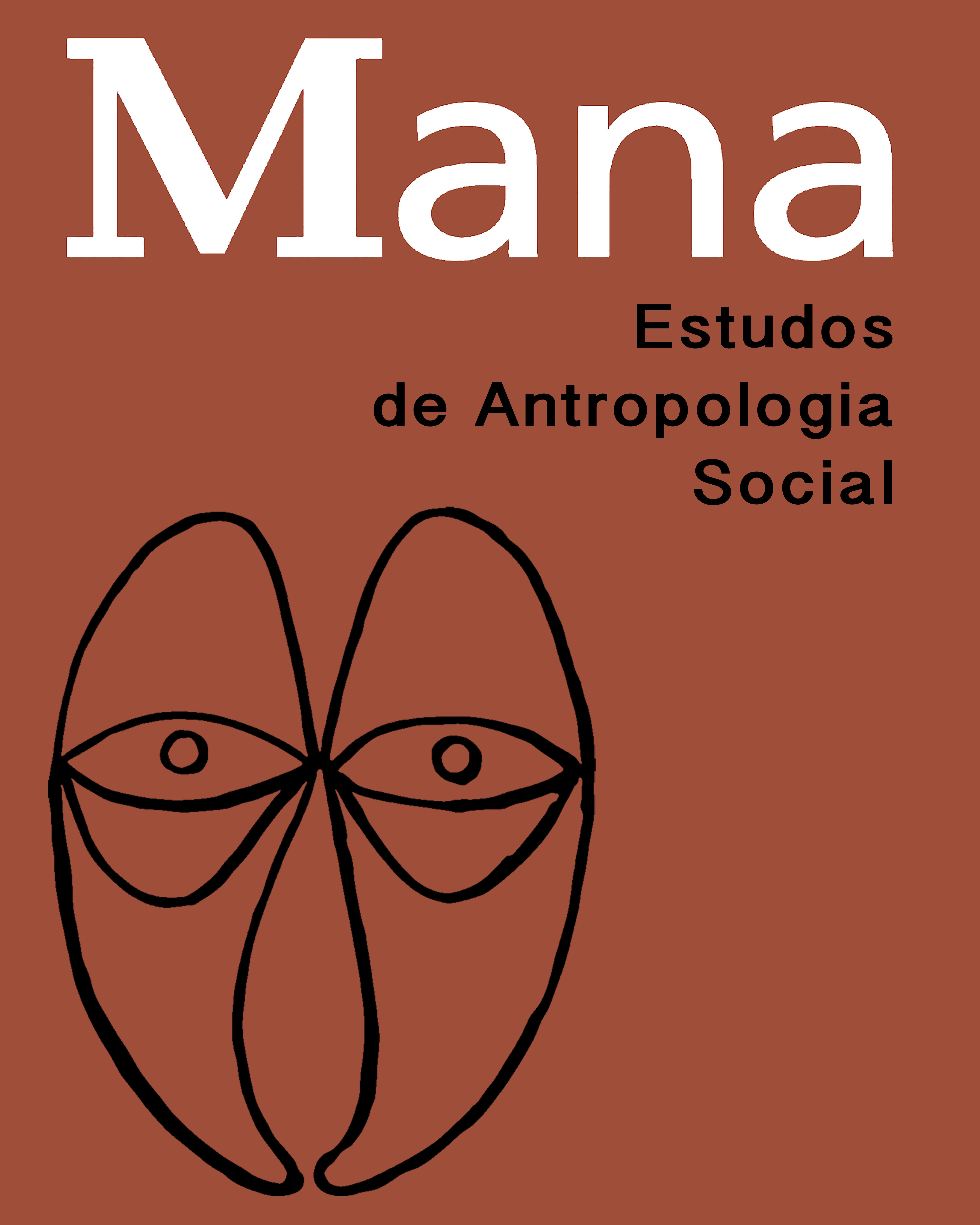Resumo
Este artigo pretende discutir as possibilidades de desenhar com a câmera fotográfica, como propõe minha interlocutora, Evelyn Torrecilla, a partir de sua experiência na terapia Arte Org. Foi praticando essa terapia, que Evelyn encontrou um modo de fazer fotos desenhando linhas com a iluminação ambiente, por meio de um acoplamento entre gesto e visão, tal como o ato de desenhar. Esta prática permite propor questões às definições de Tim Ingold e Michael Taussig sobre o desenho e a fotografia, bem como refletir sobre dobras e contágios entre diferentes formas expressivas ou grafias, como vêm fazendo Suely Kofes, Karina Kuschnir, Aina Azevedo, Amanda Ravetz, Anne Grimshaw e Phillippe Dubois, entre outros. Nessa discussão com diferentes referências, pretende-se mostrar como acepções etnográficas estão mais abertas a novas emergências do desenho e do fazer fotográfico do que definições canônicas e atemporais.
Palavras-chave:
Desenho; Fotografia; Antropologia Visual; Percepção; Terapia Arte Org
Abstract
The present article is aimed at discussing the possibilities of drawing with photography in accordance with the proposals made by my research subject, Evelyn Torrecilla, as part of her experience in Arte Org therapy. As a practitioner of this therapy, Evelyn found a way of making photos by drawing with background lighting, coupling gesture and vision as they happen in her drawing method. This experience allows me to pose some questions to Tim Ingold’s and Michael Taussig’s definitions of drawing and photography, as well as to consider the intersectionality of and contamination between different expressive forms, in line with the thoughts of Suely Kofes, Karina Kushnir, Aina Azevedo, Amanda Ravetz, Anne Grimshaw and Phillippe Dubois, among other authors. Throughout the discussion, I employ different references to demonstrate how ethnographic understandings are more open than cannonic and atemporal definitions to the new emergencies of drawing and photography making.
Keywords:
Drawing; Photography; Visual Anthropology; Perception; Arte Org therapy
Resumen
Este artículo pretende discutir las posibilidades de dibujar con la cámara, como propone mi interlocutora, Evelyn Torrecilla, desde su experiencia en la terapia Arte Org. Al practicar dicha terapia, Evelyn encontró una manera de hacer fotos dibujando líneas con la iluminación ambiental, a través del acoplamiento entre gesto y visión, como ocurre en el acto de dibujar. Esa práctica permite proponer interrogantes a las definiciones de Tim Ingold y Michael Taussig sobre el dibujo y la fotografía, así como reflexionar sobre pliegues y contagios entre distintas formas expresivas, como vienen haciendo Suely Kofes, Karina Kuschnir, Aina Azevedo, Amanda Ravetz, Anne Grimshaw e Phillippe Dubois, entre otros autores. En esa discusión con distintas referencias, se busca mostrar cómo los significados etnográficos están más abiertos a nuevas emergencias en el dibujo y la fotografía que las definiciones canónicas y atemporales.
Palabras claves:
Dibujo; Fotografía; Antropología Visual; Percepción; Terapia Arte Org
Mais que o instante, quero seu fluxo. Clarice Lispector, Água Viva, 1973.
Acompanho as linhas desta fotografia ( Figura 1), que tracejam o movimento de uma embarcação. A longa-exposição grafa o fluxo do barco da direita para esquerda, transforma o instante em duração. Esta foto, entre outras que compõem este artigo, foram tiradas por Evelyn Torrecilla, interlocutora e amiga que conheci em meu campo de pesquisa na Arte Org, uma terapia corporal e perceptiva baseada na psicologia de Wilhelm Reich. 2 2 Wilhelm Reich (1897-1957), formado em medicina na Universidade de Viena, foi um dos principais discípulos de Sigmund Freud até a sua expulsão da Associação de Psicanálise Internacional (API) por divergências teóricas e políticas em 1934. Perseguido pelo nazismo, ele se refugiou na Dinamarca, Suécia e Noruega até se estabelecer nos Estados Unidos, em 1939. Na década de 1950, ele começou a ser perseguindo pelo macarthismo por suas posições políticas e pela Food and Drug Administration por seus tratamentos carecerem de validade científica, seus livros foram queimados e logo após ser preso, em 1957, veio a falecer (Weinman 2002). Nos finais dos anos 1960, sua obra foi resgatada e hoje Reich é considerado um dos principais fundadores das terapias corporais no Ocidente. Como ela narra, foi praticando essa terapia que seu fazer fotográfico se transformou.
A Arte Org foi criada por Jovino Camargo Jr.CAMARGO JR., Jovino. 2017a. História e desenvolvimento da Arte Org. São Paulo: Publicações Arte Org, edição revisada. com terapeutas do Brasil e do Chile nos anos 1980, com vistas a atualizar a teoria reichiana. Jovino e outros terapeutas observavam que o corpo e a percepção haviam mudado desde que Reich formulou sua teoria e seus métodos clínicos. Grosso modo, a Arte Org defende que, na atualidade, as defesas psíquicas 3 3 Suscintamente, para Reich, o fluxo energético dos organismos dos seres vivos se regularia a partir de situações de prazer e dor, de fluxos e contrafluxos; à medida que interagimos com outros seres as membranas corporais criariam retesamentos em situação de desprazer como forma de defesa. Esses retesamentos foram chamados por Reich de couraça. Para Jovino, a couraça já não se localizava apenas no corpo, mas principalmente no segmento perceptivo do organismo. Esta teoria faz cada vez mais sentido em um mundo em que há um inflacionamento no uso da visão e de determinadas formas de ver pelas tecnologias da informação, sem a necessidade de movimentarmos o corpo. É importante sublinhar que, para Reich e para a teoria arteorguiana, o organismo humano é composto pelo segmento corporal e perceptivo, a relação entre estes dois segmentos é extremamente complexa, e não se resume na dicotomia entre corpo e mente, uma vez que todos os órgãos têm funções perceptivas, que não dependem necessariamente de um sistema nervoso central. estão mais concentradas no segmento perceptivo do que no corporal, sendo necessária uma prática terapêutica para equilibrar novamente a relação entre percepção e corpo. Em outras palavras, sintomas psíquicos contemporâneos estariam relacionados à percepção cada vez mais desencarnada, sendo necessária a corporificação da percepção. Faço esta terapia desde 2012, inicialmente como paciente e, posteriormente, como aprendiz no curso de formação. A partir de 2019, passei a pesquisar artistas que a praticam. O interesse antropológico pela Arte Org surgiu ainda no começo do meu tratamento, quando fui afetado, por meio de seus exercícios corporais e perceptivos, por uma sensação de deslumbramento, ao sentir que a minha percepção visual e corporal poderia ser intensificada.
Recordo que, nas primeiras sessões, desconfiei da eficácia dos exercícios propostos por Jovino para aliviar a pressão da escrita da tese. Estava em meu último ano do doutorado, e meu terapeuta propunha caminhadas com a atenção em árvores de praças, movimentos com bastões sob luz infravermelha e banhos, observar cores com os olhos fechados, ouvir o som de conchas do mar e sentir a sensação de água na pele debaixo do chuveiro. À primeira vista, nada poderia ser mais contraproducente para quem buscava resolver questões práticas de final de tese, com prazos sempre espremidos e pouca perspectiva de empregabilidade. Mas após cerca de oito sessões, ao fazer um exercício chamado “O caminho se faz ao andar 1” em uma ciclovia arborizada da cidade de São Paulo, percebi que as árvores estavam com um brilho diferente. Eu passava com frequência por essa mesma via, imaginei ser a coloração específica das folhagens de início de verão. “É a sua vitalidade voltando”, arrematou Jovino. Depois daquele exercício, fui notando uma vivacidade das cores do meu entorno, e até mesmo o esverdeado cinzento do velho corredor e da escada que dava acesso ao consultório ganhava mais vigor. Foi uma experiência de “espanto”, como quer Ingold: “um sentimento de maravilhamento, que vem de cavalgar a crista do contínuo nascimento do mundo” ( Ingold 2011bINGOLD, Tim. 2011b. Being Alive. Londres: Routledge .:74).
À medida que praticava essa terapia, outros exercícios me afetavam perceptualmente, e as questões que de início me haviam levado para Arte Org foram ganhando novos contornos. A experiência era compartilhada com outros aprendizes dessa terapia, que fui conhecendo no curso de formação e que se tornaram grandes amigos/as. Em um primeiro momento, é possível dizer que os exercícios da Arte Org afetam e efetuam um outro corpo perceptual, como define Latour, à luz de Vinciane Despret: “ter um corpo é aprender a ser afectado, ou seja, ‘efectuado’, movido, posto em movimento por outras entidades, humanas ou não humanas” ( Latour 2004LATOUR, Bruno. 2004. “Como falar do corpo? A dimensão normativa dos estudos sobre a ciência”. In: J.A. Nunes & R. Roque, Objetos Impuros: Experiências em Estudos sobre a Ciência. Porto: Edições Afrontamento.:39). Afinal, como conta Graça Lima, uma terapeuta arteorguiana, “Reich dizia a seus pacientes: ‘eu não prometi a felicidade, apenas que vocês sentiriam mais’”.
Esse processo de sensibilizar o corpo e a percepção ( Caiuby Novaes 2021CAIUBY NOVAES, Sylvia. 2021. “Por uma sensibilização do olhar”. GIS - Revista de Antropologia, 6 (1):e-179923. São Paulo, Brasil.) me interessa na pesquisa com a Arte Org, em diálogo com a antropologia visual e da percepção. Nessa investigação, faço uma etnografia dos atravessamentos entre a Arte Org e a produção expressiva de músicos, performers e artistas visuais, como as fotografias de Evelyn Torrecilla (doravante, Eve). Suas fotos buscam exprimir justamente essa sensibilização perceptual que os exercícios da Arte Org proporcionam, especialmente a ideia de que podemos caminhar com os nossos olhos ao longo da paisagem e ter uma percepção visual corporificada. Em diálogo com Jovino, ela buscou seguir alguns princípios da terapia em seu fazer fotográfico:
Ele [Jovino] sempre me desafiava muito a não fazer uma fotografia que tivesse somente um ponto de interesse, só um ponto focal. Fugir um pouco daquelas regras de enquadramento e exposição em que você tem sempre um objeto principal. Ele sempre propunha esse desafio de colocar mais itens ou deixar a fotografia o mais difusa possível. De que o olho possa viajar pela imagem, pela fotografia, ou pelo quadro.
A proposta de Jovino era um grande desafio, “sempre tem um foco, sempre tem um assunto principal, uma cor mais forte, uma luz mais forte”, rememora Eve. Se não era possível eliminar o ponto focal, ao menos era possível multiplicar os pontos focais para que o “olho possa ir para mais de um lugar, mais de dois lugares”. Então, ela foi buscando, a partir de diferentes técnicas, outras formas de fazer fotografia, como, por exemplo, pelo uso da múltipla exposição (sobreposição de imagens em um mesmo frame), do panning (mover a câmera) e da light painting (desenho com a luz). Na combinação de técnicas de panning e light painting, Eve criou aquilo que ela chama de “desenho com a luz”: um movimento com a câmera, que busca desenhar com a iluminação ambiente, ou com uma lanterna. “Desenhar com a fotografia”, ela explica, implica sobretudo um movimento corporal, seja da lanterna em frente a uma câmera, ou da própria fotógrafa se movendo, com o obturador aberto, para corporificar uma percepção visual.
Historicamente, em termos de conceituação analítica, a relação entre desenho e fotografia nem sempre foi vista como contágio, dobra ou sobreposição, como percebo que acontece no método usado por Eve para “desenhar com a câmera”. Nos últimos anos, o desenho vem ganhando um novo estatuto no fazer antropológico. Isto se dá no contexto de um panorama mais amplo, que tem sido identificado como “virada gráfica” ( Causey 2012CAUSEY, Andrew. 2012. “Drawing flies: artwork in the field”. Critical Arts, 26 (2):162-174.; Gama 2016GAMA, Fabiene 2016. “Sobre emoções, imagens e os sentidos”. Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, v. 15, n. 45:116-130.). A defesa da retomada do desenho vem acompanhada de argumentos mobilizados por diferentes autores/as e de uma ênfase na distinção entre o ato de desenhar e o de fotografar, que implicaria outro modo de fazer antropologia e expressar a experiência de campo, de forma inclusive mais potente do que a fotografia ( Ingold 2007INGOLD, Tim. 2007. Lines. Londres: Routledge ., 2011aINGOLD, Tim (org.). 2011a. Redrawing Anthropology. Farnham: Ashgate., 2011bINGOLD, Tim. 2011b. Being Alive. Londres: Routledge ., 2013INGOLD, Tim. 2013. Making. Londres: Routledge .; Taussig 2011TAUSSIG, Michael. 2011. I swear, I saw this. Chicago: University of Chicago Press .). Sarah Pink (2011PINK, Sarah. 2011. Drawing with our feet (and trampling the maps): walking with video as graphic anthropology. In: Tim Ingold (org.), Redrawing Anthropology. Farnham: Ashgate .), Amanda Ravetz (2011RAVETZ, Amanda. 2011. “‘Both created and discovered’: the case for reverie and play in a redrawn anthropology”. In: Tim Ingold (org.), Redrawing Anthropology. Farnham: Ashgate ., 2021) e Anne Grimshaw (2021GRIMSHAW, Anna & RAVETZ, Amanda. 2021. “Desenhar com uma câmera? filme etnográfico e Antropologia Transformadora. GIS, 6 (1).) argumentaram em favor da possibilidade de desenhar com a filmadora. Em diálogo com as duas primeiras, Tim Ingold - um dos principais defensores do desenho na antropologia - afirma: “Nós devemos tratar a câmera de vídeo, portanto, não como uma ‘imagem-baseada em tecnologia’ [...] mas como o olho do lápis, com o qual ela pode inscrever um rastro de seu movimento, assim como pode a mão que desenha sobre o papel” ( 2011aINGOLD, Tim (org.). 2011a. Redrawing Anthropology. Farnham: Ashgate.:17).
Se parece ponto pacífico entre os autores citados acima que a filmadora guarda a potencialidade de desenhar, o objetivo deste artigo é justamente pensar a possiblidade de desenhar com a câmera fotográfica, como propõe Eve. Discutir essa possibilidade permite, por um lado, aprofundar a discussão em torno da relação entre diferentes formas expressivas e grafias na antropologia. Por outro lado, a prática fotográfica de Eve abre caminhos para eu apresentar a efetuação de um corpo e de uma percepção na terapia Arte Org.
Desenho, fotografia e cinema podem ter diferenças irredutíveis, a depender do modo como são definidos. De minha parte, argumento justamente em favor de acepções etnográficas, observando como pessoas, artistas e antropólogos visuais em suas práticas tensionam e borram fronteiras estabelecidas, a exemplo de trabalhos como o de Eve, de David Claerbout e de Emiliano Dantas, entre outros. A instigante proposta de uma antropologia desenhada ( Taussig 2011TAUSSIG, Michael. 2011. I swear, I saw this. Chicago: University of Chicago Press .; Azevedo 2016aAZEVEDO, Aina. 2016a. “Desenho e antropologia: recuperação histórica e momento atual”. Cadernos de arte e antropologia, v. 5, n. 2., 2016bAZEVEDO, Aina. 2016b. “Diário de campo e diário gráfico: contribuições do desenho à antropologia”. Áltera - Revista de Antropologia, João Pessoa, v. 2, n. 2:100-119.; Kuschnir 2014KUSCHNIR, Karina. 2014. “Ensinando antropólogos a desenhar: uma experiência didática e de pesquisa”. Cadernos de Arte e Antropologia, v. 3, n. 2., 2016KUSCHNIR, Karina. 2016. “A antropologia pelo desenho: experiências visuais e etnográficas”. Cadernos de arte e antropologia, v. 5, n. 2., 2019KUSCHNIR, Karina. 2019. “Desenho etnográfico: Onze benefícios de usar um diário gráfico no trabalho de campo”. Pensata, v. 7, n. 1.), mesmo quando opõe mais fortemente desenho e fotografia ( Ingold 2007INGOLD, Tim. 2007. Lines. Londres: Routledge ., 2011aINGOLD, Tim (org.). 2011a. Redrawing Anthropology. Farnham: Ashgate., 2011bINGOLD, Tim. 2011b. Being Alive. Londres: Routledge ., 2013INGOLD, Tim. 2013. Making. Londres: Routledge .), traz importantes reflexões para uma antropologia aberta e atenta ao movimento do corpo e da percepção na produção de etnografias visuais. Como defende Karina Kuschnir, “vamos desenhar para somar, multiplicar” os modos de fazer antropologia visual ( 2016KUSCHNIR, Karina. 2016. “A antropologia pelo desenho: experiências visuais e etnográficas”. Cadernos de arte e antropologia, v. 5, n. 2.:12).
Em um primeiro momento, discuto como a definição de Ingold sobre o desenho, em contraposição à fotografia, faz sentido naquilo que se convencionou ser a produção fotográfica durante o século XX. Com a tecnologia digital, a fotografia assume outros modos de feitura e proposições de artistas visuais e fotógrafos, permitindo borrar as fronteiras entre foto, desenho e cinema. Em uma espécie de torção da teoria de Ingold, mostro como sua definição de desenho dialoga paradoxalmente com a prática fotográfica de Eve. Em seguida, travo uma conversação com Michael Taussig sobre desenho, fotografia e cura, trazendo outras dimensões da relação entre imagem e terapia Arte Org. Por fim, apresento exemplos de antropólogos/as que vêm pensando sobre desenho e suas possíveis dobras, contágios e sobreposições com outras grafias e formas expressivas em torno do desenho, da fotografia e do cinema na antropologia visual. Inspiro-me aqui na proposta de Kofes (2020KOFES, Suely. 2020. “As grafias - traços, linhas, escrita, gráficos, desenhos - como perturbação no conhecimento antropológico”. In: F. Bruno & M. Petroni, Dossiê: etnografia e o desafio da grafia. Revista R@u, v. 12, n. 2.:22), quando pensa na relação entre diferentes grafias: “não se trata de subsumir a antropologia à arte e à literatura, nem necessariamente transformá-la em objetos, nem a sugestão de sua hibridização. Trata-se, sugiro, de dobras e de contágio, e de tensões”.
Desenho como fluxo e gesto, fotografia como instante e click?
O desenho está no centro da proposta de Ingold de trazer a antropologia de volta à vida. Para ele, há uma série de correspondências entre o desenho e a vida, uma vez que ambos se expressam ao longo de linhas. Na relação entre essas linhas está uma metáfora que apresenta a vida como composição em que pessoas e coisas são desenhadas conjuntamente, ou cruzadas por inúmeras linhas. O desenho, nesse sentido, tanto por sua característica formal quanto pelo tipo de atenção que exige, seria metodologicamente mais afinado com o fazer antropológico de descrever a vida, entendida dessa maneira ( Ingold 2011INGOLD, Tim (org.). 2011a. Redrawing Anthropology. Farnham: Ashgate.).
Em termos metodológicos, o desenho, assim como a vida, estaria sempre em aberto. Ingold distingue o desenho da pintura a óleo, na qual a tela branca remete a pintura aos limites da moldura - um espaço a ser coberto em sua totalidade. Já o desenho, ainda que esteja, a princípio, limitado pela superfície de um papel, não se dirige a um fim e não exige que toda a superfície seja preenchida Para Ingold, “a linha de um desenho é irretratável. Ela não pode ser desfeita. Cada linha convida para sua continuação” ( 2011INGOLD, Tim (org.). 2011a. Redrawing Anthropology. Farnham: Ashgate.:218); “no desenho como na vida, o que foi feito não pode ser desfeito” 4 4 Todas as traduções de textos escritos em língua estrangeira são minhas. ( 2011INGOLD, Tim (org.). 2011a. Redrawing Anthropology. Farnham: Ashgate.:222). Assim, o desenho atua como um lugar reserva, como algo que sempre pode ser continuado, cuja finalidade não está prescrita de antemão. 5 5 Discuto em outro artigo que a concepção yanomami de desenho não se respalda na ideia de que a superfície do papel seja um todo e as inscrições do lápis, fragmentos. A singularidade do desenho yanomami, como ensina Laymert Garcia dos Santos (2015), está justamente em seguir com as linhas até as bordas das folhas, sugerindo a continuidade do movimento para além do espaço do papel. Essa continuidade é a vida e o movimento para os Yanomami, operadores de um ato inaugural que se desenha. Ver, nesse sentido, Hirano (2022). Ele seria um tipo de inscrição antitotalizante, na contracorrente do modelo hilemórfico, que coloca a forma final como ponto de partida da descrição e não o desenrolar de processos abertos a improvisos e imprevistos ( Ingold 2012INGOLD, Tim. 2012. “Trazendo as coisas de volta à vida”. Horizontes Antropológicos, v. 18, n. 37. ). A fotografia, por sua vez, estaria comprometida com a finalidade composicional.
O desenho, assim, sobressairia como um meio capaz de expressar o fluxo da vida, sem o emoldurar ou estancar em uma totalidade, deixando-o sempre em aberto, como uma expressão simultânea e em tempo real de um devir contínuo. O desenho, em sua acepção específica, não é uma projeção de uma imagem mental: “ambas, mão e cabeça, são cúmplices conjuntas, atravessando o processo de geração incessante” ( 2013INGOLD, Tim. 2013. Making. Londres: Routledge .:127).
Se ao longo da história da fotografia convencionou-se adotar uma projeção da composição final para captar uma imagem mimética com o referente, há, entretanto, exemplos em que a composição fotográfica não se dá necessariamente de forma hilemórfica, mas por adições posteriores em um processo aberto, seja sobrepondo frames em uma mesma imagem, a exemplo das fotografias de Claudia Andujar com os Yanomami, seja no trabalho de revelação. O movimento com a câmera na mão, para desenhar com a luz do ambiente, conforme faz Eve, já havia sido proposto por fotógrafos surrealistas e futuristas, como Man Ray ( Grunvald 2015GRUNVALD, Vitor. 2015. “Alter-retrato, fotografia e travestimento: ou sobre o paradigma fotográfico de Rrose Sélavy”. In: Caiuby Novaes (org.), Entre arte e ciência a fotografia na antropologia. São Paulo: Edusp. pp. 161-196.), 6 6 Como explica Vi Grunvald, Duchamp e Man Ray buscaram negar “o princípio icônico (ou retiniano […])” da fotografia. “A arte no surrealismo é, antes de tudo, traço” ( Grunvald 2015:178). mas, como argumenta Susana Dobal (2012DOBAL, Susana. 2012. “Sete sintomas de transformação da fotografia documental”. Revista Ícone, v. 14, n. 1.), a tecnologia digital tem proporcionado sua ampliação em situações de pouca iluminação. No ato de mover a câmera, há um acoplamento entre mão e visão, assim como no desenho, mostrando que a diferenciação entre esses fazeres não é tão estanque quanto parece. A foto abaixo de Eve ( Figura 2) é resultado de movimentos da câmera com as duas mãos em longa exposição, de cerca de 30 segundos. Feita de cima de um apartamento, em uma rua movimentada de São Paulo, ela primeiro seguiu com a câmera as luzes dos carros que passavam e depois segurou a máquina em direção à lua.
É necessário, no entanto, seguir toda a argumentação de Ingold, na distinção entre esses fazeres, para pensar em possíveis dobras e contágios. Para além do modelo hilemórfico - e em favor de uma perspectiva processual -, o acoplamento entre visão e mão propiciada pelo desenho estaria relacionado à clivagem entre o visual e o escrito e àquilo que o antropólogo britânico chama de “olhar para” e “olhar com” ( Ingold 2013INGOLD, Tim. 2013. Making. Londres: Routledge .). A dualidade entre o visual e o escrito, enfatizada em textos de Marcus Banks e Anne Grimshaw, segundo Ingold, explicaria o eclipsamento do desenho dentro da antropologia visual, uma vez que as linhas de um desenho “nem se solidificam em imagens, tampouco se compõem nas formas verbais estáticas do texto impresso” ( Ingold 2011INGOLD, Tim (org.). 2011a. Redrawing Anthropology. Farnham: Ashgate.:225). 7 7 Essa definição de desenho que não se solidifica em imagens tem ganhado mais clareza nas discussões atuais de Ingold, que tem optado por falar em termos de garatujas ou rabiscos. Como desenho pode se referir a muitos referentes, garatujas e rabiscos elucidariam melhor esse tipo de linha defendida por Ingold, que traceja movimento. Ver nesse sentido a conferência dele intitulada: “Beyond writing and drawing: In praise of scribble”: https://www.ppv2022.abant.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=843. Como argumenta Ingold, o olho que vê a imagem é o mesmo olho que lê um texto mas, no Ocidente, em algum momento da história, passamos a diferenciar esses atos. Olhar uma imagem tornou-se “olhar para”, ao passo que a leitura seria uma operação de “projeção”, isto é, de desagregação do todo em partes que, depois, são arranjadas em uma sequência sintática, em uma operação de “articulação” ( Ingold 2013INGOLD, Tim. 2013. Making. Londres: Routledge .:130). Na escrita à mão, o movimento perceptivo não se dá do mesmo modo, pois seguimos as linhas das letras em um contínuo, olhando “com” e não “para”. O procedimento seria semelhante ao de ouvir alguém falando, ou escutar uma música, quando não temos o todo de antemão para desagregar em partes e seguimos o fluxo do som.
Sua tese é que a instalação desse grande divisor entre imagem/escrita só foi possível a partir do momento em que, por meio da fotografia e da máquina de escrever, o gesto separou-se da expressão de produzir, respectivamente, inscrições pictóricas e textuais. O ato de clicar o botão de uma câmera e o de datilografar com a ponta do dedo produziria uma inscrição padronizada, em que a qualidade “kinética”, o estado perceptivo e atencional no momento de fotografar e de teclar, não passaria para a imagem ou para o papel impresso. Seria possível dizer que as sensações são exprimidas na imagem ou no texto por meio da composição, ou do encadeamento das palavras, mas não como continuidade do gesto, como num desenho ou carta escrita à mão, na qual a emoção de uma mão trêmula se expressaria nas linhas do desenho ou das letras. A caneta e o lápis são transdutores, “convertem um estado de consciência kinestésica [ kinaesthetic awareness] do desenhista no fluxo e inflexão da linha” ( 2013INGOLD, Tim. 2013. Making. Londres: Routledge .:131). Para Ingold, a câmera fotográfica e a máquina de escrever separaram a escrita e o desenho do “ductus” (qualidade kinestésica) da mão. A câmera fotográfica e o teclado cortariam o fluxo da atividade visual-manual, que estaria na essência do ato de desenhar. O desenho e a escrita à mão, portanto, seriam grafias, inscrições de um gesto manual, 8 8 No último capítulo do livro Making (2013), Ingold sugere que pensar em termos de grafias acenaria para a semelhança entre “nós e eles”, pois, em seu entendimento, não há sociedades sem grafias, o que possibilitaria repensar o grande divisor entre sociedades com e sem escrita. capazes de narrar estórias. Michael Taussig distingue a fotografia e o desenho de modo similar, a primeira seria um ato de “tirar”, como na expressão “tirar uma foto”, ao passo que o segundo seria um ato de fazer. Por esta razão, tanto Ingold e Taussig se reportam a John Berger (2005BERGER, John. 2005. Berger on Drawing. Ed. J. Savage. Cork: Occasional Press.), que concebe o desenho próximo da música e da dança, que fluem com o tempo, ao passo que a fotografia aprisionaria o tempo.
Esse corte entre o gesto da mão e sua inscrição é fundamental para a argumentação de Tim Ingold, pois, conforme o autor, em sua concepção, o desenho possibilita “contar” [ to tell]. Há dois sentidos na noção de contar: narrar uma estória e “ser capaz de reconhecer pistas sutis em um ambiente e responder a elas com juízo e precisão” ( 2013INGOLD, Tim. 2013. Making. Londres: Routledge .:110). Para Ingold, estas duas acepções estão intimamente relacionadas, pois “para aqueles que ouvem, veem ou leem - incluindo o antropólogo engajado na observação participante - o contar estórias é uma educação da atenção” (:110). Em poucas palavras, “contar não é explicar o mundo [...] é mais precisamente, traçar um caminho para que outros possam seguir” (:110).
Entre os órgãos dos sentidos que possibilitam “contar” nos dois modos considerados por Ingold, a mão se sobressai em relação aos olhos, ouvidos, nariz e boca. O instrumento vocal como um todo, ainda que permita falar e cantar, de acordo com ele, seria marginal em nossa percepção. Os olhos permitiriam tanto ver quanto contar, mas estas duas operações, a depender de sua intensidade, poderiam ser mutuamente excludentes, pois quanto mais lágrimas um olho derrama, menos ele vê. As mãos, o principal órgão do tato, ao contrário, não enfrentariam esse paradoxo, pois quanto mais gesticulamos, mais as sentimos. Assim, Ingold vê uma correlação mais direta entre o sentir tátil e o contar via movimento e inscrição da mão do que via outros órgãos dos sentidos.
Na foto acima de Eve ( Figura 2), a intenção era caminhar com os olhos, como propõe a terapia Arte Org: mover as pupilas fisicamente, seguindo as linhas com traços mais fortes e as mais suaves, próximo daquilo que Ingold chama de “olhar com”. Se é possível este tipo de olhar na foto de Eve, isto se dá porque há um movimento de acoplamento contínuo entre o movimento gestual e o visual no momento da feitura. A longa exposição, seja em uma máquina analógica, seja digital, permite um fluxo do movimento contínuo das mãos para além do instante do clique. A diferença é que com as câmeras digitais é possível ver a imagem final no visor da câmera e, como diz Eve, por “tentativa e erro” ir encontrando aspectos mais luminosos na paisagem, que tracejam desenhos no sensor da câmera. Ao acompanhar as luzes do referente com o movimento da câmera, Eve combina gesto e visão em um mesmo movimento, criando dobras onde antes havia um corte, corporificando uma percepção outrora descarnada pelo click.
Em algumas máquinas atuais, é possível a sobreposição de muitos quadros em um mesmo frame, sem a necessidade de tratamentos ulteriores em softwares de edição de imagem, tornando o ato de fotografar próximo daquele de desenhar linhas sobrepostas em uma mesma folha de papel. As câmeras digitais, nesse sentido, possibilitam remontar um momento em que o desenho e a escrita à mão não estão marcados pela dicotomia entre o visual e o textual. Como na imagem abaixo ( Figura 3) - uma garatuja de luz realizada com o movimento da câmera fotográfica, sobreposta a um fundo escuro, difuso.
Há aqui atividades de transdução, nos termos de Ingold, a câmera transfere o ductus (um fluxo sinestésico) da fotógrafa para a fotografia. Entretanto, com a máquina fotográfica, os fluxos parecem surgir de modo mais embaralhado. Como analisa Sautchuk (2015SAUTCHUK, Carlos Emanuel. 2015. “Aprendizagem como gênese: prática, skill e individuação”. Horizontes Antropológicos, v. 21, n. 44. ), Ingold tem uma leitura própria do conceito de transdução, de Gilbert Simondon. O filósofo da técnica não estabelece de “antemão os fluxos (humanos e ambientais) e os transdutores” ( 2015SAUTCHUK, Carlos Emanuel. 2015. “Aprendizagem como gênese: prática, skill e individuação”. Horizontes Antropológicos, v. 21, n. 44. :131). Não seria possível dizer que a fotógrafa (fluxo humano) capta, por meio de um transdutor (máquina), o fluxo ambiental, pois a máquina fotográfica tem uma qualidade sensível específica, ou um fluxo próprio, que é potencializada pelo movimento gestual da fotógrafa e pela variação de luzes do ambiente. Nesse caso, Evelyn atua como transdutora da máquina e vice-versa, dentro de um sistema de relações em que as posições não estão previamente definidas. Desse emaranhado de fluxos, o resultado da fotografia é imprevisível. Um exemplo é a seguinte fotografia de Eve ( Figura 4), na qual o resultado do movimento da câmera com a mão é difícil de projetar.
Na Figura 4, a paisagem se desdobra em diversas linhas, os finos galhos das árvores se multiplicam contornando a cadeia de montanhas ao fundo. Um “olhar para” perde de vista as silhuetas que se desenham ao longo da imagem, os galhos que se desdobram linearmente emulam uma grafia a ser caminhada com os olhos próximo do “olhar com”.
Com estes exemplos, penso que já deve estar claro que a definição de fotografia de Ingold faz sentido para aquilo que se convencionou ser o seu uso ao longo do século XX, em parte das artes visuais, no trabalho de campo e no cotidiano, com a popularização de câmeras portáteis. As fotografias de Eve estão mais em consonância com aquilo que Phillippe Dubois (2016DUBOIS, Phillippe. 2016. A matéria-tempo e seus paradoxos perceptivos na obra de David Claerbout. In: A. Fatorelli, V. De Carvalho & L. Pimentel (Org.). Fotografia Contemporânea: desafios e tendências. Rio de Janeiro: Mauad.) e Susana Dobal (2012DOBAL, Susana. 2012. “Sete sintomas de transformação da fotografia documental”. Revista Ícone, v. 14, n. 1.) chamam de pós-fotografia, ou que André Rouillé (2009ROUILLÉ, André. 2009. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São Paulo: Editora Senac.) chama de fotografia-expressão. De acordo com as duas primeiras referências, a fotografia foi concebida como a arte do imóvel, do fixo e do instante por fotógrafos que vão de Muybridge a Cartier Bresson e teóricos que vão de Walter Benjamin a Roland Barthes. O par oposto à fotografia não é tanto o desenho, mas o cinema que, durante o século XX, foi definido como a arte do movimento, fluxo e duração por teóricos que vão de Bergson a DeleuzeDELEUZE, Gilles & GUATARRI, Félix. 1992. O que é filosofia? São Paulo: Ed. 34. e cineastas que vão dos Lumières a Epstein. Entretanto, como apontam Dubois e Dobal, nos finais do século XX e início do XXI, a distinção entre essas práticas tem sido implodida por aquilo que eles chamam de pós-cinema e pós-fotografia.
Um marco disso seria o fotofilme “La Jetée” (1962), de Chris Marker. Posteriormente, Jean-Luc Godard constrói o curta-metragem “Je Vous Salue Sarajevo” (1993) com apenas uma foto e voz-over. Obras como “Ruurlo” (2018) e “Long Goodbye” (2007), do artista David Claerbout, liberam a conceitualização da fotografia e do cinema a partir de um tempo dado e homogêneo, em que o corte seria o instante e a duração, o fluxo. A arte visual contemporânea fabrica o próprio tempo embaralhando fluxo e instante. Em “Ruurlo”, David Claerbout projeta um cartão-postal de 1910 que exibe uma frondosa árvore em primeiro plano, seguida ao fundo por um moinho. Ao contemplar essa paisagem fotográfica, começamos a perceber que as folhas das árvores se agitam. O vento que move a vegetação foi justamente aquilo que Mèlies afirmou como a singularidade do cinema, ao ver as primeiras exibições de filmes dos irmãos Lumière. A fabricação de temporalidades é mais evidente em “Long Goodbye” (2007), um extenso plano sequência, em câmera lenta, que mostra uma mulher servindo chá num jardim, para depois acenar para a câmera que a observa, recuando vagarosamente. A lentidão da cena contrasta com a rapidez com que o dia escurece. A altercação entre a temporalidade expandida do gesto da mulher e a compressão da velocidade do pôr-do-sol expõe de forma contundente a produção de temporalidades singulares, que ganham existência nessa instalação. Como analisa Dubois, as brincadeiras com as zonas de indefinição entre fotografia e cinema já estavam presentes nas vanguardas dos anos 1920, “a diferença é que hoje elas tendem a se tornar uma norma [...]. Basta conversar com artistas contemporâneos para perceber que eles não têm a mesma relação perceptiva ou imaginativa, as mesmas formas de análise ou os mesmos modos de pensar que a velha geração” ( 2016DUBOIS, Phillippe. 2016. A matéria-tempo e seus paradoxos perceptivos na obra de David Claerbout. In: A. Fatorelli, V. De Carvalho & L. Pimentel (Org.). Fotografia Contemporânea: desafios e tendências. Rio de Janeiro: Mauad.:21).
Além de David Claerbout, é possível citar uma série de artistas visuais que alargam o instante, transformando em fluxo a duração, como Hiroshi Sugimoto, na série “Theaters” (1978). O fotógrafo deixa o obturador da câmera aberto durante uma sessão de cinema, registra um filme inteiro - inúmeros quadros -, em apenas um frame de fotografia. O resultado, como ele mesmo diz, é uma visão “quase alucinatória”, um clarão da tela iluminando toda a sala escura.
Por fim, vale citar o trabalho de Michael Wessely que, nos finais dos anos 1970, experimenta fotografar pessoas, flores e multidões em longa exposição, inicialmente de 5 a 20 minutos, até que passa a expandir esse tempo para horas, dias, semanas e anos. Ele registrou a construção do Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista (São Paulo), de 12 de dezembro de 2014 a 22 de maio de 2017. Pelas mãos do fotógrafo, todo o processo de construção do prédio e a atmosfera climática desses anos deixam suas inscrições em linhas, rastros e sombras. A fotografia, com Wessely, já não aprisiona o tempo, como quer Ingold, mas flui com a transformação do tempo, deixando à mostra os rastros das coisas em duração estendida.
Mais do que isso, a produção de Wessely se aproxima da acepção de pós-fotografia de Joan Fontcuberta, fotógrafo e ensaísta, que escreveu “Por um manifesto pós-fotográfico”, em 2011. Sua definição não se respalda tanto pela clivagem entre instante e fluxo, mas pelo questionamento da autoria, seja porque muitas das imagens produzidas hoje independem largamente da escolha de um fotógrafo profissional, como as imagens de satélite e do Google, mas também pela popularização de dispositivos fotográficos e de edição de imagem, nunca dantes vista. Em outras palavras, qualquer um pode tirar e criar uma bela foto. Restaria ao artista “prescrever sentidos”, seu trabalho “se confunde com o curador, com o colecionista, o docente, o historiador da arte, o teórico... (qualquer faceta na arte é camaleonicamente autoral)” ( Fontcuberta 2014FONTCUBERTA, Joan. 2014. “Por um manifesto pós-fotográfico”. Revista Studium, n. 36., s/p).
As fotografias de Wessely são feitas com uma câmera que ele mesmo criou e que permite ficar em um lugar durante anos, registrando as mudanças do referente em um mesmo frame. A transdução ocorre quase sem mediação humana. As dobras e as zonas de contágio entre fotografia, cinema e desenho seriam justamente um espaço de atuação camaleônica do artista. Penso que as fotografias da Eve, que privilegiam outras formas de ver, como o “olhar com”, caminhar com olhos e olhar difuso, seriam uma reação à saturação de nossa “ecologia visual”, prescrevendo um outro sentido nos modos de ver, como diz Fontcuberta. Afinal, conforme a teoria nativa da Arte Org, um mundo saturado de imagens também explicaria o descolamento da percepção visual de outras dimensões do corpo e dos próprios olhos. Como dizia Jovino em tom paradoxal, “é necessário voltar a ver com os olhos”, pois podemos ver uma imagem a partir de outras imagens, de ideias e sentimentos, mas não necessariamente movendo toda a musculatura ocular e de outras partes do corpo.
Se o conceito de pós-fotografia levanta questões para acepções estanques entre fotografia e desenho, tal como definida por Ingold, a noção de fotografia-expressão de Rouillé enfatiza a necessidade de definições mais contextuais, pragmáticas e, diria, etnográficas de fotografia. Rouillé observa que, ao longo da história, a fotografia foi definida por sua conexão com o referente, seu uso documental, portanto, a singularizava em relação a outros modos de representação. O click da câmera com a ponta do dedo, como enfatiza Ingold, e o “tirar uma foto”, como nota Michael Taussig, são formas de delimitar a fotografia como registro de um referente: “a fotografia é real pela maneira com que as fotografias são [reais]” ( Taussig 2011TAUSSIG, Michael. 2011. I swear, I saw this. Chicago: University of Chicago Press .:93).
Entretanto, Rouillé (2009ROUILLÉ, André. 2009. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São Paulo: Editora Senac.) compreende que, ao lado da visão da fotografia como documento e registro, há uma outra prática fotográfica que a abrange como um processo de encontro entre a imagem e o referente. Ou seja, nesse encontro, a ideia de uma transparência entre imagem e referente é questionada em favor da experiência do fotógrafo com o seu objeto, abrindo espaço para dimensões poéticas e subjetivas, entre o eu e o outro, naquilo que Rouillé define como fotografia-expressão. Se essa prática já está presente em fotógrafos surrealistas como Man Ray, Dora Maar e Brassaï, ela se dissemina e se amplia na fotografia contemporânea. Eve produz justamente fotografia-expressão, na qual as sensações do ambiente e seu gesto são impressas em sua fotografia.
Imagem, movimento e a cura
Como elabora Michael Taussig, há outra relação entre fotografia e desenho, para além da distinção entre fluxo e instante, relação que se conecta a uma dimensão terapêutica. Encontro ressonâncias entre essa ideia, a Arte Org e as fotografias de Eve.
No livro I swear, I saw this, Taussig toma como ponto de partida um desenho e a frase que dá título à sua obra para refletir sobre a prática de campo e seus modos de inscrição. A frase e o desenho irrompem de uma experiência espantosa, vivenciada em Medellín, na Colômbia, no ano de 2006, momento de intensificação do conflito armado. Por volta das 13h30, dentro de um táxi, ele entra em um túnel e avista pessoas deitadas. Em seguida, vê de relance uma mulher costurando um homem dentro de um saco. Após testemunhar essa cena, escreve em seu caderno de campo a frase “Eu juro que vi isso” e, logo depois, desenha a cena descrita acima. Ao voltar a esse desenho e à frase, a pergunta que surge em sua mente repetidas vezes é: qual é a diferença entre ver e acreditar? Entre ver e testemunhar? Por que, além da frase, foi necessário desenhar o que se viu? Sua pista inicial, que se desdobra em outras, é que “o desenho é mais do que um resultado do ver. É um ver que duvida de si mesmo e, além disso, duvida do mundo humano” ( Taussig 2011TAUSSIG, Michael. 2011. I swear, I saw this. Chicago: University of Chicago Press .:2).
O ver que duvida de si mesmo é equivalente à experiência da visão alucinatória do Yagé. Como Taussig aprendeu com Bosco, um de seus interlocutores, é o “ver vendo” [seeing seeing], um ver tão estranho à percepção que, ao duvidar de si mesmo, duplica-se: não basta ver uma única vez, é necessário ver inúmeras vezes, mesmo que esse ver seja o resquício de uma memória, de uma imagem vista que, volta e meia, retomamos, para certificar a veracidade de algo testemunhado. O desenho da mulher costurando um homem num saco é justamente essa dúvida que duplica. Não bastou escrever “eu juro que vi isso”, foi necessário fazer um desenho que duplicasse o ato de ter visto com os próprios olhos algo que, de tão estranho, parecia-lhe ilusório.
Na língua inglesa, o verbo to draw também significa ser atraído. Taussig, em seus próprios termos, foi desenhado por esse desenho, simultaneamente seduzido por ele e alinhavado por esse movimento de inscrição corporal, fruto do ato de tecer linhas com a caneta. O desenho acenaria para a dimensão lúdica do registro etnográfico que, junto com a escrita, revelaria diferentes caminhos e direções de leitura, significados inesperados e “becos sem saídas” ( 2011TAUSSIG, Michael. 2011. I swear, I saw this. Chicago: University of Chicago Press .:47). A dimensão lúdica e mágica do desenho advém do fato de ele vir em fragmentos, assim como as imagens de adivinhação e rituais de cura de toma de Yagé, que sugerem um mundo além: “ao apontar para longe do real, eles [os desenhos] capturam algo invisível e aurático, que faz com que a coisa retratada valha a pena de ser retratada” ( Taussig 2011TAUSSIG, Michael. 2011. I swear, I saw this. Chicago: University of Chicago Press .:13).
Nesse sentido, o desenho comungaria da característica antitotalizante, estaria próximo da dança e da música, pois é um fazer longitudinal do corpo, que envolve o tempo, semelhante à acepção de Ingold. A fotografia é diferente, como mencionado acima, pois seria um ato de “tirar” [ taking] e congelar o tempo ( Taussig 2011TAUSSIG, Michael. 2011. I swear, I saw this. Chicago: University of Chicago Press .:21). Se estas fossem características gerais do desenho, quando comparado à fotografia ao longo do século XX, o interesse de Taussig, mais do que estabelecer diferenças estanques entre eles, está justamente em compreender a distinção entre ver/acreditar, ver/testemunhar, fotografia/magia e desenhar/curar. O caderno de campo emerge nesse contexto como um lugar de testemunho, adivinhação e cura, no qual desenho e escrita, cada qual ao seu modo, jogam um papel importante nessa conjunção.
A escrita e o desenho, por sua vez, seriam parte de um mesmo processo, no caderno de campo. Escrevemos e desenhamos na mesma folha, ao passo que a fotografia é um procedimento à parte, da concepção à revelação em papel específico. Diferentemente de Ingold, Taussig pontua mais singularidades entre o desenho e a escrita. Para ele, o ato de escrever é sempre acompanhado por um hiato desesperador entre aquilo que ele vive em campo e as palavras: “quanto mais você escreve em seu caderno de campo, mais você fica com aquela sensação de estar afundando, de que a realidade retratada retrocede, de que a escrita está, na verdade, empurrando a realidade para fora da página” ( Taussig 2011TAUSSIG, Michael. 2011. I swear, I saw this. Chicago: University of Chicago Press .:16). Em contrapartida, o desenho, por vir em fragmentos, sem compromisso com o real e a totalidade, proporciona um “conforto psicológico” (:20). A escrita no caderno de campo torna-se mais interessante: quando relemos o caderno, a experiência é estimulada - menos pelas palavras deixadas nas folhas de papel e mais por aquilo que elas omitem.
Desenho e escrita fazem parte dos exercícios-procedimentos da Arte Org, cada praticante tem um caderno de terapia, onde anota as sensações corporais e perceptivas, geralmente após realizar exercícios. Essas anotações podem ser escritas ou simplesmente desenhadas, o importante é que o paciente consiga lembrar da experiência de ter feito o exercício, os desdobramentos dele e que paulatinamente consiga acompanhar-se com autonomia. Sempre preferi desenhar após os exercícios, era como se o desenho permitisse permanecer na mesma frequência dos movimentos há pouco realizados. A escrita tinha o efeito relatado por Taussig, algo parecia fugir por entre os dedos, o que exigia uma meditação para escolher cada palavra ou um movimento frenético para não esquecer de registrar nada. Lembro de um diálogo que tive com Jovino sobre como cada material de inscrição - lápis, caneta, giz de cera, aquarela, entre outros - imprime sensações diferentes no caderno terapêutico. Na sala de terapia, há um cesto com giz de cera e espelhos escuros pintados com spray. Segundo Jovino, esses modos de inscrição privilegiam um efeito mais difuso, ao passo que o lápis e a caneta esferográfica seriam mais diretivos, com suas pontas e linhas mais afiadas.
Eve já tinha tido aulas de desenho quando cursava Publicidade e Propaganda, mas ela diz que o desenho praticado na Arte Org foi mais importante para o seu fazer fotográfico, uma vez que a atenção se volta mais para a coordenação entre o movimento do gesto e a expressão gráfica do que para uma acuidade técnica dirigida a produzir uma imagem transparente em relação ao referente. Neste tipo de desenho, o gesto é difuso, assim como o seu resultado, especialmente se for feito com giz de cera e outros materiais menos afiados para grafar. Eve foi construindo com as fotografias uma espécie de caderno à parte, com a série intitulada de “Paisagens Difusas”. Com os ajustes de abertura do diafragma, velocidade do obturador e sensibilidade de ISO, incorporando um movimento gestual, Eve tira fotos difusas, menos diretivas e focadas. Como nas fotografias abaixo ( Figuras 5 e 6), a primeira tirada em Valdivia e a segunda no Vale de Cochamó, regiões do sul do Chile, que compõem a série “Paisagens Difusas”.
A primeira fotografia remete ao “olhar difuso” da Arte Org, com as pálpebras levemente fechadas, quando é possível ver gradações de luz esbranquiçadas, azuladas, alaranjadas e escuras a depender da iluminação local. Já a fotografia no Vale de Cochamó é o mesmo modo de olhar, mas com os olhos abertos, onde o contorno das coisas parece se mover levemente. Como no embaralhamento das linhas que tracejam a montanha, o lago, a margem e os arbustos na imagem acima. Ao fazer isso, Eve aproxima a fotografia dos procedimentos terapêuticos da Arte Org, especialmente aqueles ligados ao relaxamento da musculatura ocular, a possibilidade de sair de um modus operandi focado em metas na resolução de problemas. Para Eve, produzir essas fotos a coloca em maior engajamento com a atmosfera do lugar, com a atenção para a iluminação e o movimento das folhagens e coisas.
Interessante notar que a fotografia está menos associada à cura do que à origem de uma patologia. Em diferentes contextos, a fotografia é associada à magia ( Caiuby Novaes 2008CAIUBY NOVAES, Sylvia. 2008. “Imagem, magia e imaginação: desafios ao texto antropológico”. Mana, v. 14, n. 2:455-475.) e compreendida como objeto patogênico entre povos indígenas, como os Asuriní, no Xingu ( Villela 2015VILLELA, Alice. 2015. “Quando a imagem é pessoa ou a fotografia como objeto patogénico”. In: Caiuby Novaes (org.), Entre arte e ciência a fotografia na antropologia. São Paulo: Edusp . pp. 109-122.). Segundo Sylvia Caiuby NovaesCAIUBY NOVAES, Sylvia. 2010. “O Brasil em imagens: caminhos que antecedem e marcam a antropologia visual no Brasil”. In: C.B. MARTINS & L.F. DUARTE, Horizontes das ciências sociais no Brasil. São Paulo: Discurso Editorial e Barcarolla., entre as possíveis origens da palavra “imagem”, estariam as palavras “imitar” e “magia”: “[o] termo francês magie vem do grego mageia (de magos, mage): arte de produzir efeitos maravilhosos pelo emprego de meios sobrenaturais e, particularmente, pela intervenção de demônios” ( 2008CAIUBY NOVAES, Sylvia. 2008. “Imagem, magia e imaginação: desafios ao texto antropológico”. Mana, v. 14, n. 2:455-475.:456). Ao retomar a distinção entre religião e magia de Marcel Mauss, Caiuby Novaes argumenta que a primeira “tende à metafísica e às abstrações intelectuais [...], a magia apaixona-se pelo concreto” ( Caiuby Novaes 2008CAIUBY NOVAES, Sylvia. 2008. “Imagem, magia e imaginação: desafios ao texto antropológico”. Mana, v. 14, n. 2:455-475.:456), pois estaria fundamentada pelas leis de “contiguidade e de similaridade” (:461). A fotografia, segundo a antropóloga, abarca estas duas leis, ao ser produzida em semelhança com o real e também na contiguidade fotoquímica no modo analógico e, acrescento, na impressão da luz no sensor nas câmeras digitais.
Em diálogo com Taussig, Caiuby Novaes respalda a relação entre imagem e magia em sua qualidade mimética. Para Taussig, “[a] magia da mimesis está no ato de desenhar e copiar a qualidade e o poder do original, a tal ponto que a representação pode até mesmo assumir aquela qualidade e poder” (Taussig citado em Caiuby Novaes 2008CAIUBY NOVAES, Sylvia. 2008. “Imagem, magia e imaginação: desafios ao texto antropológico”. Mana, v. 14, n. 2:455-475.:459). Esta é uma das razões pelas quais para Taussig, diferentemente de Ingold, o desenho e a fotografia são concebidos como imagens que, no contexto xamânico do Putumayo, têm efeitos mágicos patogênicos e de cura. Como ocorre em muitos povos ameríndios, a imagem de uma pessoa é a continuidade daquela pessoa e, por esta razão, guarda ou suga o “poder do original”, ou o princípio vital do ser fotografado ( Villela 2015VILLELA, Alice. 2015. “Quando a imagem é pessoa ou a fotografia como objeto patogénico”. In: Caiuby Novaes (org.), Entre arte e ciência a fotografia na antropologia. São Paulo: Edusp . pp. 109-122.). É nesse sentido que imagens podem possuir outras pessoas ou, no caso dos Asuriní, conforme Villela, “a câmera fotográfica suga o ynga (princípio vital) da pessoa fotografada ao reproduzir sua imagem, ayngava” ( 2015VILLELA, Alice. 2015. “Quando a imagem é pessoa ou a fotografia como objeto patogénico”. In: Caiuby Novaes (org.), Entre arte e ciência a fotografia na antropologia. São Paulo: Edusp . pp. 109-122.:115).
Taussig narra seu espanto ao ver a imagem do espírito pelo qual a mãe de Bosco dizia estar possuída: era uma fotocópia que mostrava um indígena local e, como narra Taussig, ela estava a meio caminho entre fotografia e desenho, pois era fruto de inúmeras reproduções em xerox do retrato original. Além disso, ele mesmo se perguntava se a imagem original teria sido uma fotografia ou um desenho. A ambivalência dessa imagem perturbadora “trouxe para fora seu poder espiritual. Com essa estranha imagem, ela [a mãe de Bosco] não precisava de Yagé! Equilibrada entre a fotografia e o desenho, a própria imagem criava um efeito de Yagé” ( Taussig 2011TAUSSIG, Michael. 2011. I swear, I saw this. Chicago: University of Chicago Press .:87).
A mãe de Bosco recusava-se a tomar Yagé e desprezava quem o fizesse. Ela estava inexplicavelmente muito doente, não conseguia se livrar dessa imagem e, segundo Taussig, quando a imagem desaparecesse, ela também sucumbiria. Produzir imagens contra outras imagens é uma forma de curar. O desenho da mulher costurando um homem, que Taussig fez, foi uma maneira de desenhar essa visão antes que o próprio antropólogo fosse desenhado/possuído por ela. No ritual de cura de Yagé, “a pessoa que pode ver, mas não fala [o xamã], precisa da pessoa que pode falar, mas não vê” ( Taussig 2011TAUSSIG, Michael. 2011. I swear, I saw this. Chicago: University of Chicago Press .:101). O xamã é aquele que tem o poder de passar as suas visões para que o doente as veja e seja curado; raramente ele fala. Diferentes antropólogos discutem o papel do xamã para redesenhar o corpo da pessoa convalida, para curar ( Gebhart-Sayer 1985GEBHART-SAYER, Angelika. 1985. “The geometric designs of the Shipibo-Conibo in ritual context”. Journal of Latin-American Lore, v. 2, n. 2: 143-145.; Gow 1989GOW, Peter. 1989. “Visual compulsion: design and image in Western Amazonian cultures”. Revindi, v. 2:19-32., 1999; Lagrou 1993LAGROU, Els. 1993. “Resenha de GOW, Peter. Visual compulsion: design and images in Western Amazonian Cultures”. Antropologia em primeira mão, v. 9:1-27.; Lotierzo 2022LOTIERZO, Tatiana. 2022. “Amarrar ressonâncias: considerações sobre desenho e antropologia”. Revista de Antropologia, 65 (2):e197963.).
Taussig revela que o xamã é sobretudo aquele que projeta imagens produzidas por ele ou pela planta de conhecimento contra outras imagens que aprisionam o adoentado. Mas, para projetar imagens, é necessário produzir um corpo capaz de ter essas visões, que são geralmente acompanhadas de movimentos das mãos, danças e chocalho. No livro Mimesis and Alterity, Taussig (1993TAUSSIG, Michael. 1993. Mimesis and alterity, a particular history of the senses. New York: Routledge.) mostra como o povo Cuna (Colômbia) produzia entalhe dos colonizadores como forma de cura. Seria possível dizer que a cura está associada a “um fazer”, ao passo que a imagem adoece “ao tirar”. A fotografia estaria, neste caso, mais ligada à dimensão patogênica.
Na Arte Org, lidamos com imagens que impregnam nosso pensamento e nos afetam profundamente em nosso fluxo de consciência, em nossas falas, sonhos e durante algum exercício da terapia. São imagens de pessoas conhecidas ou não, de lugares, animais, árvores, plantas, imagens difusas, entre outras coisas. Nessa terapia, a linguagem falada por si só não seria capaz de trabalhar essa fixação, é necessário sobretudo dar corpo a essas imagens, sentir as sensações provocadas por ela, pois as resistências são flexibilizadas não apenas no nível da linguagem, mas em sua dimensão corporal. É nesse sentido que, em um dos exercícios da Arte Org, chamado “Luz Infravermelha 1”, após sentir a sensação que determinada imagem traz, faz-se um movimento com foices para dissolvê-la, acompanhado pelos seguintes dizeres: “Isso é meu, faz parte de mim, não vou interferir, só quero diluir”. O procedimento terapêutico está ligado a um movimento corporal longitudinal de fazer a sensação produzida pela imagem ir de dentro para fora. A sensação trazida pela imagem é expressão de uma energia que retesa os tecidos e a musculatura do corpo, que precisa fluir com movimentos das mãos.
Quando Eve fala que desenha com a máquina fotográfica, ela também se espelha nesse deslocamento do corpo que desenha no ar. Ao tomar a câmera como um transdutor, ela mostra que a fotografia também é um ato de fazer, que pode muito bem desenhar imagens contra outras imagens que nos aprisionam.
Antropologia visual e desenho: em favor das dobras e do contágio
Nesta seção do artigo, apresento as propostas sobre desenho e antropologia de Karina Kuschnir, Aina Azevedo, Andrew Causey, Emiliano Dantas, Amanda Ravetz, entre outros, mais abertas a pensar nas dobras e no contágio entre diferentes modos de fazer. Eles enfatizam a qualidade singular do desenho para estender o tempo da observação, para prover uma atenção às formas geométricas do que está sendo retratado em campo, bem como para tecer relações com interlocutores ( Azevedo 2016AZEVEDO, Aina. 2016a. “Desenho e antropologia: recuperação histórica e momento atual”. Cadernos de arte e antropologia, v. 5, n. 2.; Causey 2017CAUSEY, Andrew. 2017. Draw to see. Toronto: University of Toronto Press.; Kuschnir 2018; Dantas 2021DANTAS, Emiliano. 2022. “A imagem enquanto leitura e escrita do mundo”. Iluminuras, Porto Alegre, v. 23, n. 61:175-205). Como afirma Azevedo, quando o/a antropólogo/a se demora na execução de um desenho, “seja […] [um] desenho mal feito ou até mesmo um simples esboço - o que ocorre é um certo tipo de investimento na observação que, por alguns momentos, se detém na percepção e inscrição de elementos eventualmente desconhecidos do pesquisador” ( 2016AZEVEDO, Aina. 2016a. “Desenho e antropologia: recuperação histórica e momento atual”. Cadernos de arte e antropologia, v. 5, n. 2.:116). Kuschnir sublinha o aspecto autoral do desenho, que é “indissociável da biografia, do olhar e da imaginação de seu autor, bem como das condições em que foi produzido, tema central na discussão contemporânea sobre a autoria etnográfica” ( 2016KUSCHNIR, Karina. 2016. “A antropologia pelo desenho: experiências visuais e etnográficas”. Cadernos de arte e antropologia, v. 5, n. 2.:9). Na pintura de aquarela, Causey afirma: “Pude pensar nas formas tridimensionais e bidimensionais para recriá-las - vê-las - e me concentrar naquelas que representavam mais honestamente minha experiência do lugar, sem traduzir o momento em palavras ( 2017CAUSEY, Andrew. 2017. Draw to see. Toronto: University of Toronto Press.:8). Dantas, por sua vez, diz: “enquanto eu sentava e desenhava, crianças curiosas se aproximavam e começavam a conversar”. 9 9 Informação retirada do site do autor: https://www.emilianodantas.com/sao-tome.
Azevedo faz uma síntese dos modos de pensar o desenho na antropologia contemporânea, com destaque para as propostas de Ingold e Taussig. Para ele, o desenho é “entendido como um processo, uma maneira de pensar, observar, conhecer, descrever e revelar menos comprometido com o resultado final” ( 2016AZEVEDO, Aina. 2016a. “Desenho e antropologia: recuperação histórica e momento atual”. Cadernos de arte e antropologia, v. 5, n. 2.: 24). Junto com elas, estariam as reflexões e as atividades que ela própria, Kuschnir e Causey têm desenvolvido, voltadas ao desenhar “como uma técnica mais densamente trabalhada em cursos que enfatizam igualmente o desenho enquanto processo e, além disso, produto final, bem como o desenvolvimento das habilidades dos antropólogos” (2016:24). 10 10 Azevedo, Kuschnir e Causey, cada qual a seu modo, pontuam as diferenças entre desenhar e fotografar, reconstituindo uma interessante história do desenho na antropologia, que inclui produções de enciclopedistas, antes ainda do advento da fotografia, grafismos indígenas e gráficos elaborados por Lévi-Strauss e Alfred Gell para explicar mitos, conceitos e teorias. A fotografia e o filme, como mostram, acabaram substituindo determinados tipos de desenho nos trabalhos de campo, por exemplo, aqueles que descreviam a chamada “cultura material” de um povo. Mas, como argumentam, há outras razões para o ocaso desse tipo de desenho no desenvolvimento da antropologia, que deve ser entendido no contexto de um panorama mais amplo dos regimes de visualidades e modos de legitimação de nossa disciplina como ciência.
Nas minhas idas a campo, acompanhei Eve tirando fotografias no mirante do Sesc Avenida Paulista, em uma das regiões mais altas da cidade de São Paulo. Combinamos de nos encontrar um pouco antes do entardecer, pois, segundo ela, à medida que escurecia, era possível fazer mais desenhos com a luz ambiente. Aprendi com Eve que há toda uma imersão temporal e espacial envolvida na observação da iluminação, para encontrar na paisagem dos prédios, na avenida, nas nuvens no céu e no poente os raios que possam desenhar rastros no sensor da câmera, as formas e, especialmente, a intensidade das cores que contam mais nessa observação. São mergulhos temporais e espaciais diferentes entre um desenho feito a lápis e outro com a máquina fotográfica. Se, no primeiro caso, geralmente, costumamos trabalhar com um desenho sobre um referente, no caso da fotografia de Eve, são várias fotos-desenho, até chegar a um resultado inesperado, mas expressivo. Como ela diz, “é na tentativa e erro” que se desenha com a câmera, “é semelhante ao desenho cego”. Eve olha para o referente e para o movimento com as mãos, mas no momento da execução não consegue ver no visor da câmera o que está sendo desenhado. Quando o obturador fecha, ela olha pelo visor o resultado e avalia. Se ficou bom, passa para outro referente, caso contrário, volta a modular o movimento da câmera sobre os mesmos referentes até se contentar com o desenho feito.
Essa combinação entre fotografia e desenho tecida por Eve aparece também nas oficinas e nas disciplinas sobre desenho ministradas por Azevedo e Kuschnir. Como elas mostram, o diálogo entre esses modos de expressão é salutar para estabelecer diferenças, mas também ajuda a perceber semelhanças e potencialidades que nascem na contaminação desses meios. Como menciona Azevedo, “ao invés de uma centralidade em torno do desenho, a diversificação de linguagens passou a ser a tônica de experiências em grupos de trabalhos, oficinas e disciplinas acadêmicas” (Azevedo 2020:34). A contaminação entre desenho e outras formas expressivas, como o filme, tem sido buscada por antropólogas visuais, como Sarah Pink (2011PINK, Sarah. 2011. Drawing with our feet (and trampling the maps): walking with video as graphic anthropology. In: Tim Ingold (org.), Redrawing Anthropology. Farnham: Ashgate .), Amanda Ravetz (2011RAVETZ, Amanda. 2011. “‘Both created and discovered’: the case for reverie and play in a redrawn anthropology”. In: Tim Ingold (org.), Redrawing Anthropology. Farnham: Ashgate ., 2021) e Anna Grimshaw (2021GRIMSHAW, Anna & RAVETZ, Amanda. 2021. “Desenhar com uma câmera? filme etnográfico e Antropologia Transformadora. GIS, 6 (1).). Em diálogo com Ingold, Pink propõe que a experiência de filmar sua própria caminhada é uma forma de desenhar: “Essa é uma forma de pensar sobre o andar com o vídeo como um tipo de desenho” ( 2011PINK, Sarah. 2011. Drawing with our feet (and trampling the maps): walking with video as graphic anthropology. In: Tim Ingold (org.), Redrawing Anthropology. Farnham: Ashgate .:148). Do ponto de vista de quem vê a filmagem, o desenho da caminhada desdobra-se no olhar e na atração da imagem sobre o espectador: “A representação do vídeo convida o espectador a seguir em frente com os sujeitos do vídeo - e a pessoa que filma -, à medida que eles desenham com seus pés. De fato, há também uma sensação de ser puxado e atraído/desenhado [ drawn to] para a/na rota” ( 2011PINK, Sarah. 2011. Drawing with our feet (and trampling the maps): walking with video as graphic anthropology. In: Tim Ingold (org.), Redrawing Anthropology. Farnham: Ashgate .:148). Neste experimento, o desenho é grafado nos rastros da caminhada, gravados pela câmera de vídeo, aproximando-se da ideia de Ingold (2007INGOLD, Tim. 2007. Lines. Londres: Routledge .) sobre a semelhança entre o ato de andar e o de desenhar, que deixam linhas a partir de seus movimentos.
Amanda Ravetz (2011RAVETZ, Amanda. 2011. “‘Both created and discovered’: the case for reverie and play in a redrawn anthropology”. In: Tim Ingold (org.), Redrawing Anthropology. Farnham: Ashgate .) observa afinidades entre o cinema, o desenho e o devaneio, a partir do conceito de atenção ou consciência ampliada, em diálogo com a definição de uma atenção processual, aberta à criação e ao improviso, proposta por Ingold. Essa consciência ampliada, segundo Ravetz, poderia ser encontrada no ato de desenhar, mas também naquilo que Jean Rouch definiu como ciné-transe, ao pensar a filmadora como catalisadora de modos de ver e ouvir diferentes daqueles usados no cotidiano. A primeira vez em que Ravetz percebeu estar nesse estado de consciência ampliada foi em cursos intensivos de desenho, na escola de artes. O mesmo estado repetiu-se quando ela realizou filmes observacionais. Em ambos os casos, a autora explica que sua consciência parece estar estendida, diluída ou expandida nas coisas que ela observa. A consciência estendida, para Rouch, requer um papel ativo do realizador do filme, a filmadora catalisava também essa consciência ampliada e a inspiração involuntária do cineasta, papel este propiciado pela interação com seus interlocutores. Essa seria uma dimensão de sonhos compartilhados e improvisos surgidos na interação, como em uma jam session entre músicos de jazz. A esse duplo estado de consciência ampliada e deleite involuntário, Ravetz associa a definição de “desenho livre”, da artista e psicanalista Marion Milner. Insatisfeita com os próprios desenhos, Milner cria um método de “desenho livre”, ao experimentar desenhar: 1. em um estado de distração, no qual as mãos desenham livremente, resistindo a que a consciência projete determinados resultados no desenho; 2. coisas do cotidiano, explorando o tato e o movimento muscular, mais do que uma perspectiva linear. O resultado é um tipo de olhar e desenhar em que as coisas observadas se dispõem ora separadas, ora misturadas, alternando-se entre um estado de consciência ampliada, devaneio e ilusão. Ravetz conclui: “desenhar para Milner e filmar para Rouch compartilham uma interação [ interplay] similar entre movimento, ritmo, devaneio, improvisação, intencionalidade, ação, foco, planejamento e conhecimento” ( 2011RAVETZ, Amanda. 2011. “‘Both created and discovered’: the case for reverie and play in a redrawn anthropology”. In: Tim Ingold (org.), Redrawing Anthropology. Farnham: Ashgate .:169).
Este argumento de Ravetz é desenvolvido para outros cineastas-antropólogos, como John Marshall e David Macdougall, em artigo escrito a quatro mãos com Anna Grimshaw. Como mencionado acima, elas defendem a possibilidade de desenhar com a câmera: “ver o filme de processo como análogo ao desenhar é entendê-lo como um meio de ‘conhecer com’, em vez de conhecer sobre. [...] Os trabalhos de Marshall, Rouch e MacDougall (e o nosso mesmo) podem ser entendidos como desenhos, nos termos de Ingold e Taussig - rastros de uma câmera incorporada implicada no mundo” ( Grimshaw & Ravetz 2021GRIMSHAW, Anna & RAVETZ, Amanda. 2021. “Desenhar com uma câmera? filme etnográfico e Antropologia Transformadora. GIS, 6 (1).:25).
Esse modo de consciência ampliada de que fala Ravetz é muito semelhante ao conceito de “presença corporal” da Arte Org, quando há uma integração total entre o movimento do corpo, a percepção e os fluxos do ambiente. A presença tem várias camadas, trabalhadas em diferentes exercícios da terapia, a título de exemplo, há presenças com forças finas e grossas, com volume, com os órgãos, com as pernas, braços, olhos, entre outras maneiras de sentir a vibração presente no organismo. Para desenhar com a câmera fotográfica, Eve faz o movimento de uma das partes do exercício da “Presença Simples”, que como diz a pauta: é necessário tocar “o ar com cuidado, como fazendo uma escultura de ar no ar”. Como já mencionado, ela move a máquina tocando suavemente no ar captando as luzes do ambiente em um movimento em cadência lenta, improvisado e que resulta em paisagens inventadas, onde por vezes o referente se dilui em movimento, ganha outras camadas de sentidos e novas paisagens desenhadas. A prática de Eve, portanto, não deixa de ser uma maneira de “conhecer com” a iluminação ambiente, observando nessa relação entre máquina e luzes suas potencialidades imprevistas. Na fotografia abaixo ( Figura 7), temos um exemplo da paisagem completamente diluída pelo movimento.
Se não fosse a legenda da fotografia, não saberíamos dizer onde ela foi desenhada. Mas, comparando com outras fotografias da mesma região, é possível entrever pelas paletas de cores uma sequência advinda de um mesmo lugar. Os tons terrosos e levemente avermelhados predominam no período de estiagem no cerrado brasileiro. Na fotografia a seguir ( Figura 8), uma das prediletas de Eve, vemos uma cadeia de montanhas grafadas pelas luzes dos carros em meio a cerros da Chapada dos Veadeiros (GO).
Há aqui um interessante movimento análogo à Arte Org, pois a fotografia não é apenas fruto de uma presença corporal, mas também daquilo que a terapia chama de “ausência”: caminhar com a atenção voltada para outros lugares distantes do corpo. A série “Paisagens inventadas”, ao mesmo tempo que se cria em coemergência com o ambiente, em um “conhecer com” a iluminação do lugar, produz algo para além desse lugar, uma virtualidade que se atualiza em devir. Um dos objetivos da terapia é efetuar um corpo capaz de vagar com a atenção de modo corporificado, pois a ausência é profundamente restaurativa e importante para processos criativos. Mais do que isso, as sensações, as impressões, as imagens e os lugares a que vamos em estado de ausência revelariam muito de nossas ações cotidianas. Nesse sentido, as paisagens inventadas de Eve expressam essas impressões e sensações, que estão no lugar por sua iluminação, mas que se atualizam na fotografia com outros contornos, desvelando outros horizontes para além do referente.
Eve não é antropóloga, mas sua experiência fotográfica ampliou meu modo de pensar a antropologia visual. A partir de suas fotografias, montei o filme Habitar os olhos, seguindo as linhas de suas fotografias. 11 11 Por falta de espaço não comentarei mais detalhadamente a edição do filme. Para quem tiver interesse em assisti-lo, segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=EftObDNVUT0&t=48s. Ingold e Taussig argumentam que o desenho está livre do enquadramento da fotografia e do cinema. Vimos acima como a prática de desenhar com a fotografia questiona a premissa destes autores. No caso do cinema, Grimshaw e Ravetz consideram que o enquadramento, nos filmes de Rouch, Marshall e MacDougall, é “móvel e ocorre a partir de uma perspectiva fluida e situada”. Elas argumentam que, ao “enfatizarem essas qualidades” do enquadramento, tais diretores buscam apegar-se “à luta dialética entre modos abertos de se mover fluidamente e a experiência e os atos seletivos de enquadrar essa experiência. É precisamente essa tensão dialética que gera a consciência ampliada e novos modos de conhecer” ( 2021GRIMSHAW, Anna & RAVETZ, Amanda. 2021. “Desenhar com uma câmera? filme etnográfico e Antropologia Transformadora. GIS, 6 (1).:25).
Assim, o enquadramento não seria necessariamente um fator limitante no processo de filmagem, pois nem sempre emoldurar uma cena significa uma projeção mental sobre o contexto e um corte no fluxo gestual. Pelo contrário, no movimento contínuo entre enquadrar e reenquadrar, entre o que fica fora e o que fica dentro, o enquadramento “estende, em vez de reduzir, a continuidade entre gesto, observação e descrição que é o desenhar” ( 2021GRIMSHAW, Anna & RAVETZ, Amanda. 2021. “Desenhar com uma câmera? filme etnográfico e Antropologia Transformadora. GIS, 6 (1).:23).
Tal como Eve, outros/as antropólogos/as têm buscado ampliar os usos e os fazeres da fotografia. Como citado anteriormente, Emiliano Dantas, em um interessante diálogo com Paulo Freire, Ingold e DeleuzeDELEUZE, Gilles. 2018. Cinema 1 - Imagem-movimento. São Paulo: Ed. 34 ., articula filme, fotografia, desenhos, jogos, entre outros modos criativos de diálogo com seus/suas interlocutores/as. A fotografia para ele não está restrita ao enquadramento, mas pode ser pensada como “coisa” na leitura ingoldiana de Heidegger, como “um lugar onde vários aconteceres se entrelaçam” (Ingold 2021:29). Para Dantas: “pensar a imagem como coisa [...] abre espaço para uma fotografia exploratória do mundo visível, que narra se desprendendo de formatações limitantes” ( Dantas 2022DANTAS, Emiliano. 2022. “A imagem enquanto leitura e escrita do mundo”. Iluminuras, Porto Alegre, v. 23, n. 61:175-205:199). Em suas mãos as fotos ganham outras camadas de sentido, seja sobrepondo desenhos, costurando-as, colando objetos, projetando-as em corpos ou monumentos.
Destaco também o trabalho de Joon Ho Kim (2013KIM, Joon Ho. 2013. O estigma da deficiência física e o paradigma da reconstrução cibernética do corpo. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo.) que, em sua tese sobre estigma e deficiência, apresenta uma série de fotografias que expressam velocidade e movimento, a partir da técnica de longa exposição, justamente em um contexto em que, a priori, veríamos imobilidade: cadeirantes jogando rúgbi. Cito ainda o trabalho de Rafael Hupsel (2017), que mostra que, assim como o desenho, como quer Taussig, a fotografia com o jogo de luzes e reflexos expressa visões alucinatórias na toma da Ayahuasca. Por fim, menciono a interessante proposta de etnografia da duração de Ana Luiza Carvalho da Rocha e Cornelia Eckert (2013ECKERT, Cornelia & ROCHA, Ana Luiza. 2013. Etnografia da duração. Porto Alegre: Marcavisual.) que, a partir do pensamento de Gastón Bachelard, concebem duração e instante não como necessariamente opostos: “a duração não é sentida que pelos instantes” (Bachelard 1965 citado em Rocha & Eckert 2013ECKERT, Cornelia & ROCHA, Ana Luiza. 2013. Etnografia da duração. Porto Alegre: Marcavisual.:22). Grosso modo, as imagens visuais, verbais ou mentais carregariam em si um instante e uma duração. Nestes termos, como nos ensina a antropóloga Andrea Barbosa, não é possível se fiar em uma definição restrita da fotografia, pois há uma “pluralidade de modos de experiência da fotografia” por sua potência tátil e também criadora de lugares e tempos ( 2016BARBOSA, Andréa & CUNHA, Edgar Teodoro da. 2006. Antropologia e Imagem. 1. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores.:192).
Esses experimentos com a fotografia podem parecer, à primeira vista, estranhos à prática da antropologia visual que, historicamente, está ligada a uma doxa do naturalismo e do realismo fotográfico ( Edwards 2011EDWARDS, Elizabeth. 2011. “Trancing Photography”. In: M. Banks & R. Jay, Made to be seen. Chicago: University of Chicago Press.; Grunvald 2021GRUNVALD, Vitor. 2021. “Isto é um (meta)ensaio fotoetnográfico”, ensaio fotográfico. 45º Encontro Anual da Anpocs.). Essa tendência, entretanto, vem se transformando, como analisa Elizabeth Edwards, por meio da emergência de uma vertente importante, que se vale de uma abordagem “mais material e sensorial para pensar sobre fotografias na antropologia - uma virada fenomenológica que privilegia o experiencial, mais do que o semiótico” ( Edwards 2011EDWARDS, Elizabeth. 2011. “Trancing Photography”. In: M. Banks & R. Jay, Made to be seen. Chicago: University of Chicago Press.:185).
Algumas linhas finais
Pretendi neste artigo apresentar uma acepção mais etnográfica de fotografia, a partir daquilo que Eve chama de “desenhar com a fotografia”, em diálogo com sua prática na terapia Arte Org. As definições de fotografia, assim como o desenho e o cinema devem ser pensados nas relações tecidas em campos de pesquisa situados. O modo como Eve faz desenhos com câmera fotográfica dialoga com as principais características que Ingold e Taussig atribuem ao desenho, em contraposição à fotografia, a saber: 1. a continuidade gestual entre o movimento da mão e a percepção; 2. o “olhar com”; 3. a característica antitotalizante; 4. “conhecer com” e 5. o fazer associado à cura são balizas que fundamentam o ato de desenhar, que Eve encontrou em exercícios terapêuticos da Arte Org e transpôs para sua prática fotográfica. Os aprendizados desta terapia, tais como: 1. corporificar a percepção visual; 2. trabalhar o “caminhar com olhar” e o “olhar difuso” e 3. desenhar e fazer imagens como práticas de cura, entre outros ensinamentos, fundamentam uma experiência fotográfica diferente, que possibilita questionar acepções estanques de fotografia e desenho. Definições gerais como propostas por Ingold e Taussig fornecem interessantes parâmetros para refletirmos sobre essas formas expressivas e grafias, mas não devem ser pensadas em termos de fronteiras intransponíveis. Os diversos usos da fotografia e do desenho nas artes visuais e na antropologia visual têm mostrado caminhos salutares, que nascem das dobras e do contágio entre essas práticas, revelando um campo aberto para emergências de outros modos de ser e fazer fotografia e desenho pouco afeitas a definições canônicas.
Referências
- AZEVEDO, Aina. 2016a. “Desenho e antropologia: recuperação histórica e momento atual”. Cadernos de arte e antropologia, v. 5, n. 2.
- AZEVEDO, Aina. 2016b. “Diário de campo e diário gráfico: contribuições do desenho à antropologia”. Áltera - Revista de Antropologia, João Pessoa, v. 2, n. 2:100-119.
- BARBOSA, Andréa & CUNHA, Edgar Teodoro da. 2006. Antropologia e Imagem 1. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores.
- BAZIN, André. 1991. “Ontologia da imagem fotográfica”. In: O cinema São Paulo: Editora Brasiliense. pp. 19-26
- BERGER, John. 2005. Berger on Drawing Ed. J. Savage. Cork: Occasional Press.
- BRESSANE, Júlio. 1995. “O experimental no cinema nacional”. In: C. Adriano & B. Vorobow, Julio Bressane: Cinepoética São Paulo: Massao Ohno Editor.
- BRUNO, Fabiana. 2010. “Fotobiografia: por uma metodologia da estética em antropologia”. Resgate v. XVIII, n. 19.
- CAIUBY NOVAES, Sylvia. 2009. “Imagem e ciências sociais: trajetória de uma relação difícil”. In: R.S.G. Hikiji; A. Barbosa & E.T. Cunha, Imagem-Conhecimento Campinas: Papirus.
- CAIUBY NOVAES, Sylvia. 2008. “Imagem, magia e imaginação: desafios ao texto antropológico”. Mana, v. 14, n. 2:455-475.
- CAIUBY NOVAES, Sylvia. 2010. “O Brasil em imagens: caminhos que antecedem e marcam a antropologia visual no Brasil”. In: C.B. MARTINS & L.F. DUARTE, Horizontes das ciências sociais no Brasil São Paulo: Discurso Editorial e Barcarolla.
- CAIUBY NOVAES, Sylvia. 2021. “Por uma sensibilização do olhar”. GIS - Revista de Antropologia, 6 (1):e-179923. São Paulo, Brasil.
- CAUSEY, Andrew. 2012. “Drawing flies: artwork in the field”. Critical Arts, 26 (2):162-174.
- CAUSEY, Andrew. 2017. Draw to see Toronto: University of Toronto Press.
- CAMARGO JR., Jovino. 2017a. História e desenvolvimento da Arte Org São Paulo: Publicações Arte Org, edição revisada.
- DANTAS, Emiliano. 2022. “A imagem enquanto leitura e escrita do mundo”. Iluminuras, Porto Alegre, v. 23, n. 61:175-205
- DELEUZE, Gilles & GUATARRI, Félix. 1992. O que é filosofia? São Paulo: Ed. 34.
- DELEUZE, Gilles. 2018. Cinema 1 - Imagem-movimento São Paulo: Ed. 34 .
- DOBAL, Susana. 2012. “Sete sintomas de transformação da fotografia documental”. Revista Ícone, v. 14, n. 1.
- DUBOIS, Phillippe. 2016. A matéria-tempo e seus paradoxos perceptivos na obra de David Claerbout In: A. Fatorelli, V. De Carvalho & L. Pimentel (Org.). Fotografia Contemporânea: desafios e tendências. Rio de Janeiro: Mauad.
- ECKERT, Cornelia & ROCHA, Ana Luiza. 2013. Etnografia da duração Porto Alegre: Marcavisual.
- ECKERT, Cornelia & ROCHA, Ana Luiza. 2016. “Antropologia da Imagem no Brasil”. Iluminuras, v. 17, n. 41.
- EDWARDS, Elizabeth. 2011. “Trancing Photography”. In: M. Banks & R. Jay, Made to be seen Chicago: University of Chicago Press.
- FONTCUBERTA, Joan. 2014. “Por um manifesto pós-fotográfico”. Revista Studium, n. 36.
- GARCIA DOS SANTOS, Laymmert. 2014. “Projeções da terra-floresta: o desenho-imagem yanomami”. L. Disponível em: https://www.laymert.com.br/yanomami/
» https://www.laymert.com.br/yanomami/ - GAMA, Fabiene 2016. “Sobre emoções, imagens e os sentidos”. Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, v. 15, n. 45:116-130.
- GEBHART-SAYER, Angelika. 1985. “The geometric designs of the Shipibo-Conibo in ritual context”. Journal of Latin-American Lore, v. 2, n. 2: 143-145.
- GOW, Peter. 1989. “Visual compulsion: design and image in Western Amazonian cultures”. Revindi, v. 2:19-32.
- GRIMSHAW, Anna & RAVETZ, Amanda. 2021. “Desenhar com uma câmera? filme etnográfico e Antropologia Transformadora. GIS, 6 (1).
- GRUNVALD, Vitor. 2015. “Alter-retrato, fotografia e travestimento: ou sobre o paradigma fotográfico de Rrose Sélavy”. In: Caiuby Novaes (org.), Entre arte e ciência a fotografia na antropologia São Paulo: Edusp. pp. 161-196.
- GRUNVALD, Vitor. 2021. “Isto é um (meta)ensaio fotoetnográfico”, ensaio fotográfico. 45º Encontro Anual da Anpocs.
- HÍKIJI, Rose S. G. 1998. “Antropólogos vão ao cinema”. Cadernos De Campo (São Paulo - 1991), 7 (7):91-113.
- HIRANO, Luis F. K. 2022. “Preliminary Diffractions on the drawings of The Falling Sky, by Davi Kopenawa”. Revista La Furia Umana, v. 43:1-15.
- INGOLD, Tim. 2000. The perception of the environment Londres: Routledge.
- INGOLD, Tim. 2007. Lines. Londres: Routledge .
- INGOLD, Tim (org.). 2011a. Redrawing Anthropology Farnham: Ashgate.
- INGOLD, Tim. 2011b. Being Alive Londres: Routledge .
- INGOLD, Tim. 2012. “Trazendo as coisas de volta à vida”. Horizontes Antropológicos, v. 18, n. 37.
- INGOLD, Tim. 2013. Making Londres: Routledge .
- KIM, Joon Ho. 2013. O estigma da deficiência física e o paradigma da reconstrução cibernética do corpo Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo.
- KOFES, Suely. 2020. “As grafias - traços, linhas, escrita, gráficos, desenhos - como perturbação no conhecimento antropológico”. In: F. Bruno & M. Petroni, Dossiê: etnografia e o desafio da grafia. Revista R@u, v. 12, n. 2.
- KUSCHNIR, Karina. 2016. “A antropologia pelo desenho: experiências visuais e etnográficas”. Cadernos de arte e antropologia, v. 5, n. 2.
- KUSCHNIR, Karina. 2014. “Ensinando antropólogos a desenhar: uma experiência didática e de pesquisa”. Cadernos de Arte e Antropologia, v. 3, n. 2.
- KUSCHNIR, Karina. 2019. “Desenho etnográfico: Onze benefícios de usar um diário gráfico no trabalho de campo”. Pensata, v. 7, n. 1.
- LAGROU, Els. 1993. “Resenha de GOW, Peter. Visual compulsion: design and images in Western Amazonian Cultures”. Antropologia em primeira mão, v. 9:1-27.
- LATOUR, Bruno. 2004. “Como falar do corpo? A dimensão normativa dos estudos sobre a ciência”. In: J.A. Nunes & R. Roque, Objetos Impuros: Experiências em Estudos sobre a Ciência Porto: Edições Afrontamento.
- LOTIERZO, Tatiana. 2019. Erosão num pedaço de papel Tese de Doutorado, Universidade de Brasília.
- LOTIERZO, Tatiana. 2022. “Amarrar ressonâncias: considerações sobre desenho e antropologia”. Revista de Antropologia, 65 (2):e197963.
- MCDOUGALL, David. 2019. The looking machine Manchester: Manchester University Press.
- PINK, Sarah. 2011. Drawing with our feet (and trampling the maps): walking with video as graphic anthropology. In: Tim Ingold (org.), Redrawing Anthropology Farnham: Ashgate .
- RAVETZ, Amanda. 2011. “‘Both created and discovered’: the case for reverie and play in a redrawn anthropology”. In: Tim Ingold (org.), Redrawing Anthropology Farnham: Ashgate .
- REICH, Wilhelm. 2003. O éter, deus e o diabo São Paulo: Martins Fontes.
- ROUILLÉ, André. 2009. A fotografia: entre documento e arte contemporânea São Paulo: Editora Senac.
- SAUTCHUK, Carlos Emanuel. 2015. “Aprendizagem como gênese: prática, skill e individuação”. Horizontes Antropológicos, v. 21, n. 44.
- STRATHERN, Marilyn. 2005. Partial connections Oxford: Altamira Press.
- STRATHERN, Marilyn. 2006. O Gênero da dádiva Campinas: Ed. Unicamp.
- TAUSSIG, Michael. 2011. I swear, I saw this Chicago: University of Chicago Press .
- TAUSSIG, Michael. 1993. Mimesis and alterity, a particular history of the senses New York: Routledge.
- VILLELA, Alice. 2015. “Quando a imagem é pessoa ou a fotografia como objeto patogénico”. In: Caiuby Novaes (org.), Entre arte e ciência a fotografia na antropologia São Paulo: Edusp . pp. 109-122.
Notas
-
ERRATA
Este artigo possui uma errata: htps://doi.org/10.1590/1678-49442023v29n3e2023040er.pt -
1
Agradeço a Sylvia Caiuby NovaesCAIUBY NOVAES, Sylvia. 2009. “Imagem e ciências sociais: trajetória de uma relação difícil”. In: R.S.G. Hikiji; A. Barbosa & E.T. Cunha, Imagem-Conhecimento. Campinas: Papirus. pela oportunidade de discutir fotografia e desenho na obra de Tim Ingold em diferentes ocasiões em que ministrou a disciplina Fotografias e Trajetórias. O artigo é fruto dessas discussões. Gratidão a Evelyn Torrecilla pela interlocução que deu origem a essa pesquisa e por ceder suas fotografias para publicação. Também agradeço a Tatiana LotierzoLOTIERZO, Tatiana. 2019. Erosão num pedaço de papel. Tese de Doutorado, Universidade de Brasília. pelos comentários, ensinamentos sobre os xamãs do Vale do Putumayo e revisões deste artigo. Por fim, estendo meus cumprimentos a Fabiana BrunoBRUNO, Fabiana. 2010. “Fotobiografia: por uma metodologia da estética em antropologia”. Resgate. v. XVIII, n. 19. e a Kelly Koide pelas sugestões de leitura.
-
2
Wilhelm ReichREICH, Wilhelm. 2003. O éter, deus e o diabo. São Paulo: Martins Fontes. (1897-1957), formado em medicina na Universidade de Viena, foi um dos principais discípulos de Sigmund Freud até a sua expulsão da Associação de Psicanálise Internacional (API) por divergências teóricas e políticas em 1934. Perseguido pelo nazismo, ele se refugiou na Dinamarca, Suécia e Noruega até se estabelecer nos Estados Unidos, em 1939. Na década de 1950, ele começou a ser perseguindo pelo macarthismo por suas posições políticas e pela Food and Drug Administration por seus tratamentos carecerem de validade científica, seus livros foram queimados e logo após ser preso, em 1957, veio a falecer (Weinman 2002). Nos finais dos anos 1960, sua obra foi resgatada e hoje Reich é considerado um dos principais fundadores das terapias corporais no Ocidente.
-
3
Suscintamente, para Reich, o fluxo energético dos organismos dos seres vivos se regularia a partir de situações de prazer e dor, de fluxos e contrafluxos; à medida que interagimos com outros seres as membranas corporais criariam retesamentos em situação de desprazer como forma de defesa. Esses retesamentos foram chamados por Reich de couraça. Para Jovino, a couraça já não se localizava apenas no corpo, mas principalmente no segmento perceptivo do organismo. Esta teoria faz cada vez mais sentido em um mundo em que há um inflacionamento no uso da visão e de determinadas formas de ver pelas tecnologias da informação, sem a necessidade de movimentarmos o corpo. É importante sublinhar que, para Reich e para a teoria arteorguiana, o organismo humano é composto pelo segmento corporal e perceptivo, a relação entre estes dois segmentos é extremamente complexa, e não se resume na dicotomia entre corpo e mente, uma vez que todos os órgãos têm funções perceptivas, que não dependem necessariamente de um sistema nervoso central.
-
4
Todas as traduções de textos escritos em língua estrangeira são minhas.
-
5
Discuto em outro artigo que a concepção yanomami de desenho não se respalda na ideia de que a superfície do papel seja um todo e as inscrições do lápis, fragmentos. A singularidade do desenho yanomami, como ensina Laymert Garcia dos Santos (2015GARCIA DOS SANTOS, Laymmert. 2014. “Projeções da terra-floresta: o desenho-imagem yanomami”. L. Disponível em: https://www.laymert.com.br/yanomami/.
https://www.laymert.com.br/yanomami/... ), está justamente em seguir com as linhas até as bordas das folhas, sugerindo a continuidade do movimento para além do espaço do papel. Essa continuidade é a vida e o movimento para os Yanomami, operadores de um ato inaugural que se desenha. Ver, nesse sentido, Hirano (2022HIRANO, Luis F. K. 2022. “Preliminary Diffractions on the drawings of The Falling Sky, by Davi Kopenawa”. Revista La Furia Umana, v. 43:1-15. ). -
6
Como explica Vi Grunvald, Duchamp e Man Ray buscaram negar “o princípio icônico (ou retiniano […])” da fotografia. “A arte no surrealismo é, antes de tudo, traço” ( Grunvald 2015GRUNVALD, Vitor. 2015. “Alter-retrato, fotografia e travestimento: ou sobre o paradigma fotográfico de Rrose Sélavy”. In: Caiuby Novaes (org.), Entre arte e ciência a fotografia na antropologia. São Paulo: Edusp. pp. 161-196.:178).
-
7
Essa definição de desenho que não se solidifica em imagens tem ganhado mais clareza nas discussões atuais de Ingold, que tem optado por falar em termos de garatujas ou rabiscos. Como desenho pode se referir a muitos referentes, garatujas e rabiscos elucidariam melhor esse tipo de linha defendida por Ingold, que traceja movimento. Ver nesse sentido a conferência dele intitulada: “Beyond writing and drawing: In praise of scribble”: https://www.ppv2022.abant.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=843.
-
8
No último capítulo do livro Making (2013), Ingold sugere que pensar em termos de grafias acenaria para a semelhança entre “nós e eles”, pois, em seu entendimento, não há sociedades sem grafias, o que possibilitaria repensar o grande divisor entre sociedades com e sem escrita.
-
9
Informação retirada do site do autor: https://www.emilianodantas.com/sao-tome.
-
10
Azevedo, Kuschnir e Causey, cada qual a seu modo, pontuam as diferenças entre desenhar e fotografar, reconstituindo uma interessante história do desenho na antropologia, que inclui produções de enciclopedistas, antes ainda do advento da fotografia, grafismos indígenas e gráficos elaborados por Lévi-Strauss e Alfred Gell para explicar mitos, conceitos e teorias. A fotografia e o filme, como mostram, acabaram substituindo determinados tipos de desenho nos trabalhos de campo, por exemplo, aqueles que descreviam a chamada “cultura material” de um povo. Mas, como argumentam, há outras razões para o ocaso desse tipo de desenho no desenvolvimento da antropologia, que deve ser entendido no contexto de um panorama mais amplo dos regimes de visualidades e modos de legitimação de nossa disciplina como ciência.
-
11
Por falta de espaço não comentarei mais detalhadamente a edição do filme. Para quem tiver interesse em assisti-lo, segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=EftObDNVUT0&t=48s.
Editado por
Editora-Chefe:
Editor Associado:
Editora Associada:
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
08 Dez 2023 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
22 Ago 2021 -
Aceito
23 Maio 2023 -
Corrigido
26 Fev 2024