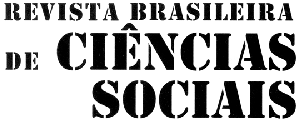Com a intenção de fazer um diálogo entre as pesquisas antropológicas em adoecimento, os enfermos e os profissionais de saúde, Descontrolada busca compreender a experiência das pessoas com a pressão alta em Guariroba, bairro histórico da cidade de Ceilândia, Distrito Federal, ao longo de seis anos de convivência.1 1 Além do livro, a pesquisa originou o documentário Bicha braba (2015), dirigido pela autora, Soraya Fleischer. Em uma linguagem franca, sensível aos alcances e limites da pesquisa de campo, bem como aos afetos, trocas e sutilezas de relações que vão se estabelecendo e sendo compartilhadas, a autora articula diferentes dimensões presentes quando se trata de ver a complexidade de um tema: assim, a trajetória de pesquisadora corre paralelamente com as trajetórias de suas interlocutoras; o campo e a cidade, o passado e o presente, as casas e as ruas, os consultórios médicos, as salas de espera e os espaços de lazer vão se emaranhando em uma narrativa em que o ver e o escrever, o campo e a teoria, o ensino e a pesquisa se compõem mutuamente, em um processo dinâmico e polissêmico, que dissolve explicações gerais, dicotômicas e rasteiras.
Atenta às categorias e aos saberes locais, a pesquisadora vai além do discurso biomédico para chegar ao ponto de vista dos enfermos.2 2 Nesse sentido, a perspectiva antropológica traz uma importante virada nos estudos sobre saúde e doença ao valorizar a experiência e o ponto de vista dos enfermos como um contraponto em relação às abordagens mais centradas no paradigma biomédico e nas representações, criticadas por não levar em consideração os processos interativos ao se reduzir à análise de discursos, deixando de fora conflitos e manobras entre os diferentes sujeitos envolvidos. Descontrolada contribui, portanto, para uma abordagem mais fenomenológica ao transbordar a enfermidade da medicina e olhar para as experiências mais subjetivas, cotidianas e informais das pessoas que a têm, mapeando um campo plural, complexo e sensível à compreensão dos processos de saúde e doença. Canesqui (2007a) aponta, porém, como a perspectiva dos adoecidos ainda é subutilizada nos estudos epidemiológicos. “Pressão alta”, “pressão normal”, “pressão silenciosa”, “pressão descontrolada”, “pressão emocional” indicam uma ampla e multifacetada gama de referências para falar e lidar com os “problemas de pressão”, expressão ouvida em campo e que a autora adotou em contraposição à “hipertensão”, classificação biomédica que, por tomá-la como um dado, naturalizado, simples, rotineiro, não dava conta da complexidade dessa experiência. Não só a biomedicina precisava ser relativizada, mas também a própria nomenclatura antropológica dos estudos sobre doença e saúde. Assim, manteve um olhar atento e crítico em relação ao par agudo-crônico, já que este não leva em consideração, por exemplo, os percalços e as reviravoltas previstas no suposto continuum de uma “doença crônica”, nos dizeres médicos, “doença de longa duração”, como as ciências sociais têm preferido, ou “doença comprida”, como ouviu de uma interlocutora.
A heterogeneidade – de nomes, situações, pessoas – envolvida na experiência com a pressão levou a autora a circular por diferentes lugares: dos consultórios médicos, ela foi para as ruas, casas e espaços de lazer. Entre a espera para a próxima consulta, a conversa no portão, o cafezinho, a ginástica e o forró, conheceu pessoas, ouviu histórias, viu cenas e foi compondo uma cartografia da doença, mas também da vida: as trajetórias de migração, as dificuldades de adaptação, as redes de vizinhança, os conflitos familiares. Aos poucos, foi percebendo que a pressão era um idioma potente para falar de emoções e conflitos, de maneira geral. Propõe, então, “pensar sobre o que se poderia chamar de um mundo social dos problemas de pressão” (p. 27).3 3 Sobre como a doença se torna uma linguagem do mundo social, ver também, entre outros, Duarte (1986), Canesqui (2007b) e Sontag (2007).
E quem eram, enfim, essas pessoas? Mulheres, sobretudo; pobres, negras, idosas, nordestinas que migraram para o Distrito Federal em busca de melhores condições de vida. A relação entre a roça e a cidade marca essas trajetórias e, frequentemente, aparecia quando falavam das oscilações da pressão: as dificuldades de adaptação ao estilo de vida urbano, agitado, perigoso e estressante, em um bairro que estava sendo formado; a luta para conseguir a casa própria; as expectativas frustradas em relação ao trabalho, renda e saneamento; os novos hábitos alimentares; os remédios da farmácia em contraposição aos remédios da roça; a construção de novas redes de amizade e vizinhança; tudo isso foi contribuindo para que “Ela”, a “dita cuja”, fosse chegando aos poucos, até ficar e se transformar em um problema. Os “problemas da vida”, as “coisas do momento” e “os problemas do mundo” eram, assim, acionados nessa convivência e compreensão.
No limite, não era suficiente uma senhora dizer que não queria mais brigar com o marido, a nora ou uma vizinha, seu corpo teria que dizer isso por ela, sua pressão se destrambelharia e mostraria, para todo mundo, os efeitos dessa briga sobre sua saúde. [...] Chegar em casa depois de uma visita ao centro de saúde e anunciar um “18 por 12” alarmaria a todos, mas especialmente faria os culpados pelo conflito em questão vestirem a carapuça, faria todo mundo se envolver nos esforços por criar um ambiente mais amistoso ou, ao menos, mais tranquilo para que aquela pressão emocional pudesse baixar. A pressão, eu ia aprendendo, era uma metáfora potente para as complexidades que estivessem em curso naquele microcosmo. Muito diferente de “desconhecimento”, “não compreensão” ou “distorção”, sugiro que essas moradoras da Ceilândia estivessem elaborando com muita clareza os sentidos etiológicos e as repercussões físico-morais do problema de pressão (pp. 114-115).
Se a pressão alta era diagnosticada nos consultórios médicos, ela atravessava as ruas, as casas, os espaços de lazer da cidade. Estava na “boca do povo”. As salas de espera do centro de saúde rendiam boas e animadas conversas, mas foi nas varandas, nos portões, nos cafezinhos, nos grupos de ginástica e forrós que as conversas se alongavam e ganhavam em profundidade. A espontaneidade de tais lugares permitiu ver como os problemas de pressão eram ressignificados, compartilhados, manejados, atrelados a outros problemas e situações. Se a pressão era, para as enfermas, um idioma para falar do sofrimento, ela era acionada pelos médicos e profissionais de saúde para controlar moralmente as pacientes, dividindo-as em “controladas” e “descontroladas”, “uma ferramenta de disciplina dos corpos e das subjetividades” (p. 182). Em contrapartida, as pacientes também mantinham uma visão crítica dos serviços utilizados, reclamavam do destrato e descaso e classificavam as médicas em “boas”, “que escutam”, e “más”, “ignorantes”. A relação com a biomedicina não era, portanto, automática ou naturalizada, mas estava em constante revisão, teste, avaliação, sendo domesticada para que fizesse sentido na lógica – de cuidado e de vida – dessas mulheres. A busca das moradoras de Ceilândia pelo bem-estar em sentido amplo – e não só pelo controle da pressão – dava maleabilidade ao tratamento médico, acionando práticas de cuidado ao mesmo tempo sérias, criativas e flexíveis. Convivendo dia a dia com as oscilações da pressão, essas mulheres entendiam que a vida era muito menos linear e muito mais improvisada do que a medicina preconizava.
Estar atenta às estratégias de cuidado diário trouxe densidade ao tema ao mapear um campo de relações – não só entre pessoas, mas também com aparelhos de medir, alimentos, remédios e órgãos do Estado –, bem como os afetos, conflitos e imponderáveis que atravessam a experiência com a enfermidade. A pressão passa a ser entendida em seus diferentes aspectos, das explicações de origem às mudanças sentidas no corpo, dos sinais às trajetórias da doença, dos serviços de saúde às redes de vizinhança e práticas de cuidado diário nos espaços domésticos. A escuta das histórias de vida dessas mulheres possibilitou perceber como a doença se situava em uma perspectiva bem mais ampla e complexa do que o paradigma biomédico a encaixava. A autora também buscou dar voz aos diferentes sujeitos envolvidos: além das enfermas, ouviu as vizinhas, os familiares, os médicos, as enfermeiras, os auxiliares de laboratório, os farmacêuticos, as nutricionistas, as funcionárias e as faxineiras do centro de saúde pesquisado. Registrar e, ao mesmo tempo, distinguir essa polissemia foi tanto um desafio metodológico e antropológico quanto ético. Ciente dos riscos, a pesquisadora posiciona o livro como uma “alegoria artificial dessas experiências individuais ao propor compilar tantas vozes e depoimentos sobre a pressão alta” (p. 243).
Se os resultados e argumentos do estudo são tão interessantes e aprofundam o tema, a potência do livro está principalmente na escolha de contar, com franqueza e sensibilidade, os espantos, vislumbres, curiosidades, constrangimentos, limites, afetos, a trajetória, enfim, de erros e acertos – e de como um erro pode ser o esforço de aprendizado sobre aquele mundo. De maneira crítica e performática, a autora mostra como foi sendo vista em campo, do estranhamento a alguém de dentro – e os riscos de ambos os lados –, os dilemas (éticos, metodológicos, teóricos) trazidos pelas diferentes posições em que foi colocada e como, nesse terreno movediço, foi mudando a sua forma de ver e descrever a pressão.
Ser identificada como médica ou profissional da saúde facilitou algumas entradas e mediações com os funcionários e serviços do centro de saúde; porém, complicou outras: havia uma desconfiança por parte das enfermas de falar sobre os problemas de pressão, as dificuldades do tratamento, as estratégias desenvolvidas para o cuidado diário, além de solicitarem à pesquisadora funções que ela não poderia fazer, tal como levar-lhes algum remédio, ler a bula, medir a pressão, responder alguma dúvida médica. Quando passou a ser identificada como pesquisadora, estudante, professora, “alguém da universidade”, as conversas ganharam em honestidade e espontaneidade. Foi quando as entrevistas na sala de estar deram lugar às fofocas na copa. E ouviu as mulheres dizerem que os remédios não eram tomados à risca; presenciou o bate-boca com algum parente; viu a louça suja da noite anterior na pia, foi convidada para almoçar ou tomar um cafezinho:
[...] acredito que tenham notado como meu olhar não priorizava sua renda ou condições de vida, que eu não escolhia com quem conversar com base no uso da rede pública ou privada de saúde, que não deixava de visitar uma casa porque havia um membro alcoolista ou cumprindo pena em alguma prisão local. Dos dois lados, fomos baixando a guarda e nos esforçando por entender as intenções mútuas (p. 44).
Nessa relação entre como ser vista e como ver, não ficou indiferente aos estranhamentos e descobertas da pesquisa: questionou-se ao desejar secretamente que a médica demorasse em chamar aquela paciente com quem conversava na sala de espera; recusou o convite das funcionárias do centro de saúde para distribuir folhetos aos usuários; ficou incomodada com a maneira de medir e anunciar a pressão na sala de reunião; constrangeu-se ao explicar às pessoas que não era da saúde e, portanto, não poderia atender aos pedidos; ficou decepcionada ao ver que o “grupo de apoio” pouco tinha de prevenção e diálogo sobre os problemas de pressão; espantou-se ao ver a médica assinar uma receita sem nem ao menos ver o paciente; riu das brincadeiras no grupo de ginástica e virou alvo de chacota por sua falta de coordenação; emocionou-se com tantas histórias de luta, sofrimento e conquista.
De fato, trata-se de uma pesquisadora engajada.4 4 A autora chegou ao local da pesquisa em 2008, ao ser contratada como professora da Faculdade de Ceilândia, campus recém-criado da Universidade de Brasília. Ao sair da Asa Norte, onde nasceu, cresceu, estudou, casou, virou mãe, trabalhou, adentrava em uma cidade por descobrir. Tal estranhamento levou-a a querer percorrer as ruas, conhecer as pessoas, ouvir as histórias, engajar-se naquela vida tão inusitada. Foi com esse sentimento que desenvolveu o projeto de pesquisa que originou o livro aqui resenhado. A pesquisadora já vem de uma trajetória de estudos no campo da saúde-doença, com interesse principalmente em saúde pública, Sistema Único de Saúde (SUS), adoecimento, corpo, passando por temas como atendimento obstétrico não oficial (parteiras, por exemplo), aborto, deficiência, aids, diabetes. Recentemente, vem recolhendo histórias de famílias afetadas pelo vírus Zika e microcefalia. Escancarar os percalços do campo, longe de ser uma fraqueza ou um narcisismo velado, é o que torna a etnografia mais forte e verdadeira, no sentido de uma narrativa mais fiel à experiência, que, ao invés de negar ou esconder nos bastidores, traz à tona os alicerces, as ruínas, os escombros da pesquisa como materiais heurísticos, potentes para compor a análise, a evocação e a invenção.5 5 Taussig (2011) problematiza a relação entre campo e escrita, experiência e narrativa, linguagem e mundo e tenta atenuar tal distância e descompasso utilizando-se, principalmente, do desenho e da incorporação dos espantos, afetos, percalços, esboços da pesquisa, em evidente defesa de que os cadernos de campo e diários sejam, de fato, valorizados e apareçam no texto do livro. Assumir a dimensão parcial e criativa – “uma ficção post facto aos poucos foi sendo construída” (p. 36) – potencializa o campo de relações, costuras, fissuras de toda (boa) etnografia. O deixar-se afetar, aqui, andou de mãos dadas com a autocrítica: a autora não teve medo de se expor, mas sem perder o fino equilíbrio entre o seu lugar como antropóloga e a interlocução com os sujeitos.
Outro mérito do livro é a combinação entre ensino e pesquisa, para constituir um conhecimento compartilhado: a escrita se deu junto com a experiência de dar aulas e pesquisar, em uma proposta etnográfica que apresenta uma dimensão tanto epistemológica quanto didática. Assim, envolveu alunos em todas as fases dessa produção, das conversas e observação ao compartilhamento e discussão dos cadernos de campo, em uma relação indissociável entre forma e conteúdo, campo e teoria, metodologia e ética. Em alguns momentos do livro, ficamos sabendo que aquele relato ou cena descritos vem da anotação de algum aluno, por exemplo, além dos propósitos pedagógicos de aprender a pesquisar na prática e dos conselhos que dava aos estudantes diante do clima de suspeita e das insistentes perguntas sobre o quê, por que e como faziam a pesquisa.
O final do livro faz jus à beleza e sensibilidade que o acompanharam. A autora conta que, na associação de idosos de Guariroba, um senhor a chamou para dançar.
Estendeu a mão e eu vacilei. Senti-me tímida, falei que não sabia dançar muito bem, ele sorriu e me conduziu até o centro do salão. Cambaleante, consegui acompanhar as orientações de meu par, comunicadas pela pressão aqui e ali, sempre com recato, na mão ou na cintura, ou pelo movimento dos ombros e do dorso, para cá e para lá. Ele era rápido e girava muito (p. 239).
Puxou papo, cometeu erros, deixou-se levar. Ao final, o parceiro lhe disse: “Não se preocupe. Com o tempo, você aprende a dançar”.
“Como uma dança que vai e vem, que apertava o passo ou que seguia um ritmo mais lento, havia tranquilidade aqui e ali, mas não era um mar de rosas o tempo todo” (p. 242). Se conviver com a pressão é uma “experiência ziguezagueante” (p. 238), dançar e fazer etnografia também são. Enquanto as mulheres saíam da zona de conforto e aprendiam a lidar com a doença, os aparelhos de medir, os remédios, os serviços de saúde, a nova dieta, as relações familiares, os “problemas da vida”, a pesquisadora e seus alunos aprendiam a fazer pesquisa, perguntar, ficar em silêncio, improvisar, tecer relacionamento, acertar o passo, errar, ver, escrever. Nesse “conjunto orquestrado de objetos, atores e tarefas” (p. 238), nessa “orquestração fina e complexa” (p. 242), a pressão e a etnografia foram se compondo como uma dança que se aprende aos poucos.
BIBLIOGRAFIA
- CANESQUI, Ana Maria. (2007a), “Estudos socioantropológicos sobre os adoecidos crônicos”, in A. M. Canesqui (org.), Olhares socioantropológicos sobre os adoecidos crônicos, Rio de Janeiro, Hucitec.
- CANESQUI, Ana Maria. (2007b), “A hipertensão do ponto de vista dos adoecidos”, in A. M. Canesqui (org.), Olhares socioantropológicos sobre os adoecidos crônicos, Rio de Janeiro, Hucitec.
- DUARTE, Luiz Fernando Dias. (1986), Da vida nervosa (nas classes trabalhadoras urbanas) Rio de Janeiro, Jorge Zahar/CNPq.
- SONTAG, Susan. (2007), Doença como metáfora; Aids e suas metáforas. São Paulo, Companhia das Letras.
- TAUSSIG, Michael. (2011), I swear I saw this: drawings in fieldwork notebooks, namely my own Chicago, The University of Chicago Press.
Notas
-
1
Além do livro, a pesquisa originou o documentário Bicha braba (2015), dirigido pela autora, Soraya Fleischer.
-
2
Nesse sentido, a perspectiva antropológica traz uma importante virada nos estudos sobre saúde e doença ao valorizar a experiência e o ponto de vista dos enfermos como um contraponto em relação às abordagens mais centradas no paradigma biomédico e nas representações, criticadas por não levar em consideração os processos interativos ao se reduzir à análise de discursos, deixando de fora conflitos e manobras entre os diferentes sujeitos envolvidos. Descontrolada contribui, portanto, para uma abordagem mais fenomenológica ao transbordar a enfermidade da medicina e olhar para as experiências mais subjetivas, cotidianas e informais das pessoas que a têm, mapeando um campo plural, complexo e sensível à compreensão dos processos de saúde e doença. Canesqui (2007a)CANESQUI, Ana Maria. (2007a), “Estudos socioantropológicos sobre os adoecidos crônicos”, in A. M. Canesqui (org.), Olhares socioantropológicos sobre os adoecidos crônicos, Rio de Janeiro, Hucitec. aponta, porém, como a perspectiva dos adoecidos ainda é subutilizada nos estudos epidemiológicos.
-
3
Sobre como a doença se torna uma linguagem do mundo social, ver também, entre outros, Duarte (1986)DUARTE, Luiz Fernando Dias. (1986), Da vida nervosa (nas classes trabalhadoras urbanas). Rio de Janeiro, Jorge Zahar/CNPq., Canesqui (2007b)CANESQUI, Ana Maria. (2007b), “A hipertensão do ponto de vista dos adoecidos”, in A. M. Canesqui (org.), Olhares socioantropológicos sobre os adoecidos crônicos, Rio de Janeiro, Hucitec. e Sontag (2007)SONTAG, Susan. (2007), Doença como metáfora; Aids e suas metáforas. São Paulo, Companhia das Letras..
-
4
A autora chegou ao local da pesquisa em 2008, ao ser contratada como professora da Faculdade de Ceilândia, campus recém-criado da Universidade de Brasília. Ao sair da Asa Norte, onde nasceu, cresceu, estudou, casou, virou mãe, trabalhou, adentrava em uma cidade por descobrir. Tal estranhamento levou-a a querer percorrer as ruas, conhecer as pessoas, ouvir as histórias, engajar-se naquela vida tão inusitada. Foi com esse sentimento que desenvolveu o projeto de pesquisa que originou o livro aqui resenhado. A pesquisadora já vem de uma trajetória de estudos no campo da saúde-doença, com interesse principalmente em saúde pública, Sistema Único de Saúde (SUS), adoecimento, corpo, passando por temas como atendimento obstétrico não oficial (parteiras, por exemplo), aborto, deficiência, aids, diabetes. Recentemente, vem recolhendo histórias de famílias afetadas pelo vírus Zika e microcefalia.
-
5
Taussig (2011)TAUSSIG, Michael. (2011), I swear I saw this: drawings in fieldwork notebooks, namely my own. Chicago, The University of Chicago Press. problematiza a relação entre campo e escrita, experiência e narrativa, linguagem e mundo e tenta atenuar tal distância e descompasso utilizando-se, principalmente, do desenho e da incorporação dos espantos, afetos, percalços, esboços da pesquisa, em evidente defesa de que os cadernos de campo e diários sejam, de fato, valorizados e apareçam no texto do livro.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
04 Jul 2019 -
Data do Fascículo
2019