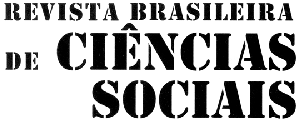CRÍTICA
Violência atmosférica e violências subjectivas: uma experiência pessoal* * Texto apresentado no III Seminário Literatura Guerra e Paz, realizado na Universidade Federal de Uberlândia (UFF), a ser publicado em coletânea organizada por Laura Cavalcante Padilha e Renata Flávia da Silva, pela Editora da mesma universidade
José Luis Cabaço
Olhar para a própria experiência de vida afigura-se, para mim, um exercício povoado de riscos. A memória é uma vereda plantada de minas que, ao menor passo inadvertido, te podem rebentar sob os pés deixando graves mutilações ou cancelando mesmo, de forma definitiva, o caminho percorrido. O que foi cada momento das experiências que provei perde os contornos na multidão de referências, representações, transferências, projeções, racionalizações quando as lembranças pessoais, inevitavelmente temperadas pela imagem que cada um tem de si, se entrelaçam na memória coletiva de um grande acontecimento como foi a libertação de um país e o lançamento das bases de um projeto nacional.
Samora Machel tinha a intuição desses perigos ao advertir-nos com frequência de que as histórias pessoais, por quanto fossem importantes, só ganhavam sentido quando reconstruídas em conjunto, no quadro da gesta coletiva. A opinião de Michael Pollack, que Samora não tinha lido, é convergente: a memória, como fixação da oralidade subjetiva, é na realidade, diz ele, um "fenômeno construído coletivamente e em mutação constante" (Pollack, 1992).
Ver-nos na conjuntura presente - com as experiências acumuladas sobre as quais vamos refletindo, sempre com a preocupação de evitar erros cometidos e insuficiências detectadas - faz-nos reconstruir permanentemente o passado, incorporando os ensinamentos no patrimônio que carregamos. A erosão do tempo vai tornando cada vez menos perceptível a linha que divide a memória pessoal da memória coletiva. Este processo de reconstrução do passado exige o mais rigoroso esforço de apuração e depuração das fusões e racionalizações construídas pelo subconsciente de cada um, a par de uma cerrada vigilância contra a ação subversiva do próprio Ego, porque, como argumenta Mia Couto, "esses outros que já fomos têm dificuldade em transitar para a categoria daqueles que 'somos' no presente" (Couto, 2009).
Com essas advertências, e certo de não conseguir evitar todas as insídias do exercício de lembrar, permito-me evocar aspectos (que reputo de subjetivos) das minhas recordações sobre o clima de violência que marcou a sociedade moçambicana. Procuro manter-me, por precaução, tão próximo quanto possível da análise que, com recurso aos instrumentos acadêmicos, vou tendo da "situação colonial", para usar a expressão consagrada por Balandier (1993), e das dinâmicas pós-independência.
A sociedade colonial em Moçambique foi uma sociedade tendencialmente dualista, na qual a discriminação racial coincidia, reforçando-se, com a hierarquização econômica e a dominação. Após a ocupação territorial em finais de 1800 e a consequente migração de colonos de Portugal, a sociedade se foi polarizando em termos raciais e radicalizando os mecanismos de inclusão, cooptação, marginalização e exclusão.
Nas primeiras duas décadas do século XX, a ação do governo colonial concentrou-se na eliminação dos chamados filhos da terra ou brancos da terra, a pequena burguesia racial ou culturalmente mestiça, que se criara na fase do colonialismo mercantil e escravista e que, na virada do século, detinha patrimônio, ocupava importantes posições de segundo escalão no aparelho estatal e nas empresas privadas operando no território e gozava ainda de um relativo capital simbólico nas sociedades urbanas.
Em 1917, o governo português na colônia instituía um alvará do assimilado, obrigando todos os cidadãos não brancos a requererem o estatuto de assimilado, fazendo prova de que tinham abandonado a cultura tradicional e que viviam segundo os valores e os princípios da cultura portuguesa. Instituía-se, dessa forma, a condição de cidadãos de segunda classe, por oposição aos cidadãos plenos (os brancos) e os desprovidos de cidadania, a maioria da população denominada como "os indígenas". O exíguo estrato populacional que deveria corresponder ao conceito de "terceiro espaço" (Bhabha, 2001), que, por sua vez, representaria potencialmente o espaço social de convivência culturalmente híbrida, era deliberadamente destruído pelo maniqueísmo colonialista, forçando esse grupo a tomar posição no binômio civilizados-indígenas. A sociedade minoritária dos colonos defendia-se dos perigos da contaminação. Instalava-se o clima de "violência atmosférica", na feliz designação de Franz Fanon (1960), que se caracterizava pelo fato de que cada momento da vida dos colonizados estava impregnado de um potencial violento que determinava, a par da opressão física, uma permanente tensão consciente e/ou inconsciente.
A primeira recordação que tenho é, portanto, a de fazer parte por direito natural do estrato da população dita civilizada. Ninguém, no meu mundo, parecia viver essa condição como um privilégio extraordinário: ela simplesmente respondia à ordem natural da sociedade. No seio desta verdadeira casta, as relações interpessoais, os sentimentos e os valores pautavam-se pela convivialidade e harmonia. A moralidade aparentava ser rígida e convencional, e os valores que me foram transmitidos eram de estreita observância cristã.
Minha infância decorreu no interior da colônia, numa pequena povoação onde os únicos brancos éramos meus pais e eu. Cercados de centenas de seres humanos, aprendi que vivíamos "isolados". Nenhuma dessas centenas de pessoas, nem mesmo o enfermeiro mestiço ou o cantineiro indiano, alguma vez entrou na casa de meus pais como visita. Habituei-me à ideia de que só os raros brancos de passagem ficavam alojados na nossa casa; a hospitalidade era oferecida sem qualquer hesitação, numa prática de generosa solidariedade que aparecia como naturalizada em regiões remotas de Moçambique. A situação estava de tal forma incrustada no tecido social colonial que nunca um indiano ou mestiço de passagem tomou a iniciativa de pedir alojamento. A única exceção de que tenho memória era uma mestiça, filha de sangue perfilhada de um administrador colonial. Bem mais tarde teria a percepção da dimensão racial desta prática de hospitalidade.
Meus folguedos de menino eram com crianças negras do lugar e rapidamente aprendi a falar chuabo, a língua local. Mas o meu lugar no grupo era sempre de liderança: os brinquedos eram meus e as regras dos jogos, as que eu impunha. Os outros meninos simplesmente se beneficiavam do "privilégio" de poderem brincar com o filho do " senhor chefe".
O grupo social de brancos de que meus pais faziam parte era constituído por gente "educada", que amava a sua família, que exibia "bons sentimentos", respeitava as regras de convivência e que olhava com desprezo, por vezes com caritativa condescendência, os não brancos. Não me lembro, na minha infância, de alguma vez ter ouvido comentário ou percebido uma manifestação de questionamento ou de remorso pelas condições miseráveis de vida dos indígenas. Habituei-me a ver os mestiços e assimilados como grupo social distinto, fora do convívio social dos meus, e os indígenas como uma entidade social distinta, "primitiva" e que devia "estar no seu lugar".
Os presos que passavam todos os dias para os trabalhos obrigatórios eram de pele negra e era inconcebível para mim imaginar um branco fazendo parte daqueles grupos de indivíduos ou sendo submetido a castigos corporais. A palmatória, um disco circular de madeira grossa com cinco furos e um cabo, era usada todas as sextas-feiras, após os julgamentos dos delitos de menor grau. Estavam presentes ao julgamento dos casos os chefes tradicionais e o administrador, e eram eles que decidiam a punição. Eu estava proibido de sair de casa para brincar nas sextas-feiras à tarde, mas lembro-me de ter iludido a vigilância materna e assistido de longe, pelo menos uma vez, aos castigos corporais. Recordo perfeitamente ter sentido uma grande angústia quando vi um velho ser batido nas mãos com a tal palmatória de forma humilhante, diante da pequena multidão ali reunida. Reconheci-o porque nessa manhã passara por mim cumprimentando-me carinhosamente a caminho do edifício da administração. Impressionaram-me os traços que lhe vincavam a face e o sorriso doce com que me saudou, e senti-me à beira das lágrimas quando o vi curvado pela dor das palmatoadas. A cena ficou-me gravada. Recordei-a centenas de vezes nestas seis décadas que me separam do fato, e julgo lembrar os mesmos detalhes. Hoje penso muitas vezes que talvez se tivesse plantado em mim uma semente de indignação, porque, anos mais tarde, o episódio vinha-me à memória sempre que me deparava com uma manifestação de injustiça racial.
Mas se eu vivera com angústia o martírio daquele velho, não me chocava, naqueles tempos, ver em cada branco um indivíduo naturalmente credenciado para decidir e executar uma punição infligida ao indígena. "Corrigir" e "educar" os nativos fazia parte da sua responsabilidade de civilizado. Eu vivia certo de que essa era, afinal, a ordem natural das coisas.
Para frequentar a escola, meus pais enviaram-me para a capital, para casa de familiares. Os hábitos de vida e os comportamentos sociais não diferiam do meu mundo lá no interior: prevalecia o mesmo espírito de casta, a mesma distanciação dos "intocáveis", a mesma onipotência e impunidade.
Só quando, já na adolescência, me relacionei com os poucos colegas não brancos do ensino secundário e do clube onde iniciei a prática desportiva, comecei a questionar-me sobre a contradição que se evidenciava entre os princípios morais em que fora educado e o desrespeito e a discriminação a que esses colegas eram submetidos. Nessa época, tinha eu 13 anos, ocorreram dois incidentes marcantes que reacenderam a minha indignação e alimentaram a repulsa pela ordem colonial.
Na casa de meus familiares "desapareceu" um velho colar de estimação. A acusação recaiu sobre o empregado doméstico que disse desconhecer o fato. Ele começou a ser agredido ainda em casa e a tortura prosseguiu na polícia, onde finalmente "confessou o roubo" e ficou preso. A dona de casa, remexendo suas coisas no dia seguinte, encontrou o dito colar. Esquecera-se de que, tempos antes, tinha decidido mudar o local onde o guardava habitualmente. O jovem empregado "confessara" para evitar a tortura, mas era efetivamente inocente.
No mesmo ano, ocorreu um outro episódio determinante: a caminho das aulas, em minha bicicleta, vi um dos três colegas negros que frequentavam o único liceu da colônia correndo, bem atrasado para a primeira hora. Ofereci-lhe logicamente uma carona. Ao voltar para casa, terminada a escola, fui recebido com uma bofetada do familiar com quem morava, a única que me deu em todos os anos de convivência, porque alguém lhe telefonara dizendo que me vira carregando no quadro da bicicleta "um preto". Fiquei indignado: no meu entender, eu transportara simplesmente um colega e não "um preto", porque nesta designação depreciativa, compreendi nos anos sucessivos, eu incluía apenas os africanos que desempenhavam tarefas subordinadas.
Os fatos que marcaram os incidentes foram os que aqui narro assim como o sentimento de revolta que experimentei. Foram dois episódios que marcaram minha adolescência e sobre os quais refleti repetidamente. Questiono-me hoje, é certo, sobre os termos exatos da avaliação crítica que então fiz e em que medida a reconstrução que agora faço incorpora reflexões e avaliações posteriores. É contudo assim que recordo os incidentes que, compreendi depois, exemplificam de forma paradigmática a violência atmosférica e o poder disciplinar (Foucalt, 2004) que a caracterizava.
A partir daí, minha atenção começou a registar uma multiplicação de detalhes que marcavam a tensão cotidiana a que os indígenas estavam sujeitos. As angústias foram-se multiplicando; o meu mundo desmoronava dentro de mim como um castelo de cartas. Cada peça que eu tocava caía derrubando outras e abrindo vazios que me assustavam. As dúvidas ficavam insolúveis perante esses hiatos clamando por novas respostas e outras certezas. No turbilhão consolidava-se a condição de colônia como causa das injustiças de que era testemunha. A imagem do Brasil que eu bebia sequioso nas páginas de O Cruzeiro e da Manchete começou a seduzir-me: uma ex-colônia dos mesmos colonizadores, onde a ordem era a dos brancos, "civilizada" portanto, e as relações interétnicas se processavam num clima de "democracia racial". As fotos transmitiam-me um povo alegre; as reportagens sobre os excluídos mostravam-me, apesar de tudo, condições de vida melhores do que as que eu via nos arredores da capital.
Foi nessa fase da minha vida, teria eu então uns 16 anos, que começou a se consolidar a compreensão do racismo que a sociedade me inculcara e do extremo egoísmo que o alimentava. Foi um momento de grande dor e de profundas e decisivas discussões com dois grandes amigos, um deles meu professor no liceu. A crise religiosa se agravava com a impossibilidade de conciliar a existência de um ente superior com a cumplicidade da igreja com a violência colonialista. A roptura com a tradição religiosa em que crescera e que me formara representou, recordo bem, um momento de profunda solidão. Estava entregue a mim próprio quando parti em 1959 para a universidade de Coimbra, em Portugal.
As eleições de 1958 para a presidência da República em Portugal já tinham sido um pretexto para intensas discussões entre o grupo de jovens de que eu fazia parte. A questão ainda sem solução permanecia: que tipo de independência para Moçambique? Em Coimbra, onde permaneci cerca de dois anos, viria a encontrar as primeiras respostas.
As opiniões sobre a ordem colonial dividiam-se, e eu começava também a me distanciar daquele que fora, até então, o meu mundo. A indignação perante um poder autoritário e desumano, em face de uma ordem social racista pressionava-me. O sentimento antiautoritário e o crescente repúdio pelas desigualdades e injustiças despertavam em mim, e em alguns colegas e amigos, uma incontornável e generosa exigência de liberdade. A reivindicação localista - a afirmação de éramos Moçambique e não Portugal - transformava-se gradualmente em algo mais profundo, prenúncio, penso hoje, do sentimento nacional. Tinha de conhecer a terra e as gentes a que me sentia pertencer. Comecei a ler autores norte-americanos e brasileiros. Jorge Amado, com Jubiabá, deu-me a inédita experiência de um romance no qual o personagem principal era negro. Descobri a poesia de Craveirinha, Noémia, Rui Nogar, os ritmos moçambicanos, a cultura popular e a arte tradicional.
A ideia de um Moçambique independente para todos ganhou forma nos decisivos anos de 1959 a 1961.
A África afirmava-se no panorama das nações. Nkrumah conquistara a primeira independência incendiando o sonho do continente. No continente americano, um punhado de jovens idealistas derrubava a ditadura de Fulgêncio Batista e exaltava o romantismo revolucionário de parte da minha geração. O povo argelino levantava-se em armas contra o colonialismo. Metade das colônias africanas tornaram-se independentes em 1960. No ano seguinte, o regime salazarista sofre os primeiros revezes: um punhado de portugueses e espanhois realiza a primeira ação armada contra a ditadura, sequestrando o paquete Santa Maria; começa a guerra colonial em Angola; o exército indiano ocupa os territórios portugueses naquele subcontinente e faz ruir o mito da inviolabilidade do império.
Os dois fatos mais relevantes, para mim, seriam o início da luta de libertação em Angola e a evolução política na jovem República do Congo. Em torno destes temas se desencadeariam árduas discussões entre os estudantes das colônias nos anos vividos em Coimbra. Angola, não obstante a violência propagandeada pelo regime português, surgia como uma janela de esperança para os que sonhávamos a independência. Os colegas angolanos traziam-nos informações da luta, muitas vezes, como mais tarde saberia, exageradas ou mesmo imaginadas A vontade e o romantismo desempenham sempre um papel importante nestes momentos!
Mas foi o drama do Congo, a confrontação que opôs os agentes do neo-colonialismo a Lumumba, que me fez compreender as insídias do processo de libertação e a necessidade de um empenho ativo. Tenho hoje a percepção de que minha decisão de militância política tomou corpo com o assassinato do dirigente congolês.
A consciência impunha-me a roptura com o meu mundo. Foi, sem dúvida, a decisão mais sofrida que tive de tomar. Romper com o meu mundo significava trair meus afetos, cindir a razão das amizades e amores construídos e consolidados por quase duas décadas. Tinha de deixar para trás quase vinte anos de socialização, as referências que me davam segurança, as certezas sobre as quais fundara os meus hábitos, comportamentos, linguagem. O Bem e o Mal invertiam posições. Em frente tinha um sentido de justiça, um dever de consciência, mas a opção mergulhava-me num mundo totalmente desconhecido. Sentia-me politizado, pleno de certezas racionais, identificado com um futuro de Moçambique que não passava já pela experiência do Brasil. Sabia em que direção se traçava meu destino. Vivia a angústia de quem, não obstante a certeza da bússola, navega no nevoeiro. Faltava conhecer o que até então fora o mundo-Outro, ao qual me levava a razão.
A violência racista da sociedade em que vivia cercara-me numa redoma social sem pontes. As amizades com negros que fizera na escola ou no desporto, cultivara-as sempre dentro do meu mundo, nos termos e nas regras que o dominavam. Por seu lado, esses amigos, compreendi depois, queriam-me longe do seu mundo e não me franqueavam portas. Eu simplesmente não era visto como parte desse universo.
Foi então que atravessou a minha vida a história de Rafael Arcanjo, que narrei no meu livro (Cabaço, 2008). Ele trabalhava na casa onde eu vivia em 1961/1962 e, por um conjunto de circunstâncias, foi-nos possível estabelecer uma plataforma de recíproca confiança e ouvir de sua boca relatos detalhados da vida cotidiana na aldeia e da periferia urbana para onde depois se deslocara. Foi para mim uma revelação, a possibilidade de olhar um outro universo que existia ali, à minha porta, de saber de uma existência diferente. Pelo meu amigo soube da atmosfera de violência - física, social e cultural - que marcava cada momento da sua vida e dos seus: as relações com o mundo dos brancos, a polícia, a delinquência reinante nas periferias; as mais sutis experiências do racismo e da humilhação; os mecanismos de autodefesa e a importância psicológica das pequenas retaliações vividas como grandes vitórias. Só então me apercebi realmente da violência total que impregnava a sociedade moçambicana.
Finalmente conseguia uma janela, ainda que minúscula, para penetrar, sem exotismo, nesse mundo-Outro, com o qual me identificava emocionalmente, mas do qual me sentia ainda longe, muito longe, do ponto de vista da cultura e da experiência de vida. O universo de ricas vivências que pude entrever na difícil amizade que fomos construindo, Rafael e eu, consolidou a certeza da minha escolha: queria ser aquele moçambicano, identificado com a grande massa que aprendera por tantos anos a menosprezar. E sabia, isso está escrito em minha notas de então, que só podia garantir a minha pertença ao futuro país trabalhando para a sua libertação, rompendo laços sentimentais com o passado, traindo meus afetos, vivendo de forma radical a minha opção.
A partir de então a história da minha vida é a de transpor fronteiras e de tentar construir novas referências, diferentes hábitos, outros valores, inéditos afetos. A adesão incondicional à Frente de Libertação de Moçambique, em 1967, era o epílogo lógico dessa travessia.
Os anos de trabalho clandestino dentro do meu país ocupado não foram fáceis. Fui forçado, pelas circunstâncias, a retomar relações de amizade que sabia transitórias e limitadas pelas escolhas consolidadas. Cultivava conversas que me repugnavam no intuito de conquistar confiança e obter informações. Simulava, muitas vezes, alegria onde vibrava de indignação. Vivia dilacerado. Sentia por vezes remorsos em relação a amigos e parentes.
Animava-me apenas o propósito, que se tornara obsessivo, de ver a independência de Moçambique. Compreendi, neste período, os diferentes matizes, todos eles cruéis, que pode assumir a violência e julgo ter apreendido, pela experiência por que passei, o drama de um povo forçado pela ocupação colonial a viver em duas dimensões.
BIBLIOGRAFIA
- BALANDIER, George. (1993), "A noção de situação colonial". Cadernos de Campo, III (3).
- BHABHA, Homi. (2001), O local da cultura. Belo Horizonte, Editora da UFMG.
- CABAÇO, José Luís. (2008), Moçambique. identidade, colonialismo e libertação. São Paulo, Editora da Unesp.
- COUTO, Mia. (2009), "O novelo ensarilhado", in _______ , E se Obama fosse africano? E outras interinvenções, Lisboa, Caminho.
- FANON, Frantz. (1960), Os condenados da terra Lisboa, Ulisseia.
- FOUCAULT, Michel. (2004), Microfísica do poder Rio de Janeiro, Graal.
- POLLACK, Michael. (1992), "Memória e identidade social". Estudos Históricos, 5 (10).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
28 Jul 2011 -
Data do Fascículo
Jun 2011