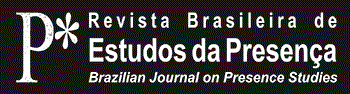Resumo:
O pensamento pós-colonial é uma epistemologia crítica - que podemos qualificar como radical - que provém da missão civilizadora do colonialismo, de sua matriz e de seu legado. Ao contrário daquilo que o prefixo do termo pós-colonial faz supor, essa reflexão não pode ser reduzida apenas à análise de situações cronologicamente posteriores ao momento colonial. O objeto da crítica pós-colonial é a grande narrativa racionalista, linear e secular enunciada pela filosofia iluminista, por trás da qual se encontra uma visão unilateral e linear de um devir histórico que seria idêntico e válido para todas as nações. Apesar de sua pretensão universalista, a filosofia iluminista não consegue - ao que parece - transcender seu lugar de palavra: ela assemelha-se mais a uma tendência de como perceber o mundo por intermédio do ponto de vista europeu, ou ocidental, do que a uma filosofia propriamente dita.
Palavras-chave:
Estudos Pós-coloniais; Filosofia Moral e Política; Éticas; Filosofia Iluminista; Desigualdades.
Résumé:
La pensée postcoloniale est une épistémologie critique - que l’on peut qualifier de radicale - qui provient de la mission civilisatrice du colonialisme, de sa matrice et de son legs. Contrairement à ce que laisse présupposer le préfixe du terme postcolonial, cette réflexion n’est nullement réductible à l’analyse de situations chronologiquement ultérieures au moment colonial. L’objet de la critique postcoloniale est le grand récit rationaliste, linéaire et séculier émis par la philosophie des Lumières, derrière lequel se tient une vision unilatérale et linéaire d’un devenir historique qui serait identique et valable pour chaque nation. Malgré sa prétention universaliste, la philosophie des Lumières ne parvient pas - semble-t-il - à transcender son lieu d’énonciation: elle s’apparente bien plus à une tendance à percevoir le monde à travers la lorgnette européenne, ou occidentale, qu’à une philosophie proprement dite.
Mots-clés:
Études Postcoloniales; Philosophie Morale et Politique; Éthiques; Philosophie des Lumières; Inégalités
Abstract:
Postcolonial thinking is a critical epistemology which could be described as radical. It is founded on a colonial civilizing mission, matrix and legacy. Contrary to the misleading prefix postcolonial, this reflection is not limited the analysis chronological facts subsequent to the colonial period. The reason for postcolonial criticism is a great rationalist narrative, linear and secular issued by the Enlightenment, behind which is a unilateral and linear vision of a historical process that is actually identical and valid for each nation. In spite of its Universalist pretentions, the Enlightenment fails - it seems - to transcend its principles: it tends to be more a tendancy to perceive the world through a occidental lense than a proper philosophy.
Keywords:
Postcolonial Studies; Political and Moral Philosophy; Ethics; The Enlightenment; Inequalities.
Introdução
A violência epistêmica7 7 “O exemplo mais evidente dessa violência epistêmica é o vasto projeto heterogêneo, organizado a distância para constituir o sujeito colonial como o Outro. Esse projeto também é a obliteração assimétrica dos vestígios desse Outro em sua subjetividade precária” (Diouf, 1999, p. 182). Nota do tradutor: na versão em francês “L’exemple le plus patent de cette violence épistémique est le vaste projet hétérogène, concocté de loin en vue de constituer le sujet colonial comme l’Autre. Ce projet est aussi l’oblitération asymétrique de la trace de cet Autre dans sa précaire subjectivité”. é exercida de modo a fazer com que a história universal oculte inúmeros planos de imanência, e isso em razão de uma utilização singular de nossa razão prática, suprimindo efetivamente aquilo que é intrínseco às desigualdades estruturais: seja entre os homens, seja entre as classes ou entre as nações.
No contexto de disciplinas como as ciências do homem ou as humanas, a reificação dos dominados produzida pelo Ocidente não corresponde absolutamente a uma realidade específica. E, no entanto, a pretensão à objetividade colocada em destaque por esses saberes é não apenas patente, mas endossa uma forma de dominação. Em outras palavras, as condições constitutivas desses saberes foram intimamente relacionadas ao exercício do poder colonial sobre a vida dos colonizados, que foram categorizados em um momento em que essas ciências humanas tentam objetivar o sujeito colonial. Em suma, o ocidente nomeou o que queria dominar, subjugar ou destruir. A partir disso, a época colonial deu origem a disciplinas universitárias como o africanismo ou o orientalismo, que podem ser consideradas, no mínimo, arriscadas. Ao redigir um dos textos fundadores do pensamento pós-colonial, Edward Saïd (2005SAID, Edward. L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident. Paris: Le Seuil, 2005.) desconstruiu a ideia de Oriente, que ele qualifica acertadamente de construção ocidental, a fim de deixar aos próprios dominados a tarefa de enunciarem o que são. Mas os estudos pós-coloniais, esse conjunto rico em pesquisas, nos incitam a reinterrogar a noção de cultura, e solicitam uma alteração das epistemes, com relação à historiografia europeia. Desse modo, esses estudos procuram destacar os esquecidos de uma história oficial contada pelos vencedores. Mas a violência da qual tratamos aqui também se caracteriza pela produção de suas próprias críticas, das quais ela apropria-se epistemologicamente. Isso significa que essa violência epistêmica cria as condições que possibilitam a resistência ao poder intelectual totalizante que ela exerce.
Por meio da ideia de subalternidade, o pensamento pós-colonial refere-se às condições de vida efetivas dos indivíduos ou dos grupos sociais cujos direitos fundamentais, bem como as iniciativas, a vida ou a linguagem, foram negligenciados ou tornados ineficazes pela violência epistemológica induzida pela modernidade. “Trata-se, de fato, de reencontrar vozes abafadas, corpos desmembrados e tradições mutiladas” (Diouf, 1999DIOUF, Mamadou. L’Historiographie Indienne en Débat: colonialisme, nationalisme et sociétés postcoloniales. Paris: Karthala, 1999., p. 6)8 8 Nota do tradutor (N. T.): na versão em francês “Il s’agit, en effet, de retrouver des voix étouffées, des corps démembrés et des traditions mutilées”. . Coloca-se a questão: como a modernização - e a ideia emancipadora contida no núcleo do processo - pôde induzir a tal desigualdade entre as culturas?
Da Modernidade como Matriz da Violência Epistêmica
Nietzsche (1987NIETZSCHE, Friedrich. Par-delà bien et mal. Paris: Folio essais, 1987.) condena de forma veemente a modernidade, que tem a pretensão de ter oferecido ao mundo os direitos humanos, a democracia e o iluminismo, que, segundo ele, não são, de forma nenhuma, princípios igualitários capazes de alçar o homem a certo grau de elevação espiritual. Ao contrário, esses valores não são nada além de quimeras ou sonhos vazios e pueris (Aijaz, 1992AIJAZ, Ahmad. In Theory: classes, nations, literatures. London: Verso, 1992., p. 128), que têm por consequência a erosão pura e simples das paixões via uma universalização de fato9 9 Seria necessário lembrar que os ideais reguladores que constituem as ideias de progresso, de liberdade e de democracia são apenas horizontes a serem atingidos e, de forma alguma, ideais realizados hic et nunc. . Segundo Nietzsche (1987), paradoxalmente, foi o caráter profundamente desigual, brutal e amoral da realidade humana que permitiu os avanços históricos mais importantes, e não o uso de estratagemas grosseiros como os que são propostos pela divinização do homem. Ou seja, são as paixões10 10 A pressão desse componente intrépido [thymotique] da alma revela-se ser o único entre todos (o logos e o desejo [epitunia]) a permitir aos homens sublimar sua condição miserável. e não a vontade e a razão que constituem o elemento principal do progresso. Mas é apenas a partir de certa relação com o real11 11 N. do T.: o termo traduzido aqui como “real” pode ser encontrado em outras traduções relacionadas a Nietzsche como “realidade” ou ainda “realidade efetiva”. que a paixão aparece como um motor da história. No aforismo 257, Nietzsche afirma que:
Até o momento, toda elevação do tipo humano foi obra de uma sociedade aristocrática, e assim será sempre; ou seja, ela foi obra de uma sociedade hierárquica que crê em uma longa escala de hierarquias e diferenças de valor entre um e outro homem e que necessita de uma forma de escravidão (Nietzsche, 1987NIETZSCHE, Friedrich. Par-delà bien et mal. Paris: Folio essais, 1987., p. 180)12 12 N. do T.: na versão em francês “Jusqu’ici toute élévation du type humain a été l’œuvre d’une société aristocratique, et il en sera toujours ainsi; autrement dit elle a été l’œuvre d’une société hiérarchique qui croit à une longue échelle hiérarchique et à la différence de valeur de l’homme à l’homme et qui a besoin d’une forme quelconque d’esclavage”. .
Em suma, a alma aristocrática13 13 N. do T.: o termo traduzido aqui como “alma aristocrática” pode ser encontrado em outras traduções relacionadas a Nietzsche como “alma nobre”. mencionada por Nietzsche opõe-se à concepção moderna de uma sociedade baseada na igualdade entre os indivíduos, que ele considera sem sentido. Pois ao considerarmos que os homens nascem e permanecem livres e iguais em seus direitos, impedimos de facto que os melhores entre eles experimentem o anseio de enfrentar uma realidade tanto caótica quanto brutal. Por meio dessa singularidade (o fato de ser movido por uma vontade determinada de viver, e não por ídolos), alguns homens conseguem criar um sistema de valores em conformidade à sua natureza aristocrática, e aos quais as pessoas comuns referem-se para guiar suas próprias existências. De certa forma, é a própria realidade que, por assim dizer, incute nas almas uma impressão de tormento. Um sentimento ao qual a maioria sucumbe, mas que se traduz em alguns como uma paixão impetuosa. À luz do que parece ser uma superação, ocorre a gênese da alma aristocrática e a possibilidade de vislumbrar os primeiros sinais do progresso. Consequentemente, é o caos que constrói a alma. Essa é a condição que permite aos aristocratas aventurem-se tranquilamente no interior de uma realidade caótica. Como Nietzsche afirma, ainda no aforismo 257:
A casta aristocrática sempre foi, no início, a casta dos bárbaros: sua superioridade não residia em sua força física, mas em sua força mental; eles eram mais completamente homens, ou seja, também e em todos os níveis, mais completamente brutos (Nietzsche, 1987NIETZSCHE, Friedrich. Par-delà bien et mal. Paris: Folio essais, 1987., p. 181)14 14 N. do T.: na versão em francês “La caste aristocratique fut toujours, d’abord, la caste des barbares: sa supériorité ne résidait pas avant tout dans sa force physique, mais dans sa force spirituelle; ils étaient plus complètement des hommes, c’est-à-dire aussi, et à tous les niveaux, plus complètement des brutes”. .
Assim, os aristocratas submetem-se à brutalidade do real; os modernos opõem-se a eles e pretendem combater essa mesma brutalidade por meio de um sistema de valores morais e políticos: os Direitos do Homem e a democracia. Tendo as paixões sido abandonadas em prol do sentimento moral de justiça, esses valores modernos não permitem superar o sentimento de tormento no qual a alma tende a permanecer. De fato, o advento da democracia e/ou do parlamentarismo conteve, ou amordaçou, as mais brilhantes paixões, sublimando as múltiplas propensões à violência no âmbito do comércio, do entretenimento, do trabalho, considerado degradante para as almas aristocráticas, e do conforto material. Nesse ambiente, no qual as paixões violentas pertencem ao passado, a mediocridade da maioria intensifica-se e dissipa as qualidades mais intensas da alma aristocrática em razão das virtudes terapêuticas dos valores modernos. Efetivamente, os princípios políticos e morais produzidos pela modernidade mostram-se como uma solução capaz de tranquilizar a sensação de angústia diante do real. Assim, a alma não tem mais o desejo de continuar sentindo o que Nietzsche designa como vontade de potência15 15 N. do T.: o termo traduzido aqui como “vontade de potência” pode ser encontrado em outras traduções relacionadas a Nietzsche como “vontade de poder”. , que abordaremos mais tarde. As mentes inserem-se em um mesmo plano, à luz de uma temporalidade que, a partir desse momento, lhes é comum e, no núcleo desta era homogênea e vazia, o homem eleva-se em senhor de tudo o que é. Essa nova situação parece ter atenuado o grau de violência que até então se dispersava sobre a realidade humana. Tal escatologia singular parece ser movida pela esperança, enquanto a alma aristocrática encontra-se no mais alto ponto de sua espiritualidade. De fato, de certa forma, nesse universo totalizante, baseado em uma igualdade política, as mais mesquinhas e decadentes paixões de alguns desgastam as paixões das almas mais nobres. No melhor dos casos, as paixões são pervertidas e deformadas. No pior dos casos, elas perecem a fim de responder às exigências políticas e morais da modernidade. Exigências que defendem não usurpar as paixões de outrem, não ultrapassar a esfera privada, que se tornou sagrada e, além disso, perfeitamente inviolável. De acordo com Nietzsche (1987), o fato de que a modernidade tenha maculado a tal ponto todas as paixões e todos os valores aos quais os homens aspiraram, colocando-os em pé de igualdade, pode ser comparado a um crime de lesa-majestade. Pois, como mencionamos anteriormente, as características da alma aristocrática são contingentes e, assim, correm o risco de extinguir-se em um ambiente que não é favorável a seu desenvolvimento. Justamente, o igualitarismo defendido pela democracia não lhe é favorável, sendo não apenas contranatura, mas também amputando de forma grosseira as inclinações humanas, e tendo como efeito mais concludente o de tornar o indivíduo mais dócil com relação ao diktat da maioria. Esse poder que um grupo humano exerce sobre outros, e que possibilita a democracia, dissimula os impulsos de uma agressividade natural sob a máscara das boas maneiras, amordaçando o que Nietzsche chama de vontade de potência.
A vontade de potência representa para a alma o mesmo que o néctar representa para os Deuses do Olimpo. Para Nietzsche, a vontade de potência pode ser conduzida de maneira tanto positiva quanto negativa. Ela é positiva quando os aristocratas dominam por si próprios seus instintos, de acordo com o que é permitido por sua propensão à desesperança, quando perdem essa vontade. A realidade caótica com a qual a alma aristocrática se confronta suscita nela a ousadia de enfrentá-la, lhe dá a capacidade de vislumbrar as nuances dessa realidade e incita seu gosto pela vida. Consequentemente, a alma aristocrática é sua própria base, ou seja, o húmus sobre o qual emerge a vontade de potência. No entanto, a vontade de potência é negativa quando essa realidade imanente e caótica é um fardo para a alma e enfraquece a vida. A respeito disso, o espírito servil do democrata é movido não pela espontaneidade do instinto, mas pela rejeição ao dominante, cuja alma lhe parece além da realidade. Movidos por um desejo incondicional ao qual estão submetidos, esses democratas anseiam vingar-se dos aristocratas por meio de uma realidade que consideram tanto como algo que os oprime quanto como uma fonte do ímpeto vital aristocrático. O caos imanente tem, assim, uma resonância bastante diferente de acordo com a alma que afeta, mesmo que a desordem causada por ele, e que caracteriza a realidade apresentada aos sentidos, dê aos democratas a impressão de serem jogados nesse mundo. Para as almas democráticas, não é a potência, mas o sujeito moral que representa a medida de todas as coisas e que torna possível a devoção a outrem. Esse ímpeto em direção ao Outro é perfeitamente legítimo; de fato, a vontade de potência é impulsionada negativamente, particularmente, quando a alma está em busca de sua própria consistência, não em um estado de contingência, mas em uma esfera do real que ela considera transcendente e a qual se apega para viver. Em sua forma negativa, a vontade de potência parece enfraquecida pela vida, o passado mostra-se pesado, o futuro premente e o presente inexistente. Ela curva-se constantemente face ao fardo da existência e ajusta-se a ele a fim de se preservar e tornar o peso mais suportável. Em suma, um contrato social que unisse de forma indiferente tais homens jamais poderia ser baseado sobre o acordo de vontades livres e iguais entre eles. No aforismo 257, Nietzsche sustenta a seguinte ideia:
A verdade é dura. É preciso observar friamente de que modo qualquer civilização superior começou nesta terra. Homens próximos da natureza, bárbaros no sentido mais terrível do termo, homens de rapina, ainda possuidores de uma vontade e apetites de potência intactos, atacaram raças mais fracas (Nietzsche, 1987NIETZSCHE, Friedrich. Par-delà bien et mal. Paris: Folio essais, 1987., p. 180)16 16 N. do T.: na versão em francês “La vérité est dure. Il nous faut regarder froidement comment n’importe quelle civilisation supérieure a commencé sur cette terre. Des hommes encore tout proches de la nature, des barbares dans tout ce que ce mot comporte d’effroyable, des hommes de proie encore en possession d’une volonté intacte et d’appétits de puissances inentamés se sont jetés sur des races plus faibles”. .
De acordo com Nietzsche, o fato de que a modernidade atingiu seu apogeu significa que a civilização moderna está doente, pois se mostra incapaz de gerar novas formas de vida e proíbe pensar ou observar o mundo imanente a partir de certa altura espiritual. Mas, antes de poder dar o diagnóstico correto sobre um processo generalizado, que teve a corrupção de valores como corolário, ou seja, o contrário daquilo a que ela se dirigia, a modernidade tem a obrigação de dissociar a moral dos mestres e a moral dos escravos. Ao se esforçar para reunir esses dois tipos de moral, como se uma afinidade qualquer pudesse nascer dessa relação, a modernidade nega o caráter caótico da natureza e se priva da realização da própria ideia de progresso (aforismo 259): “[...] viver é, essencialmente, desapropriar, ferir, dominar o que é estrangeiro e mais fraco, oprimi-lo, impor com energia sua própria forma, incorporá-lo e, no mínimo, explorá-lo” (Nietzsche, 1987, p. 182)17 17 N. do T.: na versão em francês “[...] vivre, c’est essentiellement dépouiller, blesser, dominer ce qui est étranger et plus faible, l’opprimer, lui imposer durement sa propre forme, l’englober et au moins l’exploiter”. . De certa forma, Platão já havia ilustrado isso por meio de sua alegoria da caverna; em alguns aspectos, a obra de Nietzsche pode ser lida nesse sentido. De fato, o homem deve liberar-se por si mesmo de um lugar onde é permanentemente atormentado por ilusões, não mais para poder contemplar a verdade, mas para poder contemplar a verdade nela mesma. No entanto, Nietzsche recusa a dimensão idealista ou altruísta dessa alegoria platônica, pois assim que o homem livre se desfaz das correntes que o mantinham até então na mentira, ele não deve buscar seus antigos companheiros que continuam prisioneiros no fosso. Por quê? Porque é possível que seus ex-companheiros alimentem certa amargura contra aquele que contribuiu à sua libertação, o que poderia, por sua vez, incitar represálias; armar a mão vingadora dos prisioneiros. Para Nietzsche, os homens dominados devem sair por seus próprios meios do lugar funesto no qual se encontram prisioneiros. Cabe a eles encontrar o ponto de fuga e escapar para sempre do berço de ilusões onde sempre foram mantidos por outros homens. Quando atingem por si mesmos o alto dessa espiritualidade, eles devem manter uma distância necessária entre eles e os outros, mesmo que essa distância represente, de acordo com o próprio Nietzsche, um sofrimento. De fato, esses homens livres não podem compartilhar, nem mesmo comunicar, a outrem a experiência íntima da conquista de tal verdade. A distância espiritual que se cria entre eles e os outros é tanta que nenhuma afinidade pode surgir: se, por um lado, uns não devem implorar por essa verdade, os outros, por sua vez, não devem tentar oferecer algo que só pode ser conquistado.
O que Nietzsche condena, com o ardor e a altivez que lhe são característicos, são os valores democráticos produzidos pela modernidade. Os defensores dessa modernidade - que Nietzsche qualifica de ideologia política - canalizaram a amargura dos fracos e/ou dos escravos, focalizando sua hostilidade contra os fortes. Abandonados à sua própria mediocridade, eles armam planos de vingança em detrimento dos fortes, incutindo outro sistema de valor à massa. De fato, pouco a pouco, a valorização de sentimentos relacionados à caridade ou à tolerância conquistou as massas, antes de subjugar os fortes. Após o afastamento dos mestres, esses valores que, originalmente, eram destinados a continuar minoritários e servis, tornaram-se dominantes. Nietzsche considera que, irremediavelmente, os fracos ganharam dos fortes, impondo a seus antigos mestres os valores judeu-protestantes disfarçados por uma fachada moderna, laica, racionalista e universalista. Mas esses valores democráticos, que afirmam uma suposta igualdade absoluta entre os homens, têm como consequência o enfraquecimento da vida, tendo como finalidade desviar os olhares que ousam dirigir-se a uma verdade, sob muitos aspectos, perturbadora. Habituados ao privilégio de uma vida impessoal, tranquilizadora e uniforme, essa forma de conformismo parece conduzir os homens na direção de um horizonte único, ao qual são convocados a se render. Como já mencionamos, o idealismo tornou a vida, compreendida como vontade de potência, bastante lânguida, projetando no mundo sensível e, digamos, na verdade como ela é, esquemas de pensamento marcados pela natureza plebeia da alma moderna descrita anteriormente: a unidade do gênero humano, os possíveis efeitos da vontade, a permanência do progresso, a eternidade e a substância. Por que a verdade - compreendida como a íntima experiência do mundo e, dessa forma, como sinônimo de realidade - inspira uma sensação tanto de medo quando de serenidade?
A angústia moderna é, assim, uma angústia diante do abismo de uma vida que, agora privada de seus objetivos e valores, parece fatalmente absurda: os valores superiores são rebaixados. Faltam objetivos; não há resposta a esta questão: pra quê? (Granier, 1982GRANIER, Jean. Nietzsche. Paris: PUF, 1982., p. 28)18 18 N. do T.: na versão em francês “L’angoisse moderne est bien, ainsi, angoisse devant l’abîme d’une vie qui, privée maintenant de ses buts et de ses valeurs, apparaît fatalement absurde: les valeurs supérieures se déprécient. Les fins manquent; il n’est pas de réponse à cette question: à quoi bon?”. .
Para compensar essa angústia, ao invés de afrontarem a violência dessa verdade, as almas modernas preferem projetar suas concepções pretensamente iluminadas de uma realidade imanente, ela mesma dominada por realidades idealizadas e, a priori, às quais os fracos referem-se para avaliar suas ações passadas, presentes e futuras. Mas essas normas transcendentes baseadas em um mundo oculto e inteligível19 19 Esse mundo oculto e inteligível no qual qualquer ideia de imanência e de temporalidade parecem ter sido milagrosamente suspensas. , em conformidade com seus desejos20 20 “A vocação liberadora da luz natural interessa aos filósofos do século XVIII. Assim, Voltaire e Condorcet consideram a obra cartesiana como uma preparação às iluminações políticas da época revolucionária. [...] O iluminismo pode ser compreendido, em uma tradição cartesiana, como a aplicação lúcida e sem limites predeterminados da razão humana à totalidade dos fenômenos naturais, históricos, políticos, morais e religiosos” (Foucault, 2004, p. 106). Nota do tradutor: na versão em francês “La vocation libératrice de la lumière naturelle n’échappera pas aux philosophes du XVIIIe siècle. Voltaire et Condorcet considéreront ainsi l’entreprise cartésienne comme une préparation aux lumières politiques de l’époque révolutionnaire. [...] Les Lumières peuvent donc être comprises, dans une tradition cartésienne, comme l’application lucide et sans bornes prédéterminées de la raison humaine à la totalité des phénomènes naturels, historiques, politiques, moraux et religieux”. , se refugiam em seu foro interior, insuflando esperança, ou remorso, na alma. Assim, a alma democrática deve apoiar-se em uma concepção prometeica, a fim de alcançar o horizonte único que imagina e, a cada dia, condicionar suas ações ordinárias a exigências utilitaristas.
Ao contrário, o que caracteriza os aristocratas encontra-se em sua aptidão a afrontar com serenidade a verdade, suportando o sofrimento, a escravidão do homem pelo homem, a morte e a violência que esta realidade lhes mostra. Os aristocratas não afirmam uma adequação possível entre suas categorias de pensamento e o mundo em si; e, ao contrário do que pensam os modernos, suas almas não dominam o mundo imanente. Elas vêm a seu encontro, sublimando em suas obras até mesmo suas percepções íntimas dessa verdade - que podemos julgar problemática, ou mesmo trágica. Em razão dessa disposição mental, os aristocratas sentem-se reconciliados com o mundo e não são consumidos pela angústia, pelo remorso ou por outras formas de paixões triviais. Por sua vez, os fracos avaliam o mundo aqui embaixo em nome de uma vida no mundo do além. Mas ao estabelecer uma mediocridade que se aplica a todos, sua angústia também se torna constitutiva do sintoma mais representativo dos fracos, e que se manifesta pela recusa deliberada de examinar a verdade. Consequentemente, os fracos colocam-se de acordo sobre o que há de mais comum ou de mais generalizável em suas experiências pessoais do mundo e da verdade, visando produzir um sistema de pensamento coletivo capaz de homogeneizar e/ou subverter essa realidade. A razão disso é que a realidade caótica na qual se encontram todos os seres vivos, inclusive os aristocratas, parece preferir certas almas escolhidas arbitrariamente, concedendo-lhes qualidades super-humanas, enquanto os outros deverão contentar-se dos restos. A vontade de potência parece literalmente eliminar a alma e o aspecto carnal da aristocracia. Ela se encarna. Mas essa elegância insolente de uma alma aristocrática, que exibe a todos o triunfo da vontade de potência, dá lugar à certeza de uma iniquidade inspirada pelos democratas, uma sensação de injustiça e de ressentimento. O real parece ter atribuído a uma ínfima minoria de almas aquilo que até então lhes faltava: uma forma de bem-estar livre do medo de viver em uma realidade caótica. Em outras palavras, a natureza parece ter interferido no curso da vida humana para oferecer à alma aristocrática essa dádiva que ela não possuía antes. Essa(s) qualidade(s) desconhecida(s), verdadeira(s) ou hipotética(s), fundamenta(m) o imenso poder detido por alguns e instilado sobre o restante do reino dos vivos. Parafraseando Hölderlin (Heidegger, 1962HEIDEGGER, Martin. Chemins qui ne mènent nulle part. Paris: Gallimard , 1962., p. 355), onde se desenvolve o perigo, também se desenvolve o que salva dele. Em suma, se é em relação a esse concurso fortuito de circunstâncias - felizes para alguns, menos para outros - que nascem os atributos aristocráticos, essa mudança radical de identidade é definitivamente aleatória e, além disso, prejudicial. Consequentemente, para responder a essa forma de enfermidade do aparente aleatório arbitrário, a alma moderna almejou operar uma inversão, tendo integrado o que lhe parece uma injustiça flagrante. Os diferentes momentos dessa mudança têm como função inicial edificar diversas muralhas contra o poder que as almas aristocráticas gozam, antes de conquistar arduamente, uma a uma, a grande maioria das almas que o projeto natural teria prejudicado e, finalmente, eliminar os opressores. Para isso, a modernidade só poderia elevar-se à condição de reunir sob sua proteção o que ela designa como parte do gênero humano, a fim de realizar a dominação sem precedentes da filosofia Iluminista. Esta última pode instalar-se por meio da recusa do que ela considera como a dominação precedente.
O niilismo ratifica a generalização do fenômeno mórbido, a decadência. Enquanto permanecer limitada a certas camadas sociais e certas regiões do mundo, a decadência não coloca em risco a civilização humana; mas ela torna-se uma terrível catástrofe quando invade - como atualmente, de acordo com Nietzsche - a totalidade das classes, das instituições e dos povos, confundindo-se com a própria ideia de humanidade (Granier, 1982GRANIER, Jean. Nietzsche. Paris: PUF, 1982., p. 25)21 21 N. do T.: na versão em francês “Le nihilisme sanctionne la généralisation d’un phénomène morbide, la décadence. Tant qu’elle demeure cantonnée dans certaines couches sociales et dans certaines régions du globe, la décadence ne met pas en péril la civilisation humaine; mais elle devient un fléau redoutable, quand elle envahit – comme aujourd’hui selon Nietzsche – l’ensemble des classes, des institutions et des peuples, pour se confondre finalement avec l’idée même d’humanité”. .
Para Nietzsche, muitas formas de dominação existem porque essa é a condição para que a humanidade como espécie possa elevar-se. A aristocracia teria perdido seu poder não apenas por arrogância - e assim, de maneira interna a ela mesma, mutilada, carregando em si os germes de sua própria destruição -, mas também porque ela não teria mais aceito a função que tinha antes. Enquanto isso, os fracos teriam aproveitado a ocasião para se inserir - e não para se opor, sendo a aristocracia o inimigo de si mesma - em uma brecha extremamente aberta de um sistema de dominação que até o momento os teria oprimido. A coerção ininterrupta dos subalternos teria por consequência a criação neles, e contra sua vontade, de uma profundidade espiritual infinitamente restrita, que eles souberam valorizar. Mas, por mais ínfima que fosse essa nova organização, que teria momentaneamente tomado o lugar da hostilidade, teria sido apoiada de forma suficiente para permitir que os escravos invertessem os termos dessa dominação e, em seguida, reinassem sem oposição. Tendo a Fortuna uma tendência a mudar rapidamente de beneficiário, a dominação teria de fato passado das mãos de um às mãos de outro, e os aristocratas teriam caído na desgraça. Consequentemente, qual é a essência das sociedades modernas?
Da Construção do Consentimento como Núcleo da Dominação na Era Contemporânea
A modernidade coloca o indivíduo no centro de um novo sistema de valores cujo efeito é produzir consentimento. Desde então, devemos contar com essa entidade abstrata que deve desenvolver ex nihilo normas cuja pretensão é serem universalmente válidas.
A democracia não podia despertar em Nietzsche nada além de indignação. Primeiramente, por princípio, ela vem do geral, do impessoal e, assim, do igual. Estes são os aspectos da lei identificados por Rousseau e pelos homens da grande revolução. Por ser feita para todos, sendo supostamente uma obra de todos, a lei afirma-se igualitária. Assim, a democracia baseia-se em uma construção abstrata do homem (Dupuy, 1969DUPUY, René-Jean. Politique de Nietzsche. Paris: Armand Colin, 1969., p. 36)22 22 N. do T.: na versão em francês “Tout dans la démocratie ne pouvait qu’indigner Nietzsche. Tout d’abord, dans son principe même, elle procède du général, de l’impersonnel et donc de l’égal. Ce sont là les caractères de la loi tels qu’ils ont été dégagés par Rousseau et par les hommes de la grande révolution. C’est parce qu’elle est faite pour tous, étant censée être l’œuvre de tous, que la loi se veut égalitaire. La démocratie se fonde donc sur une construction abstraite de l’homme”. .
A legitimidade instaurada pela alma aristocrática, que se apoiava sobre bases fortes, foi oposta a um processo de legitimação que resultou na subversão incessante das modalidades da dominação anterior. De fato, segundo Nietzsche (1987NIETZSCHE, Friedrich. Par-delà bien et mal. Paris: Folio essais, 1987.), entre os inúmeros mecanismos intrínsecos ao processo generalizado gerado pela modernidade, a democracia é, de longe, o mais coercitivo. A partir da perspectiva dos partidários da democracia, e em comparação aos poderes anteriores, exercidos de forma arbitrária sem qualquer justificativa além da razão do mais forte, o poder que advém por meio do processo descrito acima necessita da aprovação daqueles sobre o qual é exercido, sendo, na verdade, uma imposição. No entanto, o processo de democratização nunca, ou muito raramente, coloca em destaque os grupos intermediários situados na escala mesossociológica e que correspondem ao que era chamado de corpos intermediários. Estes últimos exercem sua influência ao mesmo tempo sobre as camadas inferior e superior de uma sociedade civil, que se tornou autônoma, e sobre a esfera política como um todo. Mas essas esferas de influência que se encontram entre o indivíduo e a nação não têm razão de ser, pois, de acordo com os princípios democráticos, não há nenhum poder entre o cidadão e o Estado. Isso significa que esse tipo de poder não se encontra em lugar nenhum, ao mesmo tempo que é onisciente, já que se situa em um nível médio que não é dominado nem pelo cidadão, nem pelo Estado. Além disso, esses grupos intermediários não fazem parte da mesma temporalidade dos cidadãos.
Há uma diferença fundamental entre esses dois tipos de dominação próprios ao exercício do poder de poucos sobre muitos, e de uma maioria conciliadora sobre um pequeno número de indivíduos; uma forma de dominação é visível e apresenta-se na maior transparência, enquanto a outra parece ficar mais recuada e é completamente opaca. Nesse sentido, esta última tem vocação a ser exercida de forma durável em nome de um povo soberano que ela supostamente encarna por meio de representantes, e isso, sem realmente ser menos autoritária. Na medida em que se baseia sobre a crença em um macrossujeito - ou seja, o povo soberano que não é nada além de um ídolo do processo moderno, cuja função seria acelerar a chegada do progresso -, essa forma de dominação interioriza-se de maneira irremediável no foro interior de cada um. Assim, a partir desse momento, por meio do que deve ser nomeado um doutrinamento, o homem torna-se o depositário de sua própria servidão em relação a uma dominação que, sob vários aspectos, se mostra muito mais traiçoeira do que a anterior. Como matriz de comportamentos e crenças coletivas atribuídas à civilização como um todo, o ethos individualista que resulta dessa legitimação difunde-se nessa sociedade civil por meio de grupos sociais situados na camada intermediária. Esses comportamentos coletivos podem ser comparados a verdadeiros catalisadores que contribuem ao surgimento do processo moderno. O fato que, para os modernos, o homem seja concebido como um ser contranatura - já que seria capaz de desviar-se de sua condição própria -, lhe dá um poder: o de aperfeiçoar-se infinitamente, desde que esteja no centro do universo - que, como sabemos, também é infinito -, e que o molde à sua imagem, por meio da ferramenta racional.
Além de ser concretizada pela democracia, que, como vimos, é baseada em uma concepção abstrata do homem e em um repertório de comportamentos individualistas e impessoais, a tendência moderna a dominar o real também se efetua por meio de outro ídolo. A modernidade mobiliza um instrumento tão ficcional quanto a igualdade entre os homens, louvada pela democracia, mas cujo efeito sobre a vida é, no entanto, aparente. Trata-se do mercado, compreendido como ambiente abstrato no qual interagem a oferta e a procura. O mercado torna-se parte integrante do sistema econômico, simultâneo à democracia, surgindo após uma uniformização que se estende a outra parcela do real: a esfera econômica. De acordo com os modernos, nesse espaço onde supostamente se equilibram duas entidades diferentes, ainda que interdependentes - que são, por um lado, a oferta e, por outro, a procura - o racionalismo econômico também representa um mecanismo intrínseco que ativa o processo de modernização. Mais uma vez, esse mecanismo cego propaga-se entre os Homens - primeiramente no sentido de gênero e, após, no sentido genérico do termo -, se popularizando por meio de um efeito quase irresistível de mimetismo. Isso significa que a interpretação do real gerada por ele é a simples imitação de uma interpretação produzida por terceiros, que a alma moderna contenta-se em reproduzir em sua relação única com a realidade imanente, especialmente durante sua confrontação à esfera econômica. Essa busca, do lucro por si só, deu origem a um sistema econômico global no qual cada homem vai ser compreendido através de sua função social.
Nietzsche desenha aqui um duplo programa: primeiro, criticar o Idealismo enquanto responsável pelo niilismo moderno e, assim, superar a metafísica; para então realizar a transmutação de todos os valores, a fim de permutar a humanidade decadente pelo super-homem: os deuses estão mortos, agora queremos que viva o Super-humano [...] (Granier, 1982GRANIER, Jean. Nietzsche. Paris: PUF, 1982., p. 29)23 23 N. do T.: na versão em francês “Nietzsche nous trace ici un double programme: d’abord critiquer l’Idéalisme, en tant que responsable du nihilisme moderne, donc surmonter la métaphysique; et ensuite, opérer la transmutation de toutes les valeurs, afin de relayer l’humanité décadente par le surhomme: tous les dieux sont morts, ce que nous voulons à présent, c’est que le Surhumain vive [...]”. .
Há em Nietzsche uma vontade de transfigurar ao mesmo tempo os contornos e o conteúdo de uma modernidade ancorada solidamente em suas bases. Uma interpretação do real deu lugar a certo número de comportamentos que se autoalimentam, gerando assim as condições propícias ao surgimento de uma legitimação tendencial que dura ao longo do tempo. Mas aquilo que é bom e nobre deve impor-se por si mesmo. A partir do momento em que uma autoridade é exercida, imediatamente o uso da razão cessa. De fato, o exercício dessa autoridade não asfixia o ímpeto vital que a alma aristocrática deve deixar livre. Nesse sentido, a dialética - ou as trocas de opiniões - assemelham-se de facto a uma forma decadente de autoridade em vias de legitimação. O conteúdo reativo dos valores modernos derruba as ideologias antagonistas. Na representação do mundo produzida por aqueles que se reivindicam pertencendo à modernidade, cabe às ideias racionais e razoáveis infundir o real, desde que o homem conceda a estabelecer as condições possíveis para realizá-las no mundo aqui embaixo. Contra a grandeza dos Helenos existe a pequena vitória daqueles que só podem existir por meio da oposição pela palavra, que só podem existir através da negação.
Ele [Nietzsche] vê no ideal democrático o prolongamento natural do socratismo e do cristianismo, vulgarizados pela revolta plebeia. A democracia não era uma forma de moral inventada pelos fracos para submeter a raça dos mestres? Ela é oriunda do desenvolvimento laicizado dos princípios cristãos que animam a revolta dos escravos, movidos pelo ressentimento (Dupuy, 1969DUPUY, René-Jean. Politique de Nietzsche. Paris: Armand Colin, 1969., p. 37)24 24 N. do T.: na versão em francês “Il [Nietzsche] voit dans l’idéal démocratique le prolongement naturel du socratisme et du christianisme, vulgarisés par la révolte plébéienne. La démocratie n’était-elle pas une manière de morale inventée par les faibles pour y soumettre la race des maîtres? Elle procède du développement laïcisé des principes chrétiens qui animent la révolte des esclaves mus par le ressentiment”. .
A democratização gerou uma religião ao mesmo tempo civil e secular, ou seja, um culto sem clero, uma nova forma de religião particularmente coercitiva contra a vida como ela se apresenta a nossos sentidos. Essa visão singular do mundo deu origem ao aparecimento de um sistema econômico. Este último é o fruto de uma pluralidade de causas ideais e materiais. Consequentemente, o que antes pertencia apenas ao campo do ideal foi pouco a pouco materializado em um comportamento social concreto, criando assim as condições propícias à hipóstase da alma aristocrática. Ao invés de abrir-se à vida, o aumento desse desenvolvimento laicizado pretende domar as diversas parcelas da realidade imanente, aquelas que não se revelam facilmente, a fortiori, quando estas esferas da existência são tratadas de forma científica. De fato, a linguagem que convém para apreender a vida é diferente daquela que deve ser utilizada para expressar e descrever o real; é esta última que constitui a linguagem científica. O irracional dá lugar à racionalidade, pois sendo o mundo, a partir desse momento, reduzido a uma soma de matérias destinadas a serem modeladas, ele tornou-se completamente explicável pela razão. A perda de sentido que ocorre, então, sobre o porquê da existência provoca uma crise espiritual profunda. A característica geral que surge dessa nova relação ao real é uma das formas do espírito crítico, que consiste em questionar o que pertence à esfera espiritual ou ideal por meio do método cartesiano, a fim de confrontar seus possíveis efeitos sobre o real, e que constitui um uso impróprio da dúvida metodológica cartesiana. Quando as causas ideais são consideradas apenas como dogmas, superstições ou formas residuais de um obscurantismo agonizante, elas não podem mais gerar efeitos convincentes na cadeia causal dos fenômenos reais. O que caracteriza esse espírito crítico é o fato de não atribuir importância ao potencial significado metafísico, espiritual e religioso das coisas.
A abertura à vida é afrontosamente trágica; é a renúncia ao casulo confortável que, na ordem material e espiritual, oferece um abrigo seguro ou uma fuga tranquilizadora [...] (Dupuy, 1969DUPUY, René-Jean. Politique de Nietzsche. Paris: Armand Colin, 1969., p. 52)25 25 N. do T.: na versão em francês “L’ouverture à la vie est affrontement tragique; elle est renonciation au cocon confortable qui, dans l’ordre matériel et spirituel, offre les abris sûrs ou les fuites rassurantes […]”. .
Por que a democracia é percebida como um declínio moral e político, em Nietzsche? Trata-se de uma organização política degenerada em razão da soma de suas contradições institucionais (a ideia de representatividade de um povo soberano), econômicas (o abismo econômico e social entre cidadãos supostamente iguais) e espirituais (a tirania da maioria), pois o que é válido para o conjunto deve ser comprovado. Todos devem curvar-se diante da tirania da igualdade. Isso quer dizer que o que caracteriza a democracia é a vontade de colocar os indivíduos em situação de igualdade sob uma perspectiva formal, por meio do direito, o que, para Nietzsche, é como dar um veneno a todos. A tirania da mediocridade condiciona de forma irremediável as representações e as interpretações suscetíveis de nascer na sociedade civil. Essa crítica dos efeitos da democracia sobre a relação dos cidadãos com a espiritualidade articula-se a uma crítica geral da própria modernidade. Em O Crepúsculo dos ídolos, parágrafo 39, Nietzsche (1988NIETZSCHE, Friedrich. Crépuscule des idoles ou Comment philosopher à coups de marteau. Paris: Folio essais , 1988.) retrata uma dialética socrática que se assemelha a um veneno e cuja consequência é neutralizar as interpretações tradicionais. Sob essa perspectiva, a modernidade é vista como o esquecimento voluntário das origens, por meio da imposição pura e simples de uma representação materialista da vida. Seria dizer que Nietzsche considera a criação de um universo tradicional, no qual as normas seriam baseadas sobre algo diferente da racionalidade? De forma nenhuma. Ele concebe o processo global pelo qual a modernidade se atualiza como sendo irreversível. Consequentemente, Nietzsche afasta a possibilidade de uma volta às origens. Está presente nesse autor uma crítica devastadora da democracia, que ressoa nele como a ideia segundo a qual a tirania da maioria prevaleceu, impedindo as paixões nobres de exteriorizar-se. Para Nietzsche, o regime democrático não tem alma, ele é destinado a perpetuar uma mediocridade, e parasita as paixões mais aptas a concretizar o progresso. Tal processo é totalizante e irrevogável; além disso, seria vão tentar reacender paixões que inflamavam os corações no passado. Perdidas para sempre nos meandros de um processo moderno generalizado, as qualidades intrínsecas à alma aristocrática pereceram uma a uma, embora os discursos populistas dos democratas utilizem elementos de linguagem que lembram os da aristocracia. No entanto, de agora em diante, esses discursos políticos encontram apenas instintos básicos, paixões vis. Os fracos são ao mesmo tempo agentes inconscientes e vetores do aparecimento generalizado da mediocridade e de seu enraizamento na vida real: a partir de agora, o homem está satisfeito de sucumbir à tentação de fundir-se em uma massa indistinta, antes de jogar-se no leito imundo das paixões baixas, de pouca importância e degradantes que o ideal democrático lhe oferece. A atração do ganho, do entretenimento, a embriaguez ou a busca por conforto material foram elevadas à condição de valores. Por meio de um estado de apatia, essas paixões amorfas e impessoais controlam firmemente uma plebe e uma aristocracia decaídas. Essa mediocridade comum - que continua amputando tendências humanas, que já se encontravam bastante mutiladas e inibidas pelo idealismo - instala-se imperceptivelmente na realidade humana, fazendo com que todos se tornem servis e enganados por um arbítrio, exercido com a crença de ser livre. Consequentemente, trata-se de uma extraordinária transformação espiritual, social, econômica e política, da qual apenas alguns homens, vulgares e desonestos, conseguem tirar vantagem, sem serem muito diferentes daqueles sobre os quais eles exercem sua tutela, e isso, em nome daqueles sobre os quais a opressão é exercida. No entanto, os defensores da modernidade continuam afirmando que ela é benéfica para o homem, como ele é definido pela filosofia iluminista, enquanto a realidade contradiz o universo igualitário que essa modernidade alega concretizar por intermédio da democracia e do capitalismo.
De forma resumida, os valores aristocráticos teriam sido vencidos pelos valores modernos, pois a violência inerente, endógena, ao sistema aristocrático impedia o triunfo durável do ideal procurado, mesmo que fosse claramente favorável à vida. Ao contrário, os valores modernos venceram os valores antagonistas por meio de uma violência exógena ao sistema do qual fazem parte: esses valores parecem ter um grau de violência mais brando, mas que, em razão disso, é controlado, inclusive, através do uso de meios de coerção reais, ações precisas e estudadas; em outras palavras, premeditadas. A violência intrínseca à vontade de potência é cega. No entanto, a violência exógena é guiada pelo uso prático da razão. Desse triunfo do iluminismo sobre seus adversários resulta uma violência epistêmica, e uma herança: o último homem26 26 “A vida do último homem é a da segurança física e da abundância material, precisamente o que os políticos ocidentais têm o hábito de prometer a seus eleitores. Estaria aí o objetivo supremo da história humana dos últimos milênios? Deveríamos temer tornar-nos ao mesmo tempo felizes e satisfeitos de nossa situação, e não sermos mais seres humanos, mas animais da espécie homo sapiens? Ou o perigo seria que sejamos felizes em um nível de nossa existência, mas sempre insatisfeitos de nós mesmos em outro nível e, assim, prontos a trazer o mundo de volta à história com suas guerras, injustiças e revoluções?” (Fukuyama, 1992, p. 352). Nota do tradutor: na versão em francês “La vie du dernier homme est celle de la sécurité physique et de l’abondance matérielle, précisément ce que les politiciens occidentaux ont coutume de promettre à leurs électeurs. Est-ce bien là le but suprême de l’histoire humaine de ces derniers millénaires? Devrions-nous craindre de devenir en même temps heureux et satisfaits de notre situation, et de ne plus être des êtres humains mais des animaux de l’espèce homo sapiens? Ou bien le danger est-il que nous soyons heureux à un niveau de notre existence, mais toujours insatisfaits de nous-mêmes à un autre niveau, donc prêts à ramener le monde dans l’histoire avec toutes ses guerres, ses injustices et ses révolutions?”. .
Essa narrativa contada pelos vencedores da história, cuja genealogia acabamos de apresentar, é imposta ao mesmo tempo à consciência e ao inconsciente humano, pois essa é a base de nossa leitura das historicidades extraeuropeias. Em suma, esse é o esquema explicativo único e unilateral, cujo conteúdo - os direitos humanos, a democracia e a modernidade - literalmente destrói os pensamentos, as narrativas e as historiografias que se encontram à margem do que consideramos a história universal. Essa homogeneização do devir histórico - que modela nossas representações, nossa vida e nossa relação ao trabalho - é um dos diversos problemas que o pensamento pós-colonial contesta. Este é, aliás, o mesmo viés que permite o acesso dos subalternos à memória coletiva. A modernidade deve dar lugar a outras formas de epistemes, independentemente dos mecanismos de poder exercidos por meio do discurso ocidental. Trata-se de produzir uma análise rigorosa dessa historiografia singular que permite o conhecimento das sociedades pós-coloniais, mas através de uma grade de leitura que deve ser questionada. O estudo das circunstâncias constitutivas de tal saber destaca os diferentes momentos intrínsecos a essa historiografia, por meio dos quais o poder é levado a encontrar as vias relativas à sua própria justificação. Esse é, precisamente, o método empregado por Edward Saïd no livro Orientalismo (2005). Nessa obra, dois anos após a publicação de um dos livros mais emblemáticos de Foucault, Vigiar e punir (1993FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir: naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1993.), ele desconstrói o discurso orientalista do ocidente para que os dominados tornem-se sujeitos de sua própria história. O retrato proposto pela historiografia ocidental vigente literalmente oculta o papel dos subalternos na história das sociedades pós-coloniais, sendo que esta categoria social é a mais exposta à pobreza gerada pela ordem internacional.
Conclusão
Como pode ser visto, é raro formalizar o fato que a própria modernização induziu a uma desigualdade, bastante consequente, entre as culturas. No entanto, trouxemos diferentes pontos de argumentação nesse sentido. No núcleo da modernização é comum observar a ideia emancipadora contida em seu processo. Nietzsche (1987NIETZSCHE, Friedrich. Par-delà bien et mal. Paris: Folio essais, 1987.) luta contra tal ideia de maneira eloquente e pertinente.
Primeiro, os pensadores da modernidade observaram muito bem a desordem provocada pela lucidez em relação ao real que cada indivíduo deve assumir. Ao invés de tornarem isso uma força, de acordo com Nietzsche, eles reprimem o que deveria permitir que o indivíduo encontrasse soluções, ou seja, a vontade de potência. Essa vontade permite à sua interioridade tornar-se o vetor de sua própria emancipação. O homem não é naturalmente bom nem naturalmente agressivo, mas se essas pulsões são reprimidas em nome do bem comum e do igualitarismo, elas não podem se exteriorizar sem controle e sem forma, brutas, na acepção original do termo.
De forma mais ampla, esse nietzscheísmo, em sua afirmação mais radical, coloca os vencidos diante de sua própria responsabilidade face à História e à narrativa que lhes é feita dela pelos vencedores. Essa narrativa não deve mais servir de pretexto à amargura ou à vitimização, ou seja, a uma vontade de potência negativa que leve o vencedor ao arrependimento. É neles mesmos, nos vencidos e/ou nos subalternos, e não a partir de princípios universais, que reside a força necessária para derrubar a ordem estabelecida. Força, entendida aqui como força ativa. A História não é uma dialética no sentido hegeliano do termo, que inelutavelmente faz do escravo, a termo, o novo mestre. Assim, com afirma Nietzsche (1987NIETZSCHE, Friedrich. Par-delà bien et mal. Paris: Folio essais, 1987.), é possível vir a tornar-se ator.
É interessante destacar que os pensamentos de Nietzsche (1987NIETZSCHE, Friedrich. Par-delà bien et mal. Paris: Folio essais, 1987.) e de Marx (1999MARX, Karl. Manifeste du parti communiste. Paris: Flammarion , 1999.) se encontram, a respeito da crítica radical da democracia definida como princípio universal. Atualmente, isso quase se tornou um lugar-comum, embora as propostas de soluções de cada um deles sejam radicalmente diferentes. Aqui, afirmamos que o poder dos vencidos não pode, de forma nenhuma, ser transferido a uma elite revolucionária com a missão de guiá-los a uma sociedade sem classes; menos ainda a uma elite democraticamente eleita.
Também evocamos uma crise espiritual resultante da proliferação de paixões insignificantes, entre as quais o medo que, em geral, é a mais problemática. Essas paixões medíocres podem se tornar o campo de uma paixão nobre em nossa própria interioridade. Trata-se de um acontecimento puro.
A filosofia clássica, que conecta discurso e consciência, supõe que o sujeito enunciador controla e domina inteiramente seu discurso por intermédio de sua consciência. O discurso é considerado então como emanando de um Eu, por intermédio do qual ele circula, mas o sujeito não pode ser o autor do discurso que ele profere, em razão de determinações diversas - o meio social, as pulsões e as instituições - que estruturam o Eu. Nesse sentido, o importante não está no conteúdo do discurso enunciado, mas no que ele reflete. Contrariamente às antigas concepções da linguagem, que consideravam que a base da linguagem era estruturada por meio de uma conexão entre a palavra e a coisa, Saussure (1995SAUSSURE, Ferdinand. Cours de linguistique générale. Paris: Payot, 1995.) retifica essa definição ao demonstrar em que sentido o signo associa-se naturalmente a uma imagem acústica e/ou um conceito. Ao distinguir, por um lado, o significante, compreendido como um signo linguístico e, por outro lado, o significado, a representação espontânea ou a representação imediata que ele veicula e condiciona, a linguagem mostra-se como um sistema que estrutura a totalidade de nossa relação com o mundo.
Références
- AIJAZ, Ahmad. In Theory: classes, nations, literatures. London: Verso, 1992.
- DIOUF, Mamadou. L’Historiographie Indienne en Débat: colonialisme, nationalisme et sociétés postcoloniales. Paris: Karthala, 1999.
- DUPUY, René-Jean. Politique de Nietzsche. Paris: Armand Colin, 1969.
- FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir: naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1993.
- FOUCAULT, Michel. Qu’est-ce que les Lumières? Paris: Bréal, 2004.
- FUKUYAMA, Francis. La Fin de l’Histoire et le Dernier Homme. Paris: Flammarion, 1992.
- GRANIER, Jean. Nietzsche. Paris: PUF, 1982.
- HEIDEGGER, Martin. Chemins qui ne mènent nulle part. Paris: Gallimard , 1962.
- MARX, Karl. Manifeste du parti communiste. Paris: Flammarion , 1999.
- NIETZSCHE, Friedrich. Par-delà bien et mal. Paris: Folio essais, 1987.
- NIETZSCHE, Friedrich. Crépuscule des idoles ou Comment philosopher à coups de marteau. Paris: Folio essais , 1988.
- SAID, Edward. L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident. Paris: Le Seuil, 2005.
- SAUSSURE, Ferdinand. Cours de linguistique générale. Paris: Payot, 1995.
-
7
“O exemplo mais evidente dessa violência epistêmica é o vasto projeto heterogêneo, organizado a distância para constituir o sujeito colonial como o Outro. Esse projeto também é a obliteração assimétrica dos vestígios desse Outro em sua subjetividade precária” (Diouf, 1999, p. 182). Nota do tradutor: na versão em francês “L’exemple le plus patent de cette violence épistémique est le vaste projet hétérogène, concocté de loin en vue de constituer le sujet colonial comme l’Autre. Ce projet est aussi l’oblitération asymétrique de la trace de cet Autre dans sa précaire subjectivité”.
-
8
Nota do tradutor (N. T.): na versão em francês “Il s’agit, en effet, de retrouver des voix étouffées, des corps démembrés et des traditions mutilées”.
-
9
Seria necessário lembrar que os ideais reguladores que constituem as ideias de progresso, de liberdade e de democracia são apenas horizontes a serem atingidos e, de forma alguma, ideais realizados hic et nunc.
-
10
A pressão desse componente intrépido [thymotique] da alma revela-se ser o único entre todos (o logos e o desejo [epitunia]) a permitir aos homens sublimar sua condição miserável.
-
11
N. do T.: o termo traduzido aqui como “real” pode ser encontrado em outras traduções relacionadas a Nietzsche como “realidade” ou ainda “realidade efetiva”.
-
12
N. do T.: na versão em francês “Jusqu’ici toute élévation du type humain a été l’œuvre d’une société aristocratique, et il en sera toujours ainsi; autrement dit elle a été l’œuvre d’une société hiérarchique qui croit à une longue échelle hiérarchique et à la différence de valeur de l’homme à l’homme et qui a besoin d’une forme quelconque d’esclavage”.
-
13
N. do T.: o termo traduzido aqui como “alma aristocrática” pode ser encontrado em outras traduções relacionadas a Nietzsche como “alma nobre”.
-
14
N. do T.: na versão em francês “La caste aristocratique fut toujours, d’abord, la caste des barbares: sa supériorité ne résidait pas avant tout dans sa force physique, mais dans sa force spirituelle; ils étaient plus complètement des hommes, c’est-à-dire aussi, et à tous les niveaux, plus complètement des brutes”.
-
15
N. do T.: o termo traduzido aqui como “vontade de potência” pode ser encontrado em outras traduções relacionadas a Nietzsche como “vontade de poder”.
-
16
N. do T.: na versão em francês “La vérité est dure. Il nous faut regarder froidement comment n’importe quelle civilisation supérieure a commencé sur cette terre. Des hommes encore tout proches de la nature, des barbares dans tout ce que ce mot comporte d’effroyable, des hommes de proie encore en possession d’une volonté intacte et d’appétits de puissances inentamés se sont jetés sur des races plus faibles”.
-
17
N. do T.: na versão em francês “[...] vivre, c’est essentiellement dépouiller, blesser, dominer ce qui est étranger et plus faible, l’opprimer, lui imposer durement sa propre forme, l’englober et au moins l’exploiter”.
-
18
N. do T.: na versão em francês “L’angoisse moderne est bien, ainsi, angoisse devant l’abîme d’une vie qui, privée maintenant de ses buts et de ses valeurs, apparaît fatalement absurde: les valeurs supérieures se déprécient. Les fins manquent; il n’est pas de réponse à cette question: à quoi bon?”.
-
19
Esse mundo oculto e inteligível no qual qualquer ideia de imanência e de temporalidade parecem ter sido milagrosamente suspensas.
-
20
“A vocação liberadora da luz natural interessa aos filósofos do século XVIII. Assim, Voltaire e Condorcet consideram a obra cartesiana como uma preparação às iluminações políticas da época revolucionária. [...] O iluminismo pode ser compreendido, em uma tradição cartesiana, como a aplicação lúcida e sem limites predeterminados da razão humana à totalidade dos fenômenos naturais, históricos, políticos, morais e religiosos” (Foucault, 2004FOUCAULT, Michel. Qu’est-ce que les Lumières? Paris: Bréal, 2004., p. 106). Nota do tradutor: na versão em francês “La vocation libératrice de la lumière naturelle n’échappera pas aux philosophes du XVIIIe siècle. Voltaire et Condorcet considéreront ainsi l’entreprise cartésienne comme une préparation aux lumières politiques de l’époque révolutionnaire. [...] Les Lumières peuvent donc être comprises, dans une tradition cartésienne, comme l’application lucide et sans bornes prédéterminées de la raison humaine à la totalité des phénomènes naturels, historiques, politiques, moraux et religieux”.
-
21
N. do T.: na versão em francês “Le nihilisme sanctionne la généralisation d’un phénomène morbide, la décadence. Tant qu’elle demeure cantonnée dans certaines couches sociales et dans certaines régions du globe, la décadence ne met pas en péril la civilisation humaine; mais elle devient un fléau redoutable, quand elle envahit – comme aujourd’hui selon Nietzsche – l’ensemble des classes, des institutions et des peuples, pour se confondre finalement avec l’idée même d’humanité”.
-
22
N. do T.: na versão em francês “Tout dans la démocratie ne pouvait qu’indigner Nietzsche. Tout d’abord, dans son principe même, elle procède du général, de l’impersonnel et donc de l’égal. Ce sont là les caractères de la loi tels qu’ils ont été dégagés par Rousseau et par les hommes de la grande révolution. C’est parce qu’elle est faite pour tous, étant censée être l’œuvre de tous, que la loi se veut égalitaire. La démocratie se fonde donc sur une construction abstraite de l’homme”.
-
23
N. do T.: na versão em francês “Nietzsche nous trace ici un double programme: d’abord critiquer l’Idéalisme, en tant que responsable du nihilisme moderne, donc surmonter la métaphysique; et ensuite, opérer la transmutation de toutes les valeurs, afin de relayer l’humanité décadente par le surhomme: tous les dieux sont morts, ce que nous voulons à présent, c’est que le Surhumain vive [...]”.
-
24
N. do T.: na versão em francês “Il [Nietzsche] voit dans l’idéal démocratique le prolongement naturel du socratisme et du christianisme, vulgarisés par la révolte plébéienne. La démocratie n’était-elle pas une manière de morale inventée par les faibles pour y soumettre la race des maîtres? Elle procède du développement laïcisé des principes chrétiens qui animent la révolte des esclaves mus par le ressentiment”.
-
25
N. do T.: na versão em francês “L’ouverture à la vie est affrontement tragique; elle est renonciation au cocon confortable qui, dans l’ordre matériel et spirituel, offre les abris sûrs ou les fuites rassurantes […]”.
-
26
“A vida do último homem é a da segurança física e da abundância material, precisamente o que os políticos ocidentais têm o hábito de prometer a seus eleitores. Estaria aí o objetivo supremo da história humana dos últimos milênios? Deveríamos temer tornar-nos ao mesmo tempo felizes e satisfeitos de nossa situação, e não sermos mais seres humanos, mas animais da espécie homo sapiens? Ou o perigo seria que sejamos felizes em um nível de nossa existência, mas sempre insatisfeitos de nós mesmos em outro nível e, assim, prontos a trazer o mundo de volta à história com suas guerras, injustiças e revoluções?” (Fukuyama, 1992FUKUYAMA, Francis. La Fin de l’Histoire et le Dernier Homme. Paris: Flammarion, 1992., p. 352). Nota do tradutor: na versão em francês “La vie du dernier homme est celle de la sécurité physique et de l’abondance matérielle, précisément ce que les politiciens occidentaux ont coutume de promettre à leurs électeurs. Est-ce bien là le but suprême de l’histoire humaine de ces derniers millénaires? Devrions-nous craindre de devenir en même temps heureux et satisfaits de notre situation, et de ne plus être des êtres humains mais des animaux de l’espèce homo sapiens? Ou bien le danger est-il que nous soyons heureux à un niveau de notre existence, mais toujours insatisfaits de nous-mêmes à un autre niveau, donc prêts à ramener le monde dans l’histoire avec toutes ses guerres, ses injustices et ses révolutions?”.
-
30
Este texto inédito, traduzido por André Mubarack, também se encontra publicado em francês neste número do periódico.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
22 Fev 2018 -
Data do Fascículo
Apr-Jun 2018
Histórico
-
Recebido
07 Out 2016 -
Aceito
21 Ago 2017