Resumo
Por meio de uma etnografia e de uma metodologia desenvolvida para esta pesquisa, busco narrar a trajetória de uma mulher em situação de refúgio e a relação que ela estabelece com a nova cidade de morada. Ruth nasceu em Angola, mas cresceu na República Democrática do Congo (RDC). Tem 35 anos, mora no Rio de Janeiro desde 2014, é mãe de três filhos e trabalha como cantora e atriz. É no convívio com congolesas numa galeria em Madureira e numa igreja evangélica em Brás de Pina, bairro onde mora, que ela se reconecta a suas raízes e se reinventa no novo território. A metodologia proposta, usando fotos, desenhos e objetos, revela as experiências de uma mulher negra refugiada na cidade onde foi viver. Este artigo tem o objetivo, portanto, de refletir sobre o modo como mulheres em condição de refúgio se reinventam a partir do lugar de fronteira e como práticas sociais forjam identidades, territórios, espacialidades.
Palavras-chave:
Mulheres Refugiadas; Narrativas Identitárias; Cultura; Territorialidades; Metodologia de Pesquisa
Abstract
Using ethnography and a research methodology developed for this research project, this article sets out to describe the trajectories of a female refugee and the relationship she has established with her new city of residence. Ruth was born in Angola, but grew up in the Democratic Republic of the Congo. She is 35 years old and has lived in Rio de Janeiro since 2014. She has three children and works as an actress and singer. She reconnects to her roots and reinvents herself in the new territory through spending time with Congolese women in a market in Madureira and in an evangelical church in Brás de Pina. The methodology, using photos, drawings and objects, reveals the experiences of a Black refugee woman in the city where she has come to live. The article intends to reflect on the way these women have reinvented themselves based on the place of the frontier and how they have given different meanings to their identities in their new place.
Keywords:
Female Refugee; Identity Narratives; Culture; Territorialities; Research Methodology
Introdução
Conheci o trabalho da atriz e cantora angolana Ruth Victor Mariana, de 35 anos, em novembro de 2018, quando assisti a uma peça em que ela atuava. Em uma das minhas visitas à Cáritas/RJ, tive a oportunidade de ser apresentada a ela e peguei seu telefone. Depois de quatro tentativas de encontros desmarcados por Ruth, por diferentes motivos - de exigências na Polícia Federal a problemas pessoais -, sugeri um informal, não mais para fazer uma entrevista. Ruth gostou da ideia e me convidou para, no dia seguinte, acompanhá-la ao salão onde iria arrumar o cabelo, rotina mensal de que ela não abre mão. Aceitei na hora. E assim foram mais de dois anos de uma pesquisa baseada na diferença, já que meu lugar de fala é o de uma mulher branca de classe média. Por meio de uma escuta atenta, procuro com esse trabalho colaborar para ressoar vozes de mulheres em situação de refúgio.
A metodologia utilizada na pesquisa foi a observação participante. As entrevistas semiestruturadas renderam pouco e, com isso, desenvolvi uma metodologia para complementar a etnografia, que nomeei de “Na makanisi na nga: minhas lembranças”2 2 A expressão na makanisi na nga está escrita em lingala, uma das línguas oficiais da República Democrática do Congo, e quer dizer “minhas lembranças”. A proposta da metodologia foi criada para acessar memórias por meio de elementos artísticos, como fotografias, desenhos, uso de objetos e literatura. . Propus à Ruth cinco dispositivos: i) fazer cinco fotos livres; i) falar sobre cinco temas a partir das fotos; iii) levar objetos pessoais, criar uma história usando-os e depois explicar o significado de cada um; iv) ler em conjunto um livro infantil sobre uma menina congolesa em situação de refúgio no Rio de Janeiro e fazer um desenho dela; v) escrever duas cartas: uma para a Ruth no futuro, outra dizendo o que não pode faltar em sua caixa de memórias.
Fui eu quem sugeri a ordem dos dispositivos “Na makanisi na nga: minhas lembranças”. A proposta era que Ruth se sentisse mais à vontade na abordagem de temas que eu considerava importantes para a pesquisa. Parti de um tema mais geral: entender a relação dela com a cidade em que vive e suas percepções sobre a cultura e a identidade do novo país. Para isso, o recurso usado foi a fotografia. Na sequência, aproximando-me mais de sua trajetória, a seleção de objetos de Angola ou da República Democrática do Congo (RDC) tornou-se ponte de acesso a memórias. Seguindo, então, com as lembranças do lugar de onde veio, a leitura de um livro inspirado na experiência de uma família em situação de refúgio serviu como gatilho para os desenhos e para as cartas de projeção dos sonhos futuros. Neste artigo, apresento apenas alguns dos dispositivos.
A literatura de autoras negras de diferentes países africanos que retratam a diáspora também foi usada como metodologia na pesquisa da dissertação. Para este artigo, o recorte foi feito apenas com a escritora ruandesa Scholastique Mukasonga. Em A mulher de pés descalços (2017MUKASONGA, S. A mulher de pés descalços. Rio de Janeiro: Nós, 2017.), a autora narra como foi para sua família - pertencente à minoria étnica tútsi - viver em um campo de refugiados em Ruanda, devido à perseguição de membros da etnia hutu. Em 1994, a escritora perdeu dezenas de familiares assassinados no genocídio de 800 mil ruandeses.
A escolha da literatura como recurso dialoga com um dos pontos que Conceição Evaristo (1996EVARISTO, C. Literatura negra: uma poética de nossa afro-brasilidade. 1996. Dissertação (Mestrado em Letras) - Centro de Teologia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1996.) traz da literatura negra e das escrivivências: a ideia da diáspora africana como evento traumático, que vai exigir do sujeito negro, desse corpo que foi deslocado, uma re-existência, uma realocação desse corpo, uma ressignificação, uma reterritorialização.
O primeiro exercício de sobrevivência efetuado pelos africanos deportados no Brasil, assim como em toda diáspora, foi talvez o de buscar recompor o tecido cultural africano que se desteceu pelos caminhos, recolher fragmentos, traços, vestígios, acompanhar pegadas na tentativa de reelaborar, de compor uma cultura de exílio refazendo a sua identidade de emigrante nu. (EVARISTO, 2010EVARISTO, C. Literatura negra: uma voz quilombola na literatura brasileira. In: PEREIRA, E. de A. (Org.). Um tigre na floresta de signos. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2010., p. 1)
Na fundamentação teórica, proponho uma reflexão sobre questões de gênero e fronteira com Gloria Anzaldúa e entre-lugar com Homi Bhabha. Reflito sobre o conceito de interseccionalidade com Carla Akotirene. Abro um diálogo com a questão da negritude em Grada Kilomba e Frantz Fanon. Proponho, ainda, uma releitura da categoria nativa inzu pautada no livro A mulher de pés descalços, de Scholastique Mukasonga, relacionando-a com a ideia de quilombo de Beatriz Nascimento e Conceição Evaristo, assim como com o conceito de território de Milton Santos. Por fim, reflito sobre o ser refugiada na cidade com Gabriela Leandro Pereira e Gabriela Matos.
1. A travessia
Ruth nasceu em Angola, em junho de 1986. Filha única, ainda bebê, viveu sua primeira experiência de exílio forçado. Quando a guerra retornou em seu país3 3 A Guerra Civil Angolana durou quase três décadas, com breves períodos de paz. Iniciou-se quando o país se tornou independente de Portugal, em 1975, e terminou em 2002. PACHECO, F. Política e cidadania: o estado da democracia. Caminhos para a cidadania e para a construção da democracia em Angola: obstáculos e avanços. VII Congresso Luso-afro-brasileiro de Ciências Sociais, 2004, Coimbra. Anais [...]. Coimbra, Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra, 2004. Tema: A questão social no novo milênio. Disponível em: https://www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/fpacheco.pdf. Acesso em: 31 jul. 2020. , sua família teve que fugir rapidamente. Foram para Kisangani, província da RDC4 4 A República Democrática do Congo enfrentou duas guerras civis, entre 1996 e 2003. Kabengele Munanga, antropólogo congolês e professor titular da Universidade de São Paulo (USP), tem alguns trabalhos sobre o tema. , onde também enfrentaram a guerra, alguns anos depois. Ruth tinha quinze anos na época.
Seu único tio - irmão de sua mãe - morreu na guerra. Ruth se perdeu da mãe, que foi para Kinshasa, a capital da RDC. Passados seis meses, a mãe conseguiu mandar, por uma agência, dinheiro para que Ruth pudesse ir encontrá-la. Parte da viagem seria feita de barco e depois ela seguiria de avião. Levou consigo uma prima.
Quando as duas chegaram ao local combinado, havia em torno de quinze pequenos barcos atracados para fazer a travessia. Foi uma viagem complicada, que durou um mês e meio. Os soldados responsáveis pelo percurso por terra e por mar violentavam muitas meninas e mulheres. Ao chegar ao local combinado, o avião já tinha partido. Elas resolveram, então, percorrer o restante do trecho a pé e se esconderam numa floresta da RDC por cinco meses e alimentavam-se de frutas e peixes.
Ruth narra que, durante a caminhada pela floresta, ao passarem por algumas aldeias, as pessoas lhes davam comida porque cantava para elas. A música está presente em sua vida desde criança, está em seu sangue. Ruth acredita que é pela música que consegue reconectar-se com suas raízes, sentir-se, de fato, em um lar.
A música é a minha vida. Quando eu fica cantando, eu falo sempre mesmo eu tô preocupada, mesmo eu estava chorando, só quando eu fica na frente de um microfone ou na frente para cantar, eu esquece tudo. É automático. Eu esquece tudo. Eu acho que é um dom que recebi de Deus de cantar. Eu amo música. Onde fala música eu estou lá. Se vou na festa, vou curtir a música. Pode ser a música de outra pessoa, me enche de alegria. Para mim, a música é o meu lar, minha praia. Onde me sinto tranquilo, confiante? À frente do microfone! Feliz! Eu transmite sempre alegria quando eu tô cantando porque é isso que eu gosto. (Ruth, Centro, fevereiro de 2019)5 5 Ao longo deste artigo, optei por manter a transcrição exata das falas da interlocutora da pesquisa. Procuro, assim, respeitar as formas de falar de uma linguagem híbrida, fronteiriça, que não correspondem a uma linguagem correta ou incorreta, mas sim a práticas da língua viva. Nessas transcrições foi sempre indicado o lugar em que a interlocutora se manifestou, assim como o mês e o ano.
Quando finalmente chegaram à capital congolesa, a guerra ali já havia terminado, mas sua mãe voltara para Angola. Ruth, então, retomou os estudou. Em três anos conseguiu concluir o ensino médio e entrar numa universidade para estudar Administração. Porém, sua mãe não tinha mais condições financeiras para mantê-la na RDC, e Ruth precisou voltar para Angola. Lá se viu obrigada a abandonar o sonho de estudar para se casar, aos dezenove anos. Teve dois filhos e grávida de oito meses do terceiro veio para o Brasil em 2014 (Figura 1).
2. A arte do fazer, a arte do contar
Marcamos de nos encontrar às 8h30, em frente à Estação de BRT do Mercadão de Madureira, na Zona Norte do Rio. Dali, seguimos para o local onde Ruth arruma o cabelo. Seu horário estava marcado para as 9h30 e, quando chegamos à galeria, a maior parte dos boxes estava fechada.
Entramos em um que devia medir em torno de quatro metros quadrados, e que, naquele momento, pensei que fosse o local onde ela iria fazer o cabelo. Havia ali apenas um pequeno armário, um espelho e alguns bancos e cadeiras de plástico empilhados. No chão, um tapete ocupava todo o espaço. Uma das moças puxou uma cadeira e me acomodou sentada fora do boxe. Ruth e ela se sentaram na parte de dentro e começaram a conversar em uma língua que, até então, eu não sabia qual era. Em uma pausa do papo entre as duas perguntei à Ruth, que me disse que falavam em lingala.
Na RDC, o francês é a língua oficial, mas é considerada a língua do colonizador. Há outras quatro línguas nacionais: lingala, swahili, kicongo, tshiluba - e outras tantas que somam mais de trezentas no país. Falar o lingala representa um modo de viver, cria uma conexão entre eles e viabiliza a comunicação de realidades, sentimentos e valores importantes para a comunidade congolesa no Rio de Janeiro. Como aponta Gloria Anzaldúa (2009ANZALDÚA, G. Como domar uma língua selvagem. Cadernos de Letras da UFF. Dossiê: Difusão da língua portuguesa, n. 39, p. 305-318, 2009. , p. 312): “A identidade étnica e a identidade linguística são unha e carne - eu sou minha língua. Eu não posso ter orgulho de mim mesma até que possa ter orgulho da minha língua”.
Sentada em uma cadeira de frente para o espelho no salão em Madureira, Ruth puxou um banco alto de madeira para perto de si. Ela estava com uma mochila e de dentro tirou outra menor, provavelmente de um dos seus filhos, pois tinha um super-herói estampado. Do interior da mochila menor, começou a tirar um emaranhado de tufos de cabelos pouco ondulados, quase lisos. Sem que eu perguntasse, ela explicou que eram cabelos de verdade e que naquele dia iria colocá-los para fazer um corte mais liso com franja. No mês anterior, contou que estava com o cacheado e que, às vezes, usa também o trançado.
Ruth pegou um pente de plástico com pontas finas, tirou o lenço do cabelo e começou a se pentear. Depois de desembaraçar o próprio cabelo, passou a pentear os vários tufos que iria usar. Aos poucos, chegaram outras mulheres que abriam seus pequenos salões. Todas congolesas. Todas com os cabelos superarrumados em meio a tranças e perucas penduradas nas paredes. Faziam o mesmo ritual: descortinavam o espaço preso em sua maioria por meio de um pano e um pregador, varriam o ambiente e colocavam os bancos e cadeiras lado a lado próximos ao espelho.
Naquele espaço, só entravam mulheres congolesas. Ali, claramente era o ambiente delas. Falavam, riam, cantavam, mostravam imagens no celular de referências de cabelos e penteados. Mães chegavam com filhos pequenos, amamentavam, amarravam-nos nas costas e saíam para trabalhar. Quem não estava fazendo os cabelos ficava na porta da galeria distribuindo panfletos para atrair novas clientes.
Ruth tem uma relação forte com o cabelo, uma marca da identidade negra, e estar naquele ambiente a faz viajar por suas memórias. Grada Kilomba (2019KILOMBA, G. Memórias da plantação. Episódios de racismo cotidiano. Tradução: Jess Oliveira. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. ), em Memórias da plantação, debate o modo como, historicamente, o cabelo das pessoas negras foi desvalorizado, tornando-se um estigma da negritude e usado para justificar a subordinação de africanas.
Mais do que a cor da pele, o cabelo tornou-se a mais poderosa marca de servidão durante o período de escravidão [...]. O cabelo africano foi então classificado como “cabelo ruim”. Nesse contexto, o cabelo tornou-se o instrumento mais importante da consciência política entre africanas/os da diáspora. [...] Eles são políticos e moldam as posições das mulheres negras em relação a “raça”, gênero e beleza. (KILOMBA, 2019KILOMBA, G. Memórias da plantação. Episódios de racismo cotidiano. Tradução: Jess Oliveira. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. , p. 127)
Kilomba destaca como os cabelos crespos se tornaram um forte ícone identitário, um símbolo de pertencimento. E aponta como o estilo do cabelo de uma de suas interlocutoras de pesquisa pode ser visto como uma declaração política de consciência racial por intermédio da qual ela redefine padrões dominantes de beleza (KILOMBA, 2019KILOMBA, G. Memórias da plantação. Episódios de racismo cotidiano. Tradução: Jess Oliveira. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. , p. 127). A escritora e artista interdisciplinar dialoga com Franz Fanon (2008FANON, F. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: Ed. da UFBA, 2008.), que aponta a importância de apoderar-se da própria negridão.
Eu era ao mesmo tempo responsável pelo meu corpo, responsável pela minha raça, pelos meu ancestrais. Lancei sobre mim um olhar objetivo, descobri minha negridão, minhas características étnicas, - e então detonaram meu tímpano com a antropofagia, com o atraso mental o fetichismo, as taras raciais, os negreiros, e sobretudo com “y’a bom banania”. (FANON, 2008FANON, F. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: Ed. da UFBA, 2008., p. 105-106)
Quem estava fazendo o cabelo de Ruth era Tina. As duas conversavam em lingala. Às vezes, Ruth parava e me falava alguma coisa. Em outras, era Tina quem explicava algo. Emendamos num papo em português em que Ruth dizia ter aconselhado uma amiga brasileira a largar o marido porque ele não queria mais viver com a sogra. Perguntou-me o que eu achava do conselho, mas antes explicou: para nós, a mãe é a pessoa mais importante da família.
A pergunta me levou ao livro A mulher de pés descalços. Nele, Mukasonga (2017MUKASONGA, S. A mulher de pés descalços. Rio de Janeiro: Nós, 2017., p. 33) explica por que, para sua mãe, a construção do inzu era fundamental para a sobrevivência. “Num inzu, dizia mamãe, não são os olhos que nos guiam, mas o coração”. Inzu é uma palavra em kinyarwanda, um dos idiomas de Ruanda, que a autora (2017, p. 31) fez questão de manter no original, uma vez que em francês a tradução carrega significados pejorativos, como barraca, choça, cabana.
Um pouco depois de nos instalarmos em Gitagata, Stefania decidiu que estava na hora de construir, atrás da choupana de Tripolo, o inzu, casa que, para ela, era tão necessária quanto a água para os peixes e o oxigênio para os humanos. Não que agora ela aceitasse sua condição de exilada - nunca se resignaria a isso - mas sabia que precisava desse tipo de construção original. Só ali ela poderia reunir a força e a coragem necessárias para enfrentar a desgraça e renovar as energias para salvar os filhos de morte preparada por um destino totalmente incompreensível.
Era no quintal que ficava o inzu em forma de meia-lua, onde Stefania levava uma vida de mulher e de mãe de família. Era ali que ela cozinhava, cultivava as plantas medicinais, onde as filhas tomavam banho, ela recebia as amigas, e onde também eram realizados os cultos aos ancestrais. Mais do que isso, o inzu é a própria morada dos ancestrais. “É claro que Stefania não tinha condições de construir o inzu tal como era. Mas parecia que, graças à casa, tinha recuperado o prestígio e os poderes que a tradição ruandesa atribui a uma mãe de família” (MUKASONGA, 2017MUKASONGA, S. A mulher de pés descalços. Rio de Janeiro: Nós, 2017., p. 37).
Para mim, estava diante de um inzu urbano6 6 A aproximação entre o inzu das memórias de Mukasonga e o inzu urbano em plena Madureira foi feita pela autora. Mesmo consciente de que o termo é usado em Ruanda, país fronteiriço com a RDC, busco trabalhar com o conceito simbólico que o inzu representa para aquelas mulheres. , numa galeria em plena Zona Norte do Rio. É nesse local que aquelas mulheres congolesas em condição de refúgio encontram seu espaço de troca no exílio forçado, tal como Stefania. É lá que se sentem à vontade, em que não é preciso adaptar-se à língua do outro, e podem, por algum tempo, esquecer que são estrangeiras, sair da margem. O inzu em Madureira é um entre-lugar (BHABHA, 1998BHABHA, H. Como o novo entra no mundo: O espaço pós-moderno, os tempos pós-coloniais e as provações da tradução cultural. In: BHABHA, H. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 1998. p. 292-325.) em que elas podem deslocar-se da borda, da fronteira, e caminhar ao centro de suas vidas e do viver em comunidade. Seria o local da mestiza que Anzaldúa (2005ANZALDÚA, G. La consciência de la mestiza/rumo a uma nova consciência. Revista Estudos Feministas, v. 13, n. 3. p. 704-719, set.-dez. 2005., p. 704) descreve, onde se aprende a viver com as ambiguidades e a ter uma personalidade plural.
Ou talvez decidamos nos desvencilhar da cultura dominante, apagá-la por completo, como uma causa perdida, e cruzar a fronteira em direção a um território novo e separado. Ou podemos trilhar uma outra rota. As possibilidades são inúmeras, uma vez tenhamos decidido agir, em vez de apenas reagir.
Aquela galeria no meio de Madureira foi ressignificada. Criou-se ali um lugar de afeto, de memória, de construção de identidade. Um espaço de encontros e reencontros. As práticas daquelas imigrantes, os usos, as vivências, reconfiguraram aquele território. As congolesas passaram por um processo de desterritorialização de seu país de origem e encontraram naquele espaço um local de reterritoralização no novo país, levando em conta a dimensão do simbólico, da produção discursiva, das práticas de linguagem.
De acordo com o geógrafo Milton Santos, os migrantes precisam encontrar significado no novo local em que passam a viver, uma vez que suas memórias não estão ali, naquele espaço. Santos ressalta que “a força desse movimento vem do fato de que, enquanto a memória é coletiva, o esquecimento e a consequente (re)descoberta são individuais, diferenciados, enriquecendo as relações interpessoais, a ação comunicativa” (SANTOS, 2006SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 2006., p. 224). Para o autor baiano,
O novo meio ambiente opera como uma espécie de detonador. Sua relação com o novo morador se manifesta dialeticamente como territorialidade nova e cultura nova, que interferem reciprocamente, mudando-se paralelamente territorialidade e cultura; e mudando o homem. Quando essa síntese é percebida, o processo de alienação vai cedendo ao processo de integração e de entendimento, e o indivíduo recupera a parte do seu ser que parecia perdida. (SANTOS, 2006SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 2006., p. 223)
Vendo a facilidade de Tina com as agulhas, perguntei se ela costurava também e ela respondeu que não, embora suas mãos deslizassem entre três agulhas grandes por meio dos cabelos de Ruth. Ela contou que aprendeu a trançar com a mãe ainda bem pequena e logo Ruth acrescentou: “Precisa ver a filha dela. Todo dia está com um cabelo mais lindo do que o outro” (Ruth, Madureira, janeiro de 2019).
2.1 Inzu e o aquilombar-se
Em Literatura negra: uma poética de nossa afro-brasilidade (1996), Conceição EvaristoEVARISTO, C. Literatura negra: uma poética de nossa afro-brasilidade. 1996. Dissertação (Mestrado em Letras) - Centro de Teologia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1996. aponta que escrever - inscre-vi-vendo-se pela memória da pele - é acolher o corpo negro pela palavra poética, em que a escritura do corpo denuncia o racismo e, por outro lado, reverbera o orgulho étnico. A escritora afirma (1996, p. 86):
Tendo sido o corpo negro, durante séculos, violado em sua integridade física, interditado o seu espaço individual e social pelo sistema escravocrata do passado e hoje ainda por políticas segregacionais existentes em todos, ou senão, em quase todos os países em que a diáspora africana se acha presente, coube aos descendentes de povos africanos, espalhados pelo mundo, inventar formas de resistências.
Evaristo (2010EVARISTO, C. Literatura negra: uma voz quilombola na literatura brasileira. In: PEREIRA, E. de A. (Org.). Um tigre na floresta de signos. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2010.) sugere, por meio de um conceito-metáfora, que a literatura negra é também um lugar da resistência. Ela associa a literatura negra a uma forma de quilombo, e com base nisso podemos abrir diálogo com a narrativa de Mukasonga.
O corpo negro vai ser alforriado pela palavra poética que procura imprimir e dar outras relembranças às cicatrizes das marcas de chicotes ou às iniciais dos donos-colonos de um corpo escravo. A palavra literária como rubrica-enfeite surge como assunção do corpo negro. E como queloides - simbolizadores tribais - ainda presentes em alguns rostos - africanos ou como linhas riscadas nos ombros de muitos afro-brasileiros - indicadores de feitura nos Orixás - o texto negro atualiza signos-lembranças que inscrevem o corpo negro em uma cultura específica. (EVARISTO, 2010EVARISTO, C. Literatura negra: uma voz quilombola na literatura brasileira. In: PEREIRA, E. de A. (Org.). Um tigre na floresta de signos. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2010., p. 3)
O quilombo, para Evaristo, é um espaço tanto de insurgência dos escravizados que fugiam como um tipo de organização territorial com práticas da negritude. Ela aponta como, no movimento de reterritorialização, o africano encontra no culto da tradição a possibilidade de viver um continuum, apesar do espaço e do tempo históricos diferentes. É nesse espaço “território político-mítico-religioso” que o patrimônio simbólico do africano e seus descendentes vai encontrar seu lugar de transmissão e preservação.
Pode-se, assim, sugerir um paralelo do inzu congolês em Madureira, em que as mulheres trançadeiras se reúnem não só para trabalhar, como também para resgatar memórias e tradições, tal qual falar em lingala. Tem-se aí a ideia de um quilombo urbano, conceito cunhado por Beatriz Nascimento (2006NASCIMENTO, B. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra. In: RATTS, A. Eu sou atlântica. Sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Instituto Kuanza; Imprensa Oficial, 2006.).
Quilombo passou a ser sinônimo de povo negro, de comportamento do negro e esperança para uma melhor sociedade. Passou a ser sede interior e exterior de todas as formas de resistência cultural. Tudo, de atitude à associação, seria quilombo, desde que buscasse maior valorização da herança negra. [...] Durante sua trajetória o quilombo serve de símbolo que abrange conotações de resistência étnica e política. Como instituição guarda características singulares do seu modelo africano. Como prática política apregoa ideais de emancipação de cunho liberal que a qualquer momento de crise da nacionalidade brasileira corrige distorções impostas pelos poderes dominantes. (NASCIMENTO apud RATTS, 2006RATTS, A. Eu sou atlântica. Sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Instituto Kuanza: Imprensa Oficial , 2006., p. 124)
Para Nascimento, o quilombo não é somente um território de sobrevivência ou de resistência cultural. É um projeto de nação, protagonizado por negros, porém includente de outros setores subalternos. Trata-se de extrapolar a ideia de um território de liberdade quanto à fuga dos escravizados, mas uma busca de um tempo/espaço de paz:
É importante ver que, hoje, o quilombo traz pra gente não mais o território geográfico, mas o território a nível duma simbologia. [...] Nós temos direitos ao território, à terra. Várias e várias e várias partes da minha história contam que eu tenho o direito ao espaço que ocupo na nação. [...] Eu tenho o direito ao espaço que ocupo dentro desse sistema, dentro dessa nação, dentro desse nicho geográfico. (NASCIMENTO apud RATTS, 2006RATTS, A. Eu sou atlântica. Sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Instituto Kuanza: Imprensa Oficial , 2006., p. 59)
O inzu congolês é um espaço de conexão e ancestralidade entre aquelas mulheres. Enquanto trançam cabelos, conversam, relembram histórias que contam para os filhos, constroem novas memórias. Já passava do meio-dia quando Tina acabou de costurar o cabelo de Ruth, que ainda levou alguns minutos se maquiando antes de partirmos. Nos despedimos e, na hora de sair, Tina me chamou e me deu um abraço. Senti um voto de confiança daquela estrangeira em meio ao inzu congolês, em pleno Rio de Janeiro.
3. Sobre formas de estar, de ver, de (sobre)viver
Para pensar a experiência de Ruth - uma mulher negra em situação de refúgio - no Rio de Janeiro, é preciso refletir sobre o conceito de interseccionalidade. Carla Akotirene (2018AKOTIRENE, C. Interseccionalidade. São Paulo: Sueli Carneiro: Pólen, 2018., p. 14) aponta:
A interseccionalidade visa dar instrumentalidade teórico-metodológica à inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado - produtores de avenidas identitárias em que mulheres negras são repetidas vezes atingidas pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe, modernos aparatos coloniais.
Quando chegou ao Rio, não por acaso, Ruth foi morar em Brás de Pina, na Zona Norte, com seus três filhos, hoje com treze, onze e seis anos. É lá que vive a maior parte dos congoleses em condição de refúgio no Rio de Janeiro. Assim como as mães de A mulher de pés descalços (2017)MUKASONGA, S. A mulher de pés descalços. Rio de Janeiro: Nós, 2017., as mulheres congolesas em situação de refúgio buscam criar os filhos em comunidade, com rituais e práticas mais próximas da cultura de seu país. Tentam formar uma rede afetiva, o que nem sempre é possível, pois são atravessadas pela solidão, pela luta diária para se estabelecer no novo local de morada e na procura por trabalho.
De todos os sofrimentos vividos com a deportação e o exílio, um dos piores para as mulheres era não poder cuidar dos filhos como antigamente, como elas sempre viram as próprias mães fazerem. Em Nyamata, no pátio empoeirado da escola, era impossível encontrar as folhas benfazejas do umubirizi, e o mato seco de Bugesera só tinha plantas desconhecidas, cujos poderes e perigos eram ignorados. (MUKASONGA, 2017MUKASONGA, S. A mulher de pés descalços. Rio de Janeiro: Nós, 2017., p. 65)
Beatriz Nascimento, ao falar sobre as corporeidades negras, debate a maneira como a experiência do exílio implica uma experiência de perda da imagem. Na diáspora e na transmigração (da senzala para o quilombo, do campo para a cidade, do Nordeste para o Sudeste), há uma busca de resgate da identidade que passa pela relação do corpo negro com o espaço. E é esse corpo o principal documento dessas travessias.
Entre luzes e som, só encontro, meu corpo, a ti. Velho companheiro das ilusões de caçar a fera. Corpo de repente aprisionado pelo destino dos homens de fora. Corpo/mapa de um país longínquo que busca outras fronteiras, que limitam a conquista de mim. Quilombo mítico que me faça conteúdo da sombra das palavras. Contornos irrecuperáveis que minhas mãos tentam alcançar. (NASCIMENTO apud RATTS, 2006RATTS, A. Eu sou atlântica. Sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Instituto Kuanza: Imprensa Oficial , 2006., p. 68)
Tal como aponta Ratts (2006RATTS, A. Eu sou atlântica. Sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Instituto Kuanza: Imprensa Oficial , 2006.), o corpo para Nascimento é como um território das relações de poder e de racialização; identidade como reconhecimento e como possibilidade de recriação inclusive do pensamento negro; amplexos entre a razão e a emoção. “O indivíduo negro, com o seu corpo em relações (con)sentidas, percorre em transmigração territórios negros fragmentados pela diáspora. Reconhece-se nesses espaços descontínuos e, por vezes, os correlaciona” (RATTS, 2006RATTS, A. Eu sou atlântica. Sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Instituto Kuanza: Imprensa Oficial , 2006., p. 69).
Transmigração foi o tempo usado por Nascimento para abordar a mobilidade dos negros entre África e América ou, no âmbito do Brasil, entre o rural e o urbano, entre o Nordeste e o Sudeste. “Ó paz infinita, poder fazer elos de ligação numa história fragmentada. África e América e novamente Europa e África. Angola. Jagas. E os povos do Benin de onde veio minha mãe. Eu sou atlântica” (NASCIMENTO apud RATTS, 2006RATTS, A. Eu sou atlântica. Sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Instituto Kuanza: Imprensa Oficial , 2006., p. 73).
Madureira, onde se localiza a galeria em que Ruth trança o cabelo, e Brás de Pina, onde ela mora, ficam na Zona Norte do Rio. São bairros periféricos com alta concentração populacional, estigmatizados pela violência e distantes do Centro e da Zona Sul, locais que concentram maiores rendas, investimentos, obras de infraestrutura e lazer.
A arquiteta e urbanista Gabriela Matos (VIDAS NEGRAS, 2021VIDAS NEGRAS. Entrevistada: Gabriela de Matos. [Locução de:] Tiago Rogero. [S.l.] Rádio Novelo, 9 jun. 2021. Podcast. Disponível em: https://spoti.fi/2TKsCDd . Acesso em: 11 jun. 2021.
https://spoti.fi/2TKsCDd...
) observa como a política urbana no Brasil reproduz a lógica colonial em que o Centro é a casa-grande e a periferia, a senzala. Numa aproximação com Nascimento, é possível apontar que, quando esse corpo de mulher negra em situação de refúgio chega ao Rio, viver na periferia é a possibilidade ofertada. É em Brás de Pina que Ruth encontra seus pares que também cruzaram o Atlântico em migrações forçadas e onde formam uma comunidade diaspórica.
O racismo é usado como uma tecnologia de exclusão. A gente sabe onde o racismo incide brutalmente nas periferias e por conta da negligência tanto do Estado e também por conta da violência da polícia. Então, todo o privilégio que a gente encontra em alguns territórios da cidade e todas as mazelas que a gente encontra em outros, a falta de infraestrutura urbana e tudo mais, é por conta do racismo. A gente precisa atribuir isso ao racismo no Brasil. Porque afinal de contas nós somos um país que foi construído com mão de obra escrava. (VIDAS NEGRAS, 2021VIDAS NEGRAS. Entrevistada: Gabriela de Matos. [Locução de:] Tiago Rogero. [S.l.] Rádio Novelo, 9 jun. 2021. Podcast. Disponível em: https://spoti.fi/2TKsCDd . Acesso em: 11 jun. 2021.
https://spoti.fi/2TKsCDd... )
A pesquisadora Gabriela Leandro Pereira aponta como existe um corpo específico que baliza a experiência individual na cidade, com base na análise das narrativas de Carolina Maria de Jesus e nos deslocamentos que ela fez até chegar a São Paulo. “Esse corpo que afeta e é afetado por atravessamentos diversos, configura territórios cujos limites e permeabilidades são definidos, quase sempre, por outros sujeitos e outras corporeidades, distintas (e mesmo opostas) ao seu corpo de mulher negra” (PEREIRA, 2015PEREIRA, G. L. O exercício de atravessar a cidade pela narrativa de Carolina Maria de Jesus. XVI ENANPUR, 2015, Belo Horizonte. Anais Sessões Temáticas. Belo Horizonte: Enanpur, 2015. Tema: Espaço, planejamento e insurgências: alternativas contemporâneas para o desenvolvimento urbano e regional. , p. 3).
É nesse lidar cotidiano que Carolina vai tecendo sua forma de se relacionar com o espaço da cidade, para além da favela, e mesmo nela. Ao mudar para a sala de visitas, a escritora traz consigo os rastros de todos os seus deslocamentos anteriores, ainda que não tivesse tal pretensão. Sua corporeidade denuncia seu pertencimento aos territórios não gratos, não apreciados ou não desejados pelos ocupantes da sala de visitas. Sua presença, novamente, formula assim aproximações improváveis. (PEREIRA, 2015PEREIRA, G. L. O exercício de atravessar a cidade pela narrativa de Carolina Maria de Jesus. XVI ENANPUR, 2015, Belo Horizonte. Anais Sessões Temáticas. Belo Horizonte: Enanpur, 2015. Tema: Espaço, planejamento e insurgências: alternativas contemporâneas para o desenvolvimento urbano e regional. , p. 56)
Nesse diálogo aberto entre Nascimento, Evaristo, Matos e Pereira, não se pode perder de vista o conceito de interseccionalidade, que “permite-nos enxergar a colisão das estruturas, a interação simultânea das avenidas identitárias” (AKOTIRENE, 2018AKOTIRENE, C. Interseccionalidade. São Paulo: Sueli Carneiro: Pólen, 2018., p. 16). A experiência de Ruth é afetada pela forma como seu corpo de mulher negra diaspórica é reterritorializado.
Era domingo de sol e céu bem azul no outono carioca. Ruth pediu que eu chegasse em Brás de Pina às 8h, porque o culto a que ela me convidara a participar começava às 9h em ponto e ela não gosta de se atrasar. Marcamos na saída da estação de trem. Fomos para sua casa, onde os três filhos a esperavam. Os dois mais velhos, Mazi e Kito, nasceram em Luanda, e o mais novo, Akin, no Rio.
A casa foi alugada com mobília. Tem uma sala, dois quartos, banheiro e uma cozinha espaçosa. A proprietária não mora no Rio de Janeiro, mas, quando vinha para a cidade, dormia lá, como era o caso. Não há no local objeto algum que seja de Ruth ou que a faça ter memória de Angola ou da RDC. Ela diz que suas amigas congolesas sempre brincam que ela já virou brasileira, pois nem a comida africana cozinha mais.
Saímos atrasadas, mas, mesmo assim, antes de entrar na igreja, Ruth pediu que Mazi tirasse uma foto sua. Todos os dias ela posta nas redes sociais ensaios com fotos variadas. A roupa é outro aspecto fundamental para ela, uma marca identitária, que carrega sua ancestralidade e a faz lembrar de sua mãe e de seu local de origem. Em “Na makanisi na nga: minhas lembranças”, pedi que Ruth levasse objetos pessoais trazidos de Angola. Ela levou uma peça de roupa de tecido africano e um anel de ouro.
Você falou para trazer uma coisa da África, a primeira coisa é a minha roupa. Essa é minha autenticidade. É minha cara. Eu tenho muita roupa, tenho muitos sapatos, as vezes compro, eu ganho. Se eu quero levar as coisas agora para ir embora, quero ir na França agora, posso deixar tudo, mas esses aqui não vou deixar. Nunca vou deixar. Porque são raros, isso mostra o que eu sou: africana. Aqui, se eu colocar uma calça normal, uma saia normal, tem muita gente que só quando eu falo, aí a pessoa fala: “Você é de outro país?”. Sim. Aí a pessoa fala: “Você é da onde?”. Mas quando estou assim, já basta olhar para mim, qualquer país da África que você me der, eu recebe. Não tô nem aí. Ah, pode me chamar de senegalesa? Sou! Africana pura. Acabou. Essa aqui não sou só eu. Todos os africanos. Onde a gente passa, anda, nossos panos não fica longe de ninguém. [...] Eu me acho linda quando coloca um turbante na minha cabeça. Eu tenho muitas formas de enrolar. [...] Então, para mim, lembra a minha mãe, tudo que é meu. São minhas lembranças que eu levo. (Ruth, Centro, fevereiro de 2019)
A casa azul, com um portão de ferro na rua Suruí, em Brás de Pina, é onde funciona uma igreja evangélica fundada por um congolês. No salão amplo, com paredes descascando, piso branco e bem limpo, cadeiras brancas de plástico e de ferro com acolchoado vermelho estão lado a lado. À frente, um palco grande, com altura de um degrau, é coberto por um carpete vermelho. Na parede atrás do palco, cortinas vermelhas enfeitam o salão e voam com o balanço do vento provocado pelos ventiladores de teto.
Quando chegamos, uma pastora ajoelhada no palco falava em lingala e um fiel ao seu lado fazia a tradução simultânea para português. Um homem tocava tambores e uma mulher cantava. Ruth subiu e se juntou a eles na cantoria. Pouco tempo depois, outro músico se dirigiu aos teclados e um terceiro foi para a bateria.
Os fiéis eram, em sua maioria, mulheres e crianças, quase todas congolesas, bem-vestidas com trajes africanos. O salão foi se enchendo aos poucos, e outros pastores se alternavam na fala. Um pastor brasileiro falou em português e seu sermão foi vertido para o lingala. O culto durou mais de três horas e, quando acabou, a banda seguiu tocando mais um pouco, enquanto as crianças - que ficaram quase todo o tempo do culto sentadas ao lado de suas mães - corriam pelo salão. Ao terminar de cantar, Ruth desceu do palco e fez questão de cumprimentar cada pessoa que estava lá. As mulheres se reuniram em volta de uma fiel que foi de férias para Angola e havia acabado de chegar. Um bebê de uns seis meses passava de colo em colo enquanto elas conversavam. Reconheci algumas delas do inzu de Madureira, onde se reúnem para trançar os cabelos.
4. Olhares sobre a cidade
Pedi a Ruth que fizesse cinco fotos para o “Na makanisi na nga: minhas lembranças”. Havia três regras: retratar i) um lugar, ii) uma pessoa e iii) um objeto. Minha intenção era entender como Ruth vê o Rio de Janeiro, relaciona-se com o bairro onde vive e sua comunidade. Já fazia alguns meses que eu a acompanhava em ensaios e apresentações do Terremoto Clandestino. O grupo musical é formado por pessoas em situação de refúgio e imigrantes de diferentes nacionalidades, e Ruth é uma das cantoras. Apesar do tempo de convívio, eu pouco sabia sobre sua forma de estar na cidade. Não dei um tempo específico para que ela realizasse tais registros. Depois de um mês, ela me escreveu dizendo que podíamos nos encontrar para ver as fotos.
Marcamos de conversar depois de um dos ensaios do grupo. Escolhemos a sala de exibição de filmes da biblioteca da Maison de France, no Centro do Rio. Foi Ruth quem definiu a ordem das fotos e falou o que quis sobre elas. Minha primeira pergunta a cada imagem apresentada foi: “Qual seu sentimento em relação a essa foto?”. Os principais temas que surgiram foram sonhos (casa), medos (mar), raízes (família e música), condição atual (ser estrangeira) e o futuro (idoso).
A primeira foto que Ruth mostrou trouxe a temática da casa e da moradia (Figura 2). A estrutura das paredes e dos telhados é uma das camadas que representam a casa. Mas ela foi além. É na casa onde se guardam memórias, onde se escondem formas de estar no mundo. Uma pessoa em situação de refúgio tem na casa seu sentido de pertencimento, de fixação de sua trajetória.
Foi a primeira vez que Ruth trouxe a temática da casa para nossas conversas. Um dos grandes sonhos dela é ter uma casa que seja sua, para poder deixar de viver de aluguel, e que seja uma casa grande, para receber a família e os amigos. Sobre a foto em si, ela comentou num tom saudosista que ver esse conjunto de casas todos os dias de sua varanda lhe despertava a ideia de que a mãe pudesse morar em alguma delas, que a vida em comunidade, tal como em Angola ou na RDC, tão cara a ela, pudesse estar escondida entre os becos e ruelas de Brás de Pina. Indiretamente, o tema da solidão das pessoas em situação de refúgio - sobretudo das mulheres negras - apareceu ali. Na imagem, a vista que fazia parte do seu cotidiano é carregada de simbolismo e da ausência dos que ficaram, dos que não puderam partir.
Essa foto traz umas lembranças da minha família. Você tá sentada aí, tá olhando, tipo, lá no final, pode ser que minha mãe more por aí. É a vista da minha casa todos os dias. Essa é minha rua. Tem esses tetos [telhados], mas tem outros diferentes, o material, aquele teto [telhado] antigo [...] (Ruth, Centro, fevereiro de 2019)
Na memória de Ruth, o rastro de uma presença-ausência da moradia com sua mãe, de um viver em comunidade com a família, ancorada no olhar lançado a locais que conheceu na diáspora, a fez viajar por suas lembranças mais afetivas.
Ruth comentou, a partir da foto, sobre as diferenças de moradia no Rio de Janeiro e de como isso evidenciava a desigualdade social do país. A violência foi outro ponto importante. Ela falou sobre a insegurança que acompanha todos diariamente e de como as pessoas já se acostumaram a ela, a tal ponto de não cuidarem mais da parte externa da casa para evitar chamar a atenção para possíveis roubos.
Quem mora lá [na favela] são pessoas de pouco dinheiro, né? As casas subindo assim são muito lindas. Já vi em outros lugares, a casa não tem jeito, mas por dentro tem muito móvel bom, a pessoa tem dinheiro, tem possibilidade, tem carro, tem tudo. Um dia eu perguntei: Por que isso no Brasil? As pessoas ficam com medo dos bandidos. Não quer embelezar a casa fora para não chamar ladrão. [...] [Na RDC e em Angola] a gente vive junto. Uma única separação é de bairro rico, como Copacabana, e de pobre, tipo Brás de Pina, onde estou morando. Uma comunidade específica que aqui mora o traficante, nunca tinha visto. Olha a menina que toma tiro no peito? Morreu. Por quê? A violência tá sempre crescendo, crescendo. Um dia vai virar uma guerra. O Brasil nunca passou por uma guerra. Mas vai passar, se não parar, vai chegar um dia que o tráfico vai tomar conta do Estado. Vai chegar um dia que vai virar guerra civil. [...] Se um dia eles veem o mundo de outra forma, se pensarem como africanos, vai virar uma rebelião. Você já ouviu falar de rebelião? (Ruth, Centro, fevereiro de 2019)
A segunda foto que Ruth trouxe foi da rua onde morava em Brás de Pina, mas de outra perspectiva e horário (Figura 3). Ela a tirou à uma da manhã, quando chegava do trabalho7 7 Quando comecei a fazer a pesquisa com Ruth, em 2018, ela trabalhava em uma empresa em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na área de tecnologia. Mas foi demitida em fevereiro de 2019 e ainda não está com novo trabalho fixo. Seu sonho é poder viver como atriz e cantora. . Comecei a fazer perguntas sobre a diferença de estar na cidade de dia e de noite, atrelando-a à questão da segurança, que encerrou a análise da foto anterior, numa reflexão principalmente para uma mulher, que vivencia a cidade de outra forma. Até que fui interrompida por Ruth, que disse não ser sobre isso que ela queria falar, e sim sobre o senhor que dormia na rua.
Eu quis fazer essa foto dele porque eu vejo uma diferença muito grande da cultura branca da nossa cultura africana. Nas famílias é diferente. Por quê? O idoso nessa idade talvez perdeu a casa, talvez. Já ouvi falar uma coisa assim. Porque vivo perguntando também por que isso. Uma senhora já me respondeu lá em Madureira que ela trabalhou como médica, preparou a aposentadoria e agora o dinheiro dela é que está fazendo ela se sustentar na casa dos idosos. Aí fico vendo... Na África, tem pessoa morando na rua? Sim, mas é difícil ver um idoso morando na rua. [...] Porque um jovem tem uma casa para ele morar. Às vezes, ele não quer. Talvez esse jovem seja viciado em droga, às vezes as escolhas levam a pessoa para a rua. Mas um idoso assim não tem família ou a família abandonou. Talvez a casa dele foi no crédito. Talvez não tenha ninguém. Essas coisas não acontecem na África assim. Você não vai ver um idoso na rua. Pode ser, mas você pode passar um Rio de Janeiro todo, você talvez veja dois. É raro. Ou é aquele louco, que é diferente de morador de rua. (Ruth, Centro, fevereiro de 2019)
Com base na imagem da rua à noite, em Brás de Pina, Ruth expressou sua indignação com a forma como nós, brasileiros, cuidamos dos nossos idosos. Aqueles corpos abandonados - muitos anônimos que morrem na rua de frio e fome -, em contraste com as diversas casas vazias que há na cidade, nos fazem pensar nas imagens intoleráveis dos barcos à deriva, na fronteira com países da Europa, com corpos invisibilizados, sem identidade, que morrem no mar, sem direito a rituais de despedidas. Vidas que viram apenas números.
Na conversa sobre a foto da rua à noite, Ruth também revelou que, como as mães exiladas em Nyamata no livro de Mukasonga, sofre para criar os filhos longe de seus costumes, de sua família, de sua terra. Ao optar por buscar uma casa para viver em Brás de Pina, houve uma tentativa de estar mais perto de suas práticas e costumes, por ser uma das regiões com maior concentração de congoleses no Rio.
Meus filhos estão crescendo aqui, mas nunca vou deixar eles crescerem como vocês branco. Ah! Para ir na casa da sua irmã tem que agendar? Não posso chegar de repente? Esses limites é bom nesses tempo, quando chega idoso fica mais pesado ainda. Outra coisa, ter um filho não é obrigatório hoje. Mas ter um filho para mim eu vejo que é bom [...]. Quantos idosos estão morrendo sem ninguém para ajudar? Rico, sim. Babá? Cuidador de idoso? Vai embora! Tem tempo, tem horário. E se não conseguir preparar a sua velhice? Como você vai parar? Você não pode deixar a sua mãe. Eu não creio que você vai deixar a sua mãe. Porque ela teve uma filha. A minha mãe não vou deixar. Eu quero meus filhos crescer no vínculo familiar.
A gente na África só precisa de uma pessoa conseguir a vida e é para todo mundo. Só uma pessoa. A gente luta com isso. A gente não fica pensando como vocês aqui: tô trabalhando, minha conta do banco, vou preparar meu futuro, lá lá lá, é para mim. Minha irmã? Sim, vou ajudar quando eu puder. [...] Tem muitas famílias que não têm amor. Tem outras famílias aqui, são brancos e são muito apegados, tipo os africanos. [...] Eu fico pesquisando aí. Tem casa que não tem ninguém. Sabe quantos apartamentos em Copacabana, Leblon que o dono morreu e não tem ninguém? Se você olhar, ele tem família grande. Tinha família, por que uma coisa que a pessoa trabalhou a vida inteira e não divide? Porque batalhou para ele. Mas a gente não! Eu batalho para mim, para meus filhos, meus sobrinhos [...]. (Ruth, Centro, fevereiro de 2019)
Para Ruth, somos muito individualistas, só pensamos no lucro próprio e valorizamos pouco nossos ancestrais. Sua mãe a teve muito jovem e ela mal conviveu com seu pai, mas a família de seu tio ajudou a criá-la. Uma visão que precisamos aprender para valorizar ainda mais nossos ancestrais.
Considerações finais
No “Na makanisi na nga: minhas lembranças”, contei a história do livro A menina que abraça o vento (2017)PARAGUASSU, F. A menina que abraça o vento: a história de uma refugiada congolesa. Belo Horizonte: Voo, 2017., de Fernanda ParaguassuPARAGUASSU, F. A menina que abraça o vento: a história de uma refugiada congolesa. Belo Horizonte: Voo, 2017., sobre Mersene, uma criança congolesa em situação de refúgio que veio para o Brasil com a mãe e os irmãos, e cujo pai teve que ficar na RDC. Enquanto escutava a história, Ruth fez vários comentários. Num trecho, a narradora explica o motivo da migração forçada da menina. Ruth falava enquanto eu lia: “É isso aí!” ou “Nunca vai acabar essa guerra”.
Pedi a Ruth que fizesse um desenho para a personagem do livro, e ela fez dois. No primeiro (Figura 4), desenhou o pai de Mersene de mão dada com a menina. Ruth explicou que a ideia que teve foi dele já no Brasil, passeando com a filha. O segundo (Figura 5) retrata o dia em que a menina, o pai e a mãe voltam para a África e encontram a família fazendo comida.
Desenho 1 de Ruth sobre o livro A menina que abraça o ventoPARAGUASSU, F. A menina que abraça o vento: a história de uma refugiada congolesa. Belo Horizonte: Voo, 2017.
É interessante observar que, nesse desenho, a folha está praticamente em branco. Não há paisagens, pessoas, apenas as duas personagens: pai e filha. Ao identificar que a cena ocorre no Brasil, Ruth talvez esteja expressando também o que sente: a solidão na terra estrangeira, a solidão de uma mulher negra com os filhos num novo país, em que estão em condição de refugiados e onde precisam recomeçar a estabelecer os laços afetivos para diminuir o peso do viver longe de casa.
Já no segundo desenho, aparecem novos elementos: uma casa com a palavra África escrita no telhado, além de pessoas sentadas em um banco próximo a uma mesa longa, ao lado da casa. À frente, uma panela é aquecida num fogareiro ao ar livre. A comida é uma das principais memórias que a conecta às suas origens, às suas raízes. Tal como descreveu em sua carta para o futuro, seu desejo é estar de novo em sua casa. É lá onde está seu inzu.
Desenho 2 de Ruth sobre o livro A menina que abraça o ventoPARAGUASSU, F. A menina que abraça o vento: a história de uma refugiada congolesa. Belo Horizonte: Voo, 2017.
Como atriz, o primeiro espetáculo de que Ruth participou foi interpretando uma mulher em situação de refúgio em Kondima - sobre travessias. Por conta de sua atuação, ela recebeu um convite para fazer outra peça, Hoje não saio daqui, uma produção da Cia Marginal. Encenada na mata do Parque Ecológico da Maré, a peça conta com seis atores da companhia e seis atores angolanos como convidados. Ruth é um deles e interpreta a rainha Nzinga Mbandi. A peça retrata o encontro entre Brasil e Angola, do churrasco com o mufete, do funk e do kuduro.
A rainha Nzinga Mbandi foi uma líder política e militar angolana que, ao longo de quarenta anos, lutou contra a entrada dos portugueses no continente africano, especialmente em Angola. Nzinga se tornou símbolo da resistência ao colonialismo e de combate ao comércio de escravizados.
Se na ficção Ruth interpretou esse símbolo de residência, no Brasil, ao lado de outras mulheres em situação de refúgio, ela pode fazer do inzu congolês em Madureira um espaço que se sobrepõe à marginalização social, à segregação e à resistência de refugiados no Rio de Janeiro, tal como os quilombos urbanos conceituados por Beatriz Nascimento.
Acredito que este artigo pode contribuir para ecoar vozes de mulheres negras em situação de refúgio, ao tratar dos deslocamentos por vários territórios - reais e simbólicos. Do mesmo modo, a teoria existente e a metodologia proposta sugerem debates sobre questões de gênero, classe e raça. Com “Na makanisi na nga: minhas lembranças”, pretendo ampliar o olhar e a escuta sobre as experiências de territorialização e reterritorialização dessas mulheres diaspóricas, representadas neste artigo por Ruth. Ecoando com Nascimento que: “A Terra é o meu quilombo. Meu espaço é meu quilombo. Onde eu estou, eu estou. Quando eu estou, eu sou” (NASCIMENTO apud RATTS, 2006RATTS, A. Eu sou atlântica. Sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. São Paulo: Instituto Kuanza: Imprensa Oficial , 2006., p.59).
Referências
- AKOTIRENE, C. Interseccionalidade São Paulo: Sueli Carneiro: Pólen, 2018.
- ANZALDÚA, G. La consciência de la mestiza/rumo a uma nova consciência. Revista Estudos Feministas, v. 13, n. 3. p. 704-719, set.-dez. 2005.
- ANZALDÚA, G. Como domar uma língua selvagem. Cadernos de Letras da UFF. Dossiê: Difusão da língua portuguesa, n. 39, p. 305-318, 2009.
- BHABHA, H. Como o novo entra no mundo: O espaço pós-moderno, os tempos pós-coloniais e as provações da tradução cultural. In: BHABHA, H. O local da cultura Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 1998. p. 292-325.
- EVARISTO, C. Literatura negra: uma poética de nossa afro-brasilidade. 1996. Dissertação (Mestrado em Letras) - Centro de Teologia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1996.
- EVARISTO, C. Literatura negra: uma voz quilombola na literatura brasileira. In: PEREIRA, E. de A. (Org.). Um tigre na floresta de signos Belo Horizonte: Mazza Edições, 2010.
- FANON, F. Pele negra, máscaras brancas Salvador: Ed. da UFBA, 2008.
- KILOMBA, G. Memórias da plantação. Episódios de racismo cotidiano Tradução: Jess Oliveira. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.
- MUKASONGA, S. A mulher de pés descalços Rio de Janeiro: Nós, 2017.
- NASCIMENTO, B. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra. In: RATTS, A. Eu sou atlântica. Sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento São Paulo: Instituto Kuanza; Imprensa Oficial, 2006.
- PARAGUASSU, F. A menina que abraça o vento: a história de uma refugiada congolesa. Belo Horizonte: Voo, 2017.
- PEREIRA, G. L. O exercício de atravessar a cidade pela narrativa de Carolina Maria de Jesus. XVI ENANPUR, 2015, Belo Horizonte. Anais Sessões Temáticas Belo Horizonte: Enanpur, 2015. Tema: Espaço, planejamento e insurgências: alternativas contemporâneas para o desenvolvimento urbano e regional.
- RATTS, A. Eu sou atlântica. Sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento São Paulo: Instituto Kuanza: Imprensa Oficial , 2006.
- SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 2006.
- VIDAS NEGRAS. Entrevistada: Gabriela de Matos. [Locução de:] Tiago Rogero. [S.l.] Rádio Novelo, 9 jun. 2021. Podcast Disponível em: https://spoti.fi/2TKsCDd Acesso em: 11 jun. 2021.
» https://spoti.fi/2TKsCDd
-
1
Este artigo é um desdobramento da dissertação de mestrado da autora, Levo o chão de onde vim: narrativas de mulheres em situação de refúgio no Rio de Janeiro, orientada pela dra. Adriana Facina e apresentada no Programa de Pós-graduação em Cultura e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense (PPCULT/UFF), em agosto de 2020.
-
2
A expressão na makanisi na nga está escrita em lingala, uma das línguas oficiais da República Democrática do Congo, e quer dizer “minhas lembranças”. A proposta da metodologia foi criada para acessar memórias por meio de elementos artísticos, como fotografias, desenhos, uso de objetos e literatura.
-
3
A Guerra Civil Angolana durou quase três décadas, com breves períodos de paz. Iniciou-se quando o país se tornou independente de Portugal, em 1975, e terminou em 2002. PACHECO, F. Política e cidadania: o estado da democracia. Caminhos para a cidadania e para a construção da democracia em Angola: obstáculos e avanços. VII Congresso Luso-afro-brasileiro de Ciências Sociais, 2004, Coimbra. Anais [...]. Coimbra, Centro de Estudos Sociais, Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra, 2004. Tema: A questão social no novo milênio. Disponível em: https://www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/fpacheco.pdf. Acesso em: 31 jul. 2020.
-
4
A República Democrática do Congo enfrentou duas guerras civis, entre 1996 e 2003. Kabengele Munanga, antropólogo congolês e professor titular da Universidade de São Paulo (USP), tem alguns trabalhos sobre o tema.
-
5
Ao longo deste artigo, optei por manter a transcrição exata das falas da interlocutora da pesquisa. Procuro, assim, respeitar as formas de falar de uma linguagem híbrida, fronteiriça, que não correspondem a uma linguagem correta ou incorreta, mas sim a práticas da língua viva. Nessas transcrições foi sempre indicado o lugar em que a interlocutora se manifestou, assim como o mês e o ano.
-
6
A aproximação entre o inzu das memórias de Mukasonga e o inzu urbano em plena Madureira foi feita pela autora. Mesmo consciente de que o termo é usado em Ruanda, país fronteiriço com a RDC, busco trabalhar com o conceito simbólico que o inzu representa para aquelas mulheres.
-
7
Quando comecei a fazer a pesquisa com Ruth, em 2018, ela trabalhava em uma empresa em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na área de tecnologia. Mas foi demitida em fevereiro de 2019 e ainda não está com novo trabalho fixo. Seu sonho é poder viver como atriz e cantora.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
12 Jan 2022 -
Data do Fascículo
2021
Histórico
-
Recebido
20 Dez 2020 -
Aceito
06 Ago 2021
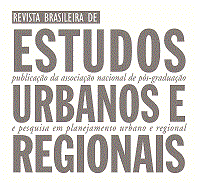






 Fonte: Reprodução do Google (2020) e aplicação dos trajetos pela autora.
Fonte: Reprodução do Google (2020) e aplicação dos trajetos pela autora.
 Fonte: Foto de Ruth (acervo pessoal de Ruth, 2019).
Fonte: Foto de Ruth (acervo pessoal de Ruth, 2019).
 Fonte: Foto de Ruth (acervo pessoal de Ruth, 2019).
Fonte: Foto de Ruth (acervo pessoal de Ruth, 2019).
 Fonte: Autoria de Ruth, 2019.
Fonte: Autoria de Ruth, 2019.
 Fonte: Autoria de Ruth, 2019.
Fonte: Autoria de Ruth, 2019.