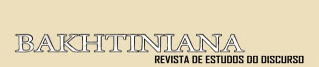RESUMO
Este trabalho busca uma definição adequada para sincretismo dentro do contexto teórico sugerido pelo dialogismo. Um dos focos está no exame do sincretismo como possível operação dialética, à qual tem sido frequentemente associado. Esta discussão também aponta para o sincretismo na análise de práticas culturais. Para tanto, recorre ao pensamento de Mikhail Bakhtin assim como a trabalhos de estudiosos de sua obra.
PALAVRAS-CHAVE:
Dialogismo; Sincretismo; Religião; Práticas culturais
ABSTRACT
This work seeks an adequate definition of syncretism within the theoretical context suggested by dialogism. One of the issues examined here is the usual description of syncretism as a possible dialectical operation. This discussion also points to the use of syncretism in the analysis of cultural practices. In order to do that, it refers to the work of Mikhail Bakhtin as well as the writings by researchers of his oeuvre.
KEYWORDS:
Dialogism; Syncretism; Religion; Cultural Practices
Where the politicians prosper while we tighten our belts
And they talk an awful lot about brotherly love
But when the nitty meets the gritty it's brotherly shove
Jon Hendricks 1 1 "Bem-vindo ao caldeirão que nunca mistura / Onde os políticos prosperam enquanto nosso cinto aperta / E eles falam de amor fraterno / Mas quando a coisa pega é o fraterno que se dana". HENDRICKS, Jon e MORENO, Joyce Taxi Driver. In: MORENO, J. Línguas e Amores, CD 849 346-2. Rio de Janeiro: Verve-Polygram, 1991.
Dialogismo
Apesar da presença constante do termo dialogismo em trabalhos teóricos bakhtinianos nos últimos anos, seria equivocado atribuir sua formulação a Bakhtin. Efetivamente, Bakhtin aparentemente não fez uso desse termo em nenhuma de suas obras conhecidas. (HOLQUIST, 1990HOLQUIST, M. Dialogism: Bakhtin and his World. London: Routledge, 1990 (2002)., p.15). Entretanto, ele escreveu extensivamente sobre o diálogo entre enunciações e discursos, e mesmo que focalizassem a literatura escrita, sua teoria do diálogo frequentemente sugere aplicabilidade a outros campos. De acordo com Robert Stam, a liberdade fundamental que Bakhtin atribui a essas operações sugere um uso flexível de suas teorias. É essa liberdade que nos permite enunciar, por exemplo, um termo como "dialogismo bakhtiniano" a fim de abordar o escopo das relações dialógicas descritas por Bakhtin. (1989, p.187-218)
Michael Holquist vai mais longe ao incluir o diálogo dentro do campo do dialogismo; ele afirma que "o que dá ao diálogo seu lugar central no dialogismo é precisamente o tipo de relação que as conversações manifestam," (1990, p.40)2 2 No original, "...what gives dialogue its central place in dialogism is precisely the kind of relation conversations manifest." As traduções das citações originais em inglês, francês e espanhol deste ensaio foram feitas por mim. destacando, assim, a dimensão interfacial do dialogismo. Para Bakhtin, todos os discursos estão em permanente interação, uma interação que pode ser vista como uma rede contagiosa de diálogos. Referindo-se ao dialogismo no contexto de uma cultura, Robert Stam afirma que o mesmo
se relaciona, no sentido mais amplo, às possibilidades infinitas e abertas geradas por todas as práticas discursivas ... (É) a matrix das enunciações comunicativas que "atingem" o texto não apenas através de citações reconhecíveis, como também através de um processo sutil de disseminação (1989, p.190)3 3 "[...] refers in the broadest sense to the infinite and open-ended possibilities generated by all the discursive practices ... the matrix of communicative utterances that "reach" the text not only through recognizable citations but also through a subtle process of dissemination." .
Stam nos lembra ainda que
diálogo e monólogo (não podem) ser vistos como se estivessem em oposição absoluta, já que um monólogo também pode ser dialógico, pois toda enunciação, mesmo a mais solitária, tem seus 'outros' e existe contra o pano de fundo de outras enunciações. (1989, p.189)4 4 "[...] dialogue and monologue (cannot) be seen as in absolute opposition, since a monologue can also be dialogic, given the fact that every utterance, including the solitary utterance, has it "others" and exists against the backdrop of other utterances."
Caberia portanto ao/à leitor/a (espectador, crítico potencial), equipado de seu repertório decodificador, detectar essa rede. Nesse sentido, um texto não é jamais um simples texto, mas antes um momento de um sistema de discursos em interação.
Holquist nota que as relações dialógicas são moldadas pelas "condições que devem ser enfrentadas toda vez que uma troca tem efeito" (1990, p.40)5 5 "[...] the conditions that must be met if any exchange [...] is to occur at all." . Essas relações não são, por isso, necessariamente igualitárias como o termo dialogismo poderia sugerir à primeira vista - elas são definidas por relações de poder. Essa questão - que se refere às relações políticas que ocorrem entre os discursos - será crucial para o entendimento de sincretismo como forma de dialogismo, que tentarei desenvolver em seguida.
Numa rede dialógica, as possibilidades de posicionamentos políticos dos elementos em interação dependerá das possibilidades de sua articulação. A articulação é uma prática que expõe e liga um conjunto de elementos (que podem ser enunciações ou discursos, por exemplo), cujas identidades historicamente mutáveis são transformadas no processo de sua articulação. Esses discursos não são, portanto, vistos como instâncias fechadas e delimitadas; sua abertura é essencial para o processo de articulação. As articulações podem ocorrer não apenas entre signos e discursos como também entre linhas de pensamento, posições políticas e tendências culturais. Esta visão da abertura de signos e discursos se aproxima das teorias de Bakhtin a respeito do poder transformador do diálogo. Ao tratar das práticas culturais, Dick Hebdige descreve articulação como
uma relação continuamente mutável e mediada entre grupos e classes, um campo e um conjunto estruturados de relações vividas nas quais formações ideológicas complexas compostas de elementos de origens diversas são ativamente combinadas, desmontadas, remontadas (bricolaged), para que novas alianças politicamente eficazes possam ser asseguradas entre diferentes grupos fracionados, que não podem mais voltar ao estado de classes homogêneas e estáticas (1988, p.205)6 6 "[...] a continually shifting, mediated relation between groups and classes, a structured field and set of lived relations in which complex ideological formations composed of elements derived from diverse sources have to be actively combined, dismantled, bricolaged, so that new politically effective alliances can be secured between different fractional groupings which can themselves no longer be returned to static, homogeneous classes." .
Desse modo, as articulações podem ser vistas como relações de possibilidades, que não são conformadas por regras a priori. A ocorrência de articulações dependerá, portanto, do contexto político que as torna possíveis. Stuart Hall destaca ainda que
(uma) articulação é [...] a forma de conexão que pode criar a unidade de dois elementos diferentes sob certas condições. É uma ligação (linkage) que não é necessária, determinada, absoluta e essencial todo o tempo. Você deve perguntar: sob quais circunstâncias uma conexão pode ser feita ou construída? Assim, a chamada "unidade" do discurso é na realidade a articulação de elementos diferentes e distintos, os quais podem ser articulados de modos diferentes pois não têm necessariamente um pertencimento (apudGROSSBERG, 1986GROSSBERG, L. On Postmodernism and Articulation: An Interview with Stuart HallJournal of Communication Inquiry, Summer 1986, Urbana: University of Illinois Press., p.53)7 7 Escolhi "pertencimento" como tradução de "belongingness". Texto original: "An articulation is [...] the form of the connection that can make a unity of two different elements under certain conditions. It is a linkage which is not necessary, determined, absolute and essential for all time. You have to ask, under what circumstances can a connection be forged or made? So the so-called "unity" of a discourse is really the articulation of different distinct elements which can be articulation of different ways because they have no necessary 'belongingness.'" .
Diálogos podem assim ser considerados relações (articulatórias) que ocorrem entre diferentes enunciações ou discursos. Aquilo que é atribuído às conversações, no texto de Michael Holquist citado acima, pode ser estendido a outros tipos de interação. Bakhtin demonstrou diversas vezes como os diálogos se organizam no romance - fossem verbalizados por personagens ou não. Não é difícil, entretanto, estendermos essas ideias a outras formas de expressão, como os meios audiovisuais8 8 O romance é, apesar da riqueza de suas possibilidades de interação discursiva, um meio de apenas um canal - como coloca Robert Stam em Subversive Pleasures (1989, p.202). No cinema, que é basicamente um meio de muitos canais, os discursos podem surgir dos diversos elementos que compõem a narrativa, como, por exemplo, diferentes elementos visuais num simples plano cinematográfico. As relações entre os planos subsequentes podem também ser lidas como diálogos. (Um plano pode ser definido como a extensão de uma imagem projetada delimitada por dois cortes, um que o precede, outro que o sucede. Trata-se de momentos definidos no ato da montagem). .
Mesmo que esse mundo dialógico seja à primeira vista tão profuso de possibilidades, estratégias contingentes de interpretação, como notei antes, pode determinar as direções de uma abordagem dialogística. Essas direções não estão implícitas na natureza essencial do diálogo - elas são um produto da leitura desse diálogo. Nesse sentido, a dialógica parece diferir radicalmente da dialética, apesar de suas aparentes similaridades.
A dialética hegeliana, que pressupõe um choque dos contrários para que uma terceira "unidade maior" venha a ser (re)produzida, implica a oposição das partes em confronto. Essas partes são ou fadadas a desaparecer, ou ser irrevogavelmente transformadas para que a operação seja concluída. Essa relação é distinta daquela que Ernesto Laclau e Chantal Mouffe descrevem como de antagonismo, uma relação que manteria as diferenças identitárias entre as partes confrontantes (1986, p.93-148). No diálogo, a relação que se produz não leva necessariamente ao desaparecimento das partes implicadas. A interação pode ser transformadora, mas não prevê o aniquilamento nem a (re)produção de uma síntese como resultado de um choque, digamos, conflituoso. Numa relação antagonística - conforme a descrição de Laclau e Mouffe - a mera manutenção de uma parte depende da continuação da outra. Em outras palavras, poderíamos dizer que as partes antagonísticas engajadas num diálogo não submergem, mas antes navegam na relação; as partes dialogantes não desaparecem a partir de sua interação mas, ao contrário, produzem os meios necessários para se autorreconhecerem durante a operação. É justamente esta a idéia de diálogo que estará informando minha definição de sincretismo neste trabalho.
Nessa perspectiva, o dialogismo bakhtiniano não é essencialmente informado pela "problemática do ou/ou da dialética", como Michael Holquist coloca (1990HOLQUIST, M. Dialogism: Bakhtin and his World. London: Routledge, 1990 (2002)., p.41)9 9 "[...] the either/or issue of dialectics." ; o diálogo, de fato, requer a manutenção das "vozes" dialogantes para poder acontecer - o que aproxima o dialogismo do antagonismo, e não da oposição. Na luta pela hegemonia, que jaz latente em toda forma dialógica, isso não leva, necessariamente, ao silêncio de uma das vozes enunciadoras - o que significaria o fim da relação dialógica. Ao invés da supressão das partes, implicada no trajeto dialético, o dialogismo pode sugerir a formação de "blocos históricos" - tal como são concebidos na obra de Antonio Gramsci. Além disso, nas palavras de Bakhtin, "a dialética do objeto entrelaça-se com o diálogo social circunstante" (1993, p.88). Desse modo, Bakhtin não apenas faz uma distinção entre a dialética e o diálogo, como também situa a dialética como um evento dentro de um mundo mais amplo do diálogo. A descrição que Bakhtin faz do dialogismo, portanto, difere do pensamento marxista convencional, em que o materialismo histórico privilegia a dialética como explicação do mundo10 10 O pensamento marxista pode ter sofrido aquilo que Ernesto Laclau diagnostica, ao comentar a derrocada do leninismo: "Quanto mais universal a ideia a ser incorporada, maior será a distância das limitações históricas e dos agentes sociais que pretendem defendê-la"; no original, "The more 'universal' the idea to be embodied is, the greater the distance from the historical limitations and the social agents intended as its bearers will be." (LACLAU, 1990, p.xi). . Portanto o dialogismo, diferentemente da dialética, enfatiza o ato de leitura das possibilidades dos fenômenos, ao invés de procurar sua natureza essencial ou sua função num projeto ideológico (como frequentemente ocorre nos trabalhos de crítica marxista).
Sincretismo
Na história do pensamento, poucos conceitos têm sido objeto de tantos equívocos como sincretismo. Confundido muitas vezes com uma forma de síntese ou entendido como a fusão das diferenças, um exame mais detalhado da etimologia de sincretismo pode sugerir outras definições. Pretendo argumentar, neste trabalho, que o sincretismo está mais próximo da dialógica bakhtiniana do que da dialética. E questionar, também, a associação de sincretismo com fenômenos religiosos.
Sincretismo pode ser definido como um tipo de articulação na qual os elementos se engajam numa relação dialógica dentro de um mesmo campo discursivo ou entre campos discursivos diferentes. Uma das características que distinguiriam as relações sincréticas de outras formas de relação é que os elementos envolvidos interagem, dialogam e estabelecem relações de poder específicas na forma de alinhamentos (frequentemente antagonísticos) e, mesmo assim, mantêm suas identidades distintas.
Entretanto, devido aos múltiplos significados e usos que têm sido atribuídos ao termo sincretismo, faz-se necessário formular e testar uma definição funcional do conceito. Para realizar essa tarefa, buscarei implementar uma definição provisória desse termo, rastreando sua possível etimologia e sua particularidade; avaliarei, também, alguns de seus usos e o impacto histórico de sua relevância para os objetivos deste trabalho. Ainda assim, longe de pretender recuperar um sentido "original" que a palavra possa ter tido, tentarei estabelecer algo do conteúdo político que o sincretismo ainda pode exprimir.
O primeiro registro conhecido do termo sugkretismos pode ser encontrado num texto de Plutarco - onde surge associado à ilha de Creta. Carsten Colpe descreve que a palavra
foi provavelmente baseada em sugkretos (forma jônica de sugkratos, "misturado junto") e foi explicada pela etimologia popular ou pelo próprio Plutarco como referência ao comportamento dos cretenses que, apesar de sua discórdia habitual, se tornavam unidos frente a um inimigo comum (1987, p.218)11 11 "[...] was probably based on sugkretos (Ionian form of sugkratos, 'mixed together') and was explained by popular etymology or by Plutarch himself as referring to the behavior of the Cretans who, despite the discord habitual among them, closed ranks when an external enemy attacked them." .
Distanciando-se do uso "original" de Plutarco, historiadores da religião na Europa usaram sincretismo para descrever os primeiros séculos da cristandade, quando ocorreu o fenômeno conhecido como "a helenização do cristianismo". A maioria dos autores limitaram seus textos a questões de liturgia ou interpretação das Escrituras, focalizando o processo de helenização e sua incorporação pelo cânone oficial da Igreja Católica. Esse período da história europeia tem sido emblematicamente descrito como um processo que eventualmente levou a uma síntese. Ao referir-se a esse período, René Nouailhat amplia o escopo do termo:
O fenômeno da helenização está inserido num contexto global de sincretismo, que ocorre em todos os níveis de expressão (institucional, legal e político, religioso e moral, etc...) do consciente coletivo daquele período(1975, p.213)12 12 "Le phénomène de hellénisation du christianisme s'inscrit dans ce contexte global de syncrétisme, qui se manifeste a tous les niveaux d'expression (institutionelle, juridique et politique, religieuse et morale, etc...) du mental collectif de cette période." .
Em outras palavras, o processo de sincretismo - mesmo que Nouailhat o confine àquele período específico da história - ocorre em muitos níveis ideológicos e não apenas no religioso, apesar da insistência de alguns historiadores. Além disso, o termo de Nouailhat, mental collectif (que também pode ser lido como mentalidade coletiva) no original, sugere um campo ainda mais amplo desse processo, que pode envolver uma variedade de práticas culturais.
Como a etimologia sugere, o sincretismo foi usado inicialmente para descrever uma situação política. Entretanto, o uso quase exclusivo de sincretismo no campo do pensamento religioso ganhou impulso no século XIX. A apropriação restrita do termo pela teologia pode ter se desenvolvido do fato de que, na Antiguidade, tanto para os cretenses quanto para outros povos mediterrâneos o discurso político era frequentemente inseparável do discurso religioso. E, apesar dessa tendência à especialização, os teólogos usaram o termo de modos diferentes, levando a um distanciamento cada vez maior do sentido supostamente original. Desde Plutarco foram tantas as modificações que certos autores, como Helmer Ringgren, sugerem a impossibilidade de uma busca etimológica/histórica por um conceito "sem ambiguidade":
O termo sincretismo é frequentemente usado sem uma definição clara e precisa. Uma definição, no entanto, é uma empresa difícil, especialmente na área da pesquisa religiosa. Nem a etimologia nem a análise histórica do uso do termo parecem muito iluminadoras (1969, p.24)13 13 "The term syncretism is often used without a clear and unambiguous definition. Now, definition is often a difficult enterprise, and especially so in the area of religious research. Neither etymology, nor a historical analysis of the use of the term appears to be particularly illuminating." .
Esse tipo de afirmação pode tanto levar ao abandono total de um projeto de definição provisória como pode, por outro lado, tornar-se um desafio para o pesquisador. Ringgren afirma ao mesmo tempo tanto o "pertencimento" do sincretismo ao campo da religião quanto sua "precariedade", devida a seu sentido tão vago. O que parece desagradar os pesquisadores é que, de fato, como instrumento de interpretação o sincretismo perdeu sua adæquatio intellectus et rei, isto é, correspondência entre pensamento e objeto. Essa insatisfação acadêmica revela mais do que um simples desejo de definição; ela implica uma fé ou confiança na possibilidade de um discurso exato, assim como na possibilidade da coincidência entre signo e referente - em outras palavras, numa ideologia pré-saussureana, que se apoia num sistema de referências ao invés de um sistema de diferenças.
Numa perspectiva pós-saussureana, a própria história do sincretismo pode ilustrar algumas das ideias de Bakhtin sobre linguagem. Uma delas é que a linguagem está em permanente transformação; em outras palavras, a linguagem não pode ser congelada em nenhum estado, pois é recriada continuamente. Exatamente o que ocorreu com o termo sincretismo, que parece desafiar definições exatas e, a fim de se tornar útil a este trabalho, será objeto de uma definição provisória. No sentido bakhtiniano, o mero contato entre enunciados (assim como entre sujeitos) previne fechamentos semânticos. Nas palavras de Michael Holquist, "Um mundo dialógico é aquele em que nunca posso ir até o fim, e portanto me encontro mergulhado em constante interação com outros - e comigo mesmo. Em suma, o dialogismo é baseado na primazia do social [...]" (1990, p.39)14 14 "A dialogic world is one in which I can never have my own way completely, and therefore I find myself plunged into constant interaction with others - and with myself. In sum, dialogism is based on the primacy of the social [...]"
Nessa perspectiva, o sincretismo não pode ser destacado desse contexto social (histórico/político/cultural, etc.), desde que o próprio termo descreve uma forma de contato entre signos e discursos. Além disso, se posicionarmos o termo fora do âmbito da dialética e o aproximarmos do contexto do dialogismo, pode se tornar mais claro como o sincretismo previne um resultado sintético. A formulação "sincretismo dialético" pode ser considerada, portanto, um oximoro. O sincretismo não pertenceria ao reino das certezas pré-determinadas obtidas nas operações dialéticas, em que a confrontação de elementos levaria a resultados sintéticos que, por sua vez, se engajarão em outras confrontações. Em sua convincente tentativa de definição de sincretismo, Carsten Colpe faz uma cuidadosa distinção entre sincretismo e síntese, afirmando que
a reconciliação de culturas ou integração de culturas numa unidade maior são representadas mais adequadamente pelo termo síntese, que [...] é melhor entendido como um complexo de fenômenos sintéticos (1987, p.218)15 15 "[...] reconciliation of cultures or an integration of cultures into a higher unity are better represented by the term synthesis, which ... is to be understood as a complex of synthetic phenomena." .
É nesse sentido que as relações sincréticas podem ser mais bem explicadas com o dialogismo bakhtiniano do que com a dialética hegeliana. Pois a provável etimologia de sincretismo destaca o paradigma político de articulação e identidade, um paradigma em que os facciosos habitantes da ilha de Creta, ao invés de formarem um todo homogêneo, compõem uma frente heterogênea de comunidades distintas com relações alteradas entre si. Como tal, o alinhamento discursivo implícito no sincretismo permanece contingente às relações de poder e sujeito a mudanças de acordo com a especificidade histórica; os elementos unidos aí não têm nenhum "pertencimento necessário" a priori, assim como não possuem sentido de fixidez original tanto em suas identidades como em suas relações. Desse modo, o sincretismo designa a articulação como um modo politizado e (des)contínuo de devir. Essa articulação implica a coexistência "formal" dos componentes, cujas identidades precárias (isto é, parciais e não imparciais) são mutuamente modificadas em seu encontro; entretanto, suas diferenças não se dissolvem ou se ocultam nessa modificação, elas se reconstituem estrategicamente numa contínua guerra de posições. É o caldeirão onde nada se funde completamente, "The melting pot that never melts", segundo o poema cantado de Jon Hendricks16 16 É neste sentido que o sincretismo, como desenvolvido aqui, pode agir como instrumento para a crítica da lógica contraditória dos debates em torno do essencialismo. Geralmente a estrutura desses debates coloca a essencialidade como presença e, por conseguinte, a antiessencialidade como ausência, precipitando assim a noção de que se as diferenças não são fixas, elas se perdem ou desaparecem. . Como coloca Benitez-Rojo,
Um artefato sincrético não é uma síntese, mas um significante feito de diferenças. É que no cadinho de sociedades do mundo os processos sincréticos se realizam através de uma economia em cuja modalidade de troca o significante de lá - do Outro - é consumido ("lido") de acordo com códigos locais que já existem, isto é, códigos daqui (1992, p.21)17 17 "A syncretic artifact is not a synthesis, but rather a signifier made of differences. What happens is that, in the melting pot of societies that the world provides, syncretic processes realize themselves through an economy in whose modality of exchange the signifier of there - of the Other - is consumed ('read') according to local codes that are already in existence, that is, codes from here." .
Na medida em que o sincretismo articula fronteiras permeáveis entre seus elementos, a eficácia política e metodológica das relações restritas de contradição/complementaridade entre identidades assumidas como fixas (como por exemplo nos modelos dominantes de luta de classes, heterossexualidade e/ou dialética objetivista - que muitas vezes funcionam como plataformas para subordinações no social) podem ser radicalmente questionadas. É esse desafio relacional implícito que distingue dramaticamente o sincretismo da síntese e do hibridismo - um termo que tem sido usado como sinônimo de sincretismo em alguns dos trabalhos mais brilhantes de crítica cultural dos últimos anos, especialmente no mundo anglófono. Alguns desses trabalhos, especialmente aqueles que lidam com políticas de identidade, têm acionado o conceito de hibridismo no esforço de ressaltar a não-essencialidade de articulações compostas de práticas culturais. Nesses trabalhos, a celebração e a radicalização do híbrido tem servido para contestar noções essencialistas de identidade étnica e cultural, mas a bagagem ideológica com que o hibridismo vem equipado permanece sem exame ou crítica.
Ligado etimologicamente ao acasalamento de animais e à agricultura, por exemplo, o conceito de hibridismo pode pressupor (e geralmente pressupõe) a origem "pura" dos elementos - quer dizer, suas identidades fixas e essenciais - anterior à hibridização. Como uma das definições encontradas no Dicionário Aurélio esclarece, o híbrido é "originário do cruzamento de espécies diferentes", sejam animais ou vegetais18 18 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio, Nova Fronteira, 1975, p.722. . Arquetipicamente, os híbridos são caracterizados por sua esterilidade e desnatureza (como por exemplo a mula, que é o produto estéril do cruzamento do cavalo e do jumento). Daí o hibridismo não implicar a eliminação do essencialismo na "prole", no produto do cruzamento. O hibridismo pode também apenas deslocar esse essencialismo para os progenitores, que são assim classificados em categorias estáticas e homogêneas.
Além disso, essa referência a progenitores e prole acaba reforçando o essencialismo fundamental da diferença (de) sexual(idade), mesmo quando tenta chamar a atenção para a heterogeneidade de identidades étnicas e culturais19 19 Para uma crítica das representações essencialistas da diferença sexual, vide Butler (2003), e Straayer, (1990). . Nesse sentido, a ideia de hibridismo pode contribuir para a hegemonia da metáfora heterossexista que tem informado inúmeras teorias do natural e das relações materiais. A lógica específica implícita aqui, de que duas entidades contrastantes "se juntam" para produzir uma terceira, se mascara de universal e trans-histórica. Aproxima-se daquilo que Foucault chamou "a empobrecida lógica da contradição"20 20 "[...] the meagre logic of contradiction." , uma noção aristotélica que goza de proeminência especial desde o século XIX, e da qual ele encontra evidência nos "constrangimentos esterilizantes da dialética"21 21 "[...] sterilising constraints of the dialectic." (1980, p.143-144).
Efetivamente, tal lógica pode naturalizar não apenas conceituações dominantes e teleológicas de progresso e evolução (também pertinente a noções eugênicas de pureza étnica e cultural), como também naturaliza explicações totalizantes e redutivas de mecanismos de luta que privilegiam o conflito como condição de mudança. A predominância das teorias de desenvolvimento histórico e transformação social informadas por tal lógica sem dúvida participa na manutenção das atuais formas hierárquicas da subjetividade.22 22 Em termos de desenvolvimento histórico, refiro-me aqui a uma certa concepção de dialética que define uma operação de um sistema teleológico que fixa as identidades dos elementos a priori, ao reduzir suas relações a uma contradição; o telos serve assim para resolver aquela contradição, o que Laclau e Mouffe chamam de "astúcia da razão" (hegeliana) (1986, p.95). Em termos de transformação social me refiro, por exemplo, à distinção de Gramsci entre "guerra de manobras" (sempre privilegiada, talvez devido ao medo da "recuperação") e "guerra de posições" na teorização da luta. Nessa perspectiva, a guerra de manobras reduz a luta à contradição e almeja uma vitória espetacular (inda que temporária) sobre a opressão; a guerra de posições inclui uma abordagem mais completa e estratégica (se não totalmente negadora) da luta. Vide Gramsci (1978).
Assim, mesmo sem rejeitar o conflito como forma de luta, quero questionar seu privilegiado status epistemológico no regime de verdade atualmente dominante. Sugiro que as relações de poder implícitas no sincretismo excedem lógicas autotélicas de contradição e síntese, e desafiam a hegemonia desfrutada por tais heterológicas. De fato, considerando as posicion(alidades) subjetivas ocupadas pelos praticantes (sub)culturais do sincretismo, e aquelas que eles abraçam (e criticam, mas não simplesmente contradizem) ao percorrer sexualidades, gêneros, raças e classes em articulação, sentimos a demanda por entendimentos mais sutis dos processos e estratégias de resistência. Daí a importância do sincretismo para o projeto de se pensar a luta.
Sincretismo e religião
Apesar de o sincretismo não se aplicar exclusivamente a fenômenos religiosos, como descrito acima, sua utilização nesse campo permanece muito viva. Assim, pode ser útil examinar essa aplicação, a fim de traçarmos uma trajetória do termo.
É o que ocorre, por exemplo, com o discurso oficial da Igreja Católica que, no Brasil, é hegemônica entre as muitas instituições religiosas. O catolicismo manteve seu status de religião oficial durante o Império; sua posicionalidade diante do supostamente estado laico estabelecido em 1889 tem sido decididamente ambígua. Entretanto, mesmo com a proliferação de seitas evangélicas neopentecostais nos últimos anos, é a Igreja Católica que ainda ocupa o espaço privilegiado no discurso oficial. É graças a essa hegemonia que os edifícios públicos no Brasil invariavelmente ostentam emblemas católicos - mas nenhum emblema de outras religiões.
A interpretação que a Igreja Católica faz dos fenômenos sincréticos é, efetivamente, um sinal da apropriação (claramente tendenciosa) que o termo sofreu nos últimos séculos. A Igreja Católica, hoje, dificilmente se reconheceria sincrética. De fato, o discurso eclesiástico tem enfatizado, nos últimos quinze séculos, o papel fundacional "original" da igreja. Esse processo de construção de imagem aplica à instituição a estatura de "todo original", muito longe de uma articulação ou montagem "composta" ou "híbrida", como sugerem as combinações sincréticas. A política católica para os sincretismos revela um ponto importante: o sincrético é visto como "impuro" (o que o aproxima do "híbrido"), uma característica que pertenceria ao outro demonizado, aquele que não é capaz de ostentar ou manter sua pureza essencial. Nesse sentido, não é suficiente estabelecer a hegemonia; a demonização é parte de uma operação ideológica que assegura estruturas de poder ameaçadas pela incerteza do outro. Como escreve a antropóloga Mary Douglas, essa é uma tendência que procura fazer
da existência uma forma lapidar imutável. A pureza é a inimiga da mudança, da ambiguidade e da negociação. A maioria de nós se sentiria mais segura se nossa experiência pudesse ser congelada e fixada na forma (1988, p.162)23 23 "[...] existence into an unchanging lapidary form. Purity is the enemy of change, of ambiguity and compromise. Most of us indeed would feel safer if our experience could be hard-set and fixed in form." .
A capacidade de decidir sobre a pureza e a autenticidade - algo que no mundo europeizado, pelo menos, seria por longo tempo uma prerrogativa da Igreja Católica e seria reafirmada pelas práticas científicas que equiparam o colonialismo com discursos sobre o Outro. Essa tendência, que seria reforçada pelo Iluminismo e pelo Positivismo, continua viva em nossos dias a despeito das intensas transformações teóricas e ideológicas em trabalhos antropológicos (e teológicos). A persistência dessa tendência é evidenciada na atual definição de sincretismo no Webster's Dictionary: "problema flagrante na religião e na filosofia; ecletismo que é ilógico ou leva à inconsistência; aceitação acrítica"24 24 "[...] flagrant compromise in religion or philosophy; eclecticism that is illogical or leads to inconsistency; uncritical acceptance." Webster's Third New International Dictionary, p.2319. . Para a ciência eurocêntrica, as práticas articulatórias dos povos subalternos foram vistas como atos ilegítimos e contraditórios, enquanto sua história oral foi considerada suspeita quando comparada com a história escrita do colonizador. O dicionário mais popular no Brasil, o Novo Dicionário Aurélio, também segue essa tendência e define o sincretismo como "reunião artificial de ideias ou de teses de origens disparatadas"; "visão de conjunto, confusa, de uma totalidade complexa"25 25 O Dicionário Aurélio também fornece a seguinte definição, que difere das alternativas do Webster's Dictionary: "amálgama de doutrinas ou concepções heterogêneas" e "fusão de elementos culturais diferentes, ou até antagônicos, em um só elemento, continuando perceptíveis alguns sinais originários" (p.1304). Outros dicionários, como o Aulete, o Houaiss e o Michaelis também definem sincretismo com palavras como "amálgama" e "fusão". .
Entretanto, em aparente contradição com a política oficial da igreja, missionários católicos têm frequentemente recorrido a práticas sincréticas para enfrentar problemas de catequese. Foi o que aconteceu na própria Europa, em que o cristianismo popular - herdeiro de práticas pagãs - foi (e ainda é) mais ou menos tolerado pela igreja. As práticas sincréticas nas Américas, por exemplo (muitas vezes estimuladas pela igreja), tiveram início já no século XVI e ocorreriam no trabalho dos jesuítas junto aos povos guaranis, como o demonstrou Clovis Lugon, em A república comunista cristã dos guaranis. (1968)
O discurso oficial da Igreja Católica, entretanto, somente admitiria o sincretismo - e ainda assim relutantemente - no século XX, após o concílio Vaticano II liderado por João XXIII. Essa mudança permitiu que a igreja incorporasse oficialmente estratégias missionárias que demandavam a renegociação do catecismo canônico. Isso aconteceu nas comunidades periféricas (isto é, não-européias ou não-europeizadas) que haviam permanecido resistentes à conversão, apesar de quatro séculos de trabalho missionário. Assim mesmo, a igreja pratica uma seleção das práticas sincréticas; ela tem de assegurar sua hegemonia num processo complexo que combina evangelização forçada, aculturação, assimilação e provoca, em última instância, resistência inevitável.
Ao comentar as conclusões do concílio de Puebla (1984), o acadêmico católico Manuel Marzal tranquiliza seus leitores, pois apesar do sincretismo da práxis o que permanece é um "substrato católico real". Marzal afirma ainda que
Esta devoção católica do povo da América Latina não se enraizou o bastante nem conseguiu catequizar alguns grupos autóctones e negros. Por seu lado, estes grupos possuem uma riqueza de valores e guardam as "sementes do Verbo" à espera da Palavra viva (1985, p.450)26 26 "Esta piedad popular católica en America Latina no ha llegado a impregnar adecuadamente o aún no ha logrado la evangelización de algunos grupos culturales autoctonos o de origen negro, que por su parte poseen riquísimos valores y guardan 'semillas del Verbo' en espera de la Palavra viva." .
Em outras palavras, os povos que resistem à cristianização continuam sendo cristãos em potencial, pois possuem a (latente) "semente do Verbo", esperando ser fecundados pela "Palavra viva". O sincretismo é, portanto, uma transição temporária em direção à síntese que assegurará a hegemonia católica.
É por isso que certas práticas são monitoradas cuidadosamente por representantes da igreja, que desenvolveram o que o antropólogo Hugo Nutini denomina "sincretismo orientado", um termo que pode ser lido como um oximoro se levarmos em conta as motivações que tornam o sincretismo possível no contexto de uma guerra de posições gramsciana - isto é, a própria iniciativa das partes envolvidas em alinhamento. Em sua descrição do culto dos mortos em Tlaxcala, no México, Nutini lista os elementos que foram deliberadamente introduzidos na comunidade pela igreja desde o século XVI, assim como os elementos que sobreviveram dos tempos pré-hispânicos, alinhando cada grupo sob as categorias "sincretismo orientado" e "sincretismo espontâneo". O pesquisador reconhece as relações de poder entre os dois tipos de sincretismo, mas afirma que
O sincretismo orientado pode ser visto como condição necessária para a emergência de uma síntese final [...] enquanto o sincretismo espontâneo é um desenvolvimento subsidiário, que ocorre em instituições ou áreas que estão situadas na margem, tanto quanto ao que se refere a um dado conjunto sociorreligioso quanto à própria matriz sincrética, e cujas sínteses geralmente se fundem depois do impulso inicial, orientado (1988, p.408)27 27 "Guided syncretism may be regarded as a necessary condition for the emergence of a final synthesis ... while spontaneous syncretism is a subsidiary development, which takes place in institutions or domains that are marginally situated, both with respect to a given socioreligious ensemble and in relation to the syncretic matrix itself, and whose syntheses usually coalesce after that of the main guided thrust." .
Esse comentário desenha um movimento vertical que tende a superestimar a ação de instituições como a Igreja Católica (um fator externo) na criação de sincretismos, deixando pouco espaço para a contribuição e a iniciativa dos grupos sociais (levados por fatores internos) que confrontam culturas invasoras. É como se a instituição europeia tivesse poder suficiente para permitir (ou não) a quantidade de sincretismo que será colocado em prática. Assim, uma omissão importante desse ponto de vista é a quantidade de sincretismo que o grupo local decide incorporar. Em outras palavras: qual é a identificação do grupo local ante às práticas cristãs que não eliminarão de uma vez sua identidade cultural?
Outro ponto importante no discurso de Nutini é o da "síntese final". Como já notei, muitos escritores (é o caso de Nutini) situam o sincretismo como um passo teleológico que levaria necessariamente a algum tipo de síntese. Essa concepção de sincretismo só pode ser entendida à luz da hegemonia mantida pela dialética no pensamento europeu (ou europeizado) dos últimos séculos.
Estamos muito longe, aqui, da ideia horizontal das relações sincréticas e dialógicas que o exemplo cretense parece sugerir.
O trabalho etnográfico desenvolvido no Brasil lidou muitas vezes com essa problemática. O uso do sincretismo em trabalhos etnográficos no Brasil seguiu basicamente os padrões ideológicos propostos pelo discurso do colonialismo europeu, mantendo o foco sobre as práticas religiosas como objeto privilegiado.
Até recentemente os fenômenos sincréticos eram vistos como sinais de subdesenvolvimento e primitivismo. Essa posição foi compartilhada pelo estado (que reprimiu com regularidade as práticas religiosas afro-brasileiras), por organizações políticas, sistema educacional e meios de comunicação. Ela foi expressa, também, nas obras de autores influentes como Nina Rodrigues, Edison Carneiro e Arthur Ramos, que trataram das práticas religiosas afro-brasileiras.
Mas as obras de Roger Bastide, Pierre Verger e de Gilberto Freyre trariam novas luzes a essa questão. Especialmente interessante nesta discussão é o livro de Bastide, Estudos afro-brasileiros, publicado pela primeira vez em 1946, em que o uso do termo sincretismo objetiva determinar um "grau de congelamento", que poderia ser identificado como a conclusão de uma linha de desenvolvimento. Ele faz confluir as duas ideias: ao escrever sobre rituais religiosos, Bastide não retrata as práticas sincréticas como um passo em direção à síntese, mas antes equipara o sincretismo à síntese. No entanto, seu trabalho tem de ser contextualizado numa linha de pensamento que tentava definir e delimitar as práticas culturais a fim de fazer da cultura brasileira um objeto apreensível e estável. Uma tarefa dificílima, se levarmos em consideração as formas extremamente variáveis que podem ser agrupadas sob a categoria das "práticas religiosas afro-brasileiras". Entretanto, é a própria variabilidade dessas práticas que pode nos revelar muito do caráter da "cultura brasileira" como um todo.
Nesse sentido, o discurso etnográfico produzido sobre o Brasil é especialmente importante para este trabalho, pois foi esse discurso que ajudou a definir o que é entendido hoje pelas formas dialógicas e sincréticas das práticas culturais brasileiras. Ele influenciou fortemente a literatura, o teatro e o cinema, que muitas vezes se depararam com a tarefa de definir a "cultura brasileira", já que essa problemática está no cerne de uma série de tensões paradigmáticas que informaram, historicamente, práticas políticas e artísticas no país.
Além disso, nas últimas três décadas tornou-se impossível, em qualquer discurso a respeito da cultura brasileira, ignorar a presença dessas práticas em todas as regiões, grupos sociais e etnicidades no país. Antes desprezadas ou diminuídas enquanto força social, elas são hoje especialmente valorizadas como expressões autênticas da cultura brasileira. Hoje essas práticas são levadas em conta nas pesquisas eleitorais, de mercado e de programação de rádio e televisão. E de maneira semelhante ao que vem acontecendo em outras partes do mundo europeizado, no Brasil de hoje os fenômenos sincréticos tendem a ser celebrados afirmativamente.
Subterrâneo epistemológico
Do ponto de vista da etnografia, o "encontro" sincrético das divindades africanas com os santos católicos foi muitas vezes interpretado como um subterfúgio para escapar da perseguição policial sofrida pelas comunidades, que ocorreu durante o período colonial e se estendeu com grande intensidade até as primeiras décadas do século XX. Em outras palavras, os negros teriam começado a adorar os santos católicos a fim de acobertar suas próprias divindades. Assoladas tanto por puristas religiosos cristãos como africanos, estas práticas sincréticas ainda são frequentemente consideradas como manifestações de confusão e ignorância.
Uma definição diferente de sincretismo, no entanto, pode jogar uma outra luz sobre os mesmos fenômenos. A própria etimologia de sincretismo sugere o realinhamento de forças que, da perspectiva do oprimido, aponta para a alteração do equilíbrio hegemônico. Ainda nessa perspectiva, a elaboração dos sincretismos pode ser revista de acordo com outro paradigma: ao invés de interpretar o alinhamento das entidades religiosas como resultado da perseguição, esse alinhamento pode ser entendido como a produção de conhecimentos específicos, que por sua vez resultam de um enfrentamento cultural num contexto de relações de poder. Efetivamente, o suposto "disfarce" das entidades religiosas parece seguir certas regras que sugerem mais do que simples coincidência. De outro modo, como seria possível entender as afinidades simbólicas que ocorrem entre entidades tão distantes como a Oxum da Nigéria iorubá, a deusa taino Atabey de Cuba e a Nossa Senhora trazida da Espanha pelos colonizadores e (re)conhecida pelos escravizados africanos e ameríndios? Essas afinidades podem ser rastreadas ao nível das narrativas que acompanham as três divindades; elas também podem ser reconhecidas ao nível de sua apresentação icônica. Essas afinidades, com efeito, se tornaram um laço tão forte que essa entidade complexa se tornou a p(m)adroeira de Cuba, La Virgen de la Caridad del Cobre, um símbolo fortemente enraizado em práticas culturais populares e jamais combatido pelo estado que se estabeleceu na ilha em 1959. Sua representação pode ser vista em imagens que a virgem paira, articuladora, sobre um barco à deriva, que contém três personagens: um branco, um indígena e um negro, sugerindo assim a formação de uma identidade cubana multirracial.28 28 Para um brilhante relato deste sincretismo, vide Benitez-Rojo, p.12-16. Assim como no culto a Iemanjá no Brasil, em que se superpõem divindades de origens distintas (Ameríndia, Africana, Eurasiana), essas entidades entabulam um diálogo contínuo, em antagonismo (não em oposição), que permite o reconhecimento dessas origens.
O enfrentamento dialógico que produz tais sincretismos também pode ser entendido - de acordo com o modelo clássico sugerido pela etimologia - como um encontro de grupos sob a mesma opressão. Não seria possível igualar o sofrimento imposto sobre a população africana das Américas com o sofrimento dos camponeses europeus que foram forçados a imigrar da Europa em busca de uma vida melhor. Mas estes camponeses, por sua vez, também trouxeram um conjunto de crenças e práticas religiosas que sofreram a perseguição da Igreja Católica oficial. O catolicismo popular do campesinato europeu, de caráter francamente politeísta - e muitas vezes acompanhado por cultos de possessão29 29 É o caso, por exemplo, da sobrevivência dos cultos da Tarantella, na Sicília, em que as mulheres se deixam picar por tarântulas (geralmente inseridas na vagina) para então cair em transe, dançar e prognosticar. Essas cerimônias são algumas vezes realizadas nas sacristias das igrejas católicas. A tarantella é mais conhecida por sua face secular, como uma colorida dança folclórica que não revela as antigas tradições que a geraram. -foi objeto da mais completa oposição por parte da igreja desde o início da Idade Média. A cassação de santos ocorrida nas últimas décadas (caso de São Jorge, que foi declarado historicamente improvável e não teria mais igrejas dedicadas em seu nome)30 30 D. Paulo Evaristo Arns, arcebispo emérito de São Paulo, revela que pediu ao papa Paulo VI que São Jorge - padroeiro do Corinthians e da Inglaterra - não tivesse seu título cassado em um reordenamento do calendário oficial da liturgia: "Santo Padre, nosso povo não está entendendo direito a questão. São Jorge é muito popular no Brasil, sobretudo entre a imensa torcida do Corinthians, o clube de futebol mais popular de São Paulo". Paulo VI parece ter entendido o problema: "Não podemos prejudicar nem a Inglaterra nem o Corinthians". D. Paulo mantém guardado o bilhete do pontífice. Corintiano, graças a Deus. São Paulo: Planeta do Brasil, 2004, p.99. é apenas um sinal de que essa oposição continua. Apesar disso, o culto a esses santos sobrevive. Foi exatamente esse campesinato devoto que formou a maioria esmagadora dos imigrantes europeus que vieram a países como o Brasil durante o período colonial e após a independência.
O processo de reconhecimento e alinhamento sincréticos que teve lugar nas Américas pode ser visto como parte do que Clyde Taylor apropriadamente denomina "subterrâneo epistemológico"31 31 "Epistemological underground" no original. , isto é, uma corrente em que conhecimentos oposicionais, dispersados num campo em que o efeito de dominação os separa e subordina em modos historicamente específicos e contínuos, conseguem encontrar conexões estruturantes e desafiar a hegemonia. É justamente essa corrente que possibilita a comunicação de subjetividades subalternas, conectando mulheres, grupos étnicos e minorias que, caso contrário, seriam segregadas em vasos incomunicantes (1989, p.102).
O abjurado São Jorge pode fornecer um exemplo dessas conexões. Seria apenas um ícone cristão para encobrir uma divindade africana ilegalizada pelas autoridades coloniais? O que importa, aqui, não é a mera substituição da divindade "Ogum" (Oeste-africano? Iorubá? Fon?) por "São Jorge" (Europeu? Anatólio? Cirenaico? Palestino? Capadócio?). O que importa é que eles podem ser apreendidos como a articulação de uma entidade de duas faces reconhecidas sob opressão e que (re)estabelecem um elo numa corrente de significantes. Esta corrente de diálogos - é importante assinalar - não tem "início" precisamente na "África" ou no "Oriente Médio", nem tem um fim previsível. As transformações sincréticas por que essas entidades passam (enquanto são "consumidas" ou "lidas"), poderão variar, sempre de acordo com os contextos que as invocam. Além disso, os adeptos dos cultos religiosos sincréticos divergem radicalmente da etnografia tradicional quando se referem às várias fontes que informam suas próprias cosmogonias e práticas. Para muitos afro-brasileiros (por definição identitária étnica ou cultural), esse processo teria começado com a própria diáspora.
É, portanto, nesse subterrâneo epistemológico que o sincretismo pode ocorrer com a força que sua etimologia sugere. O sincretismo só pode ser entendido como um conceito que passou por transformações num processo histórico e, nesse sentido, em contextos de relações de mobilidade e poder. Para sabermos se ainda tem alguma utilidade (e quiçá alguma precisão) na crítica das práticas culturais, será necessário levar em conta sua etimologia e toda a carga semântica que traz em sua história. Entendido como um processo dialógico, esse conceito pode recuperar sua riqueza como instrumento de análise.
-
1
"Bem-vindo ao caldeirão que nunca mistura / Onde os políticos prosperam enquanto nosso cinto aperta / E eles falam de amor fraterno / Mas quando a coisa pega é o fraterno que se dana". HENDRICKS, Jon e MORENO, Joyce Taxi Driver. In: MORENO, J. Línguas e Amores, CD 849 346-2. Rio de Janeiro: Verve-Polygram, 1991.
-
2
No original, "...what gives dialogue its central place in dialogism is precisely the kind of relation conversations manifest." As traduções das citações originais em inglês, francês e espanhol deste ensaio foram feitas por mim.
-
3
"[...] refers in the broadest sense to the infinite and open-ended possibilities generated by all the discursive practices ... the matrix of communicative utterances that "reach" the text not only through recognizable citations but also through a subtle process of dissemination."
-
4
"[...] dialogue and monologue (cannot) be seen as in absolute opposition, since a monologue can also be dialogic, given the fact that every utterance, including the solitary utterance, has it "others" and exists against the backdrop of other utterances."
-
5
"[...] the conditions that must be met if any exchange [...] is to occur at all."
-
6
"[...] a continually shifting, mediated relation between groups and classes, a structured field and set of lived relations in which complex ideological formations composed of elements derived from diverse sources have to be actively combined, dismantled, bricolaged, so that new politically effective alliances can be secured between different fractional groupings which can themselves no longer be returned to static, homogeneous classes."
-
7
Escolhi "pertencimento" como tradução de "belongingness". Texto original: "An articulation is [...] the form of the connection that can make a unity of two different elements under certain conditions. It is a linkage which is not necessary, determined, absolute and essential for all time. You have to ask, under what circumstances can a connection be forged or made? So the so-called "unity" of a discourse is really the articulation of different distinct elements which can be articulation of different ways because they have no necessary 'belongingness.'"
-
8
O romance é, apesar da riqueza de suas possibilidades de interação discursiva, um meio de apenas um canal - como coloca Robert Stam em Subversive Pleasures (1989, p.202). No cinema, que é basicamente um meio de muitos canais, os discursos podem surgir dos diversos elementos que compõem a narrativa, como, por exemplo, diferentes elementos visuais num simples plano cinematográfico. As relações entre os planos subsequentes podem também ser lidas como diálogos. (Um plano pode ser definido como a extensão de uma imagem projetada delimitada por dois cortes, um que o precede, outro que o sucede. Trata-se de momentos definidos no ato da montagem).
-
9
"[...] the either/or issue of dialectics."
-
10
O pensamento marxista pode ter sofrido aquilo que Ernesto Laclau diagnostica, ao comentar a derrocada do leninismo: "Quanto mais universal a ideia a ser incorporada, maior será a distância das limitações históricas e dos agentes sociais que pretendem defendê-la"; no original, "The more 'universal' the idea to be embodied is, the greater the distance from the historical limitations and the social agents intended as its bearers will be." (LACLAU, 1990_______. New Reflections on the Revolution of Our TimeLondon: Verso: 1990., p.xi).
-
11
"[...] was probably based on sugkretos (Ionian form of sugkratos, 'mixed together') and was explained by popular etymology or by Plutarch himself as referring to the behavior of the Cretans who, despite the discord habitual among them, closed ranks when an external enemy attacked them."
-
12
"Le phénomène de hellénisation du christianisme s'inscrit dans ce contexte global de syncrétisme, qui se manifeste a tous les niveaux d'expression (institutionelle, juridique et politique, religieuse et morale, etc...) du mental collectif de cette période."
-
13
"The term syncretism is often used without a clear and unambiguous definition. Now, definition is often a difficult enterprise, and especially so in the area of religious research. Neither etymology, nor a historical analysis of the use of the term appears to be particularly illuminating."
-
14
"A dialogic world is one in which I can never have my own way completely, and therefore I find myself plunged into constant interaction with others - and with myself. In sum, dialogism is based on the primacy of the social [...]"
-
15
"[...] reconciliation of cultures or an integration of cultures into a higher unity are better represented by the term synthesis, which ... is to be understood as a complex of synthetic phenomena."
-
16
É neste sentido que o sincretismo, como desenvolvido aqui, pode agir como instrumento para a crítica da lógica contraditória dos debates em torno do essencialismo. Geralmente a estrutura desses debates coloca a essencialidade como presença e, por conseguinte, a antiessencialidade como ausência, precipitando assim a noção de que se as diferenças não são fixas, elas se perdem ou desaparecem.
-
17
"A syncretic artifact is not a synthesis, but rather a signifier made of differences. What happens is that, in the melting pot of societies that the world provides, syncretic processes realize themselves through an economy in whose modality of exchange the signifier of there - of the Other - is consumed ('read') according to local codes that are already in existence, that is, codes from here."
-
18
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio, Nova Fronteira, 1975, p.722.
-
19
Para uma crítica das representações essencialistas da diferença sexual, vide Butler (2003)BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Editora Civilização. Brasileira, 2003., e Straayer, (1990)STRAAYER, C. The She-Man: Postmodern Bi-Sexed Performance in Film and Video, Screen 31.3 (1990)..
-
20
"[...] the meagre logic of contradiction."
-
21
"[...] sterilising constraints of the dialectic."
-
22
Em termos de desenvolvimento histórico, refiro-me aqui a uma certa concepção de dialética que define uma operação de um sistema teleológico que fixa as identidades dos elementos a priori, ao reduzir suas relações a uma contradição; o telos serve assim para resolver aquela contradição, o que Laclau e Mouffe chamam de "astúcia da razão" (hegeliana) (1986, p.95). Em termos de transformação social me refiro, por exemplo, à distinção de Gramsci entre "guerra de manobras" (sempre privilegiada, talvez devido ao medo da "recuperação") e "guerra de posições" na teorização da luta. Nessa perspectiva, a guerra de manobras reduz a luta à contradição e almeja uma vitória espetacular (inda que temporária) sobre a opressão; a guerra de posições inclui uma abordagem mais completa e estratégica (se não totalmente negadora) da luta. Vide Gramsci (1978)GRAMSCI, A. Cartas do cárcere. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio: Civilização Brasileira, 1978..
-
23
"[...] existence into an unchanging lapidary form. Purity is the enemy of change, of ambiguity and compromise. Most of us indeed would feel safer if our experience could be hard-set and fixed in form."
-
24
"[...] flagrant compromise in religion or philosophy; eclecticism that is illogical or leads to inconsistency; uncritical acceptance." Webster's Third New International Dictionary, p.2319.
-
25
O Dicionário Aurélio também fornece a seguinte definição, que difere das alternativas do Webster's Dictionary: "amálgama de doutrinas ou concepções heterogêneas" e "fusão de elementos culturais diferentes, ou até antagônicos, em um só elemento, continuando perceptíveis alguns sinais originários" (p.1304). Outros dicionários, como o Aulete, o Houaiss e o Michaelis também definem sincretismo com palavras como "amálgama" e "fusão".
-
26
"Esta piedad popular católica en America Latina no ha llegado a impregnar adecuadamente o aún no ha logrado la evangelización de algunos grupos culturales autoctonos o de origen negro, que por su parte poseen riquísimos valores y guardan 'semillas del Verbo' en espera de la Palavra viva."
-
27
"Guided syncretism may be regarded as a necessary condition for the emergence of a final synthesis ... while spontaneous syncretism is a subsidiary development, which takes place in institutions or domains that are marginally situated, both with respect to a given socioreligious ensemble and in relation to the syncretic matrix itself, and whose syntheses usually coalesce after that of the main guided thrust."
-
28
Para um brilhante relato deste sincretismo, vide Benitez-Rojo, p.12-16.
-
29
É o caso, por exemplo, da sobrevivência dos cultos da Tarantella, na Sicília, em que as mulheres se deixam picar por tarântulas (geralmente inseridas na vagina) para então cair em transe, dançar e prognosticar. Essas cerimônias são algumas vezes realizadas nas sacristias das igrejas católicas. A tarantella é mais conhecida por sua face secular, como uma colorida dança folclórica que não revela as antigas tradições que a geraram.
-
30
D. Paulo Evaristo Arns, arcebispo emérito de São Paulo, revela que pediu ao papa Paulo VI que São Jorge - padroeiro do Corinthians e da Inglaterra - não tivesse seu título cassado em um reordenamento do calendário oficial da liturgia: "Santo Padre, nosso povo não está entendendo direito a questão. São Jorge é muito popular no Brasil, sobretudo entre a imensa torcida do Corinthians, o clube de futebol mais popular de São Paulo". Paulo VI parece ter entendido o problema: "Não podemos prejudicar nem a Inglaterra nem o Corinthians". D. Paulo mantém guardado o bilhete do pontífice. Corintiano, graças a Deus. São Paulo: Planeta do Brasil, 2004, p.99.
-
31
"Epistemological underground" no original.
REFERÊNCIAS
- ARNS, P Corintiano, graças a DeusSão Paulo: Planeta do Brasil, 2004.
- FERREIRA, A. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975.
- BAKHTIN, M. O discurso no romance. In: Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. Trad. Aurora Fornoni Bernardini et al. 3ed. São Paulo: Editora Unesp/Hucitec, 1993.
- BASTIDE, R. Estudos afro-brasileirosTradJorge Hajime Oseki. São Paulo: Perspectiva, 1983.
- BECQUER, M.; GATTI, J. "Elementos do Vogue", in Imagens no. 4, Editora da Unicamp, abril de 1995.
- BENITEZ-ROJO, A. The Repeating Island Durham: Duke University Press, 1992.
- BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Editora Civilização. Brasileira, 2003.
- COLPE, C. Syncretism, in Eliade, Mircea (Org.). The Encyclopedia of Religion New York: Macmillan, 1987.
- DOUGLAS, M. Purity and Danger. London: Ark, 1988.
- FOUCAULT, M. Power and Strategies. GORDON, C. (Ed). Power/Knowledge, Nova York: Pantheon, l980.
- GRAMSCI, A. Cartas do cárcere. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio: Civilização Brasileira, 1978.
- GROSSBERG, L. On Postmodernism and Articulation: An Interview with Stuart HallJournal of Communication Inquiry, Summer 1986, Urbana: University of Illinois Press.
- HEBDIGE, D. Hiding in the Light. London: Psychology Press, 1988.
- HOLQUIST, M. Dialogism: Bakhtin and his World. London: Routledge, 1990 (2002).
- LACLAU, E.; MOUFFE, C. Hegemony and Socialist Strategy. London: Verso, 1986.
- _______. New Reflections on the Revolution of Our TimeLondon: Verso: 1990.
- LUGON, C. A república comunista cristã dos guaranis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968.
- MARZAL, M. M. El sincretismo iberoamericano, Lima: Pontifícia Universidad Catolica del Peru, 1985.
- MEYER, M. Maria Padilha e toda sua quadrilha. São Paulo: Livraria Duas Cidades/ EBC Nordeste, 1993.
- NOUAILHAT, R. Remarques methodologiques, in Les syncretismes dans les religions de l'antiquité: colloque de BesançonLeiden: E. J. Brill, 1975.
- NUTINI, H. G. Todos Santos in Rural Tlaxcala. Princeton: Princeton University Press, 1988.
- RINGGREN, H. The Problems of Syncretism in Syncretism: Symposium on Cultural Contact, Meeting of ReligionsStockholm: Almqvist & Wiskell, 1969.
- STAM, R. Subversive Pleasures. Baltimore: The Johns Hopkins University Presss, 1989.
- SODRÉ, M. O terreiro e a cidade. Petrópolis: Vozes,1988.
- STRAAYER, C. The She-Man: Postmodern Bi-Sexed Performance in Film and Video, Screen 31.3 (1990).
- TAYLOR, C. Black Cinema in the Post-aesthetic Era, PINES, J. and WILLEMEN, P. (Eds.), Questions of Third Cinema, London: BFI, 1989.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Sep-Dec 2016
Histórico
-
Recebido
01 Out 2015 -
Aceito
17 Mar 2016