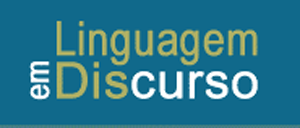Resumos
Neste artigo, analisamos a propaganda institucional videográfica da Caixa Econômica Federal de homenagem ao Dia Internacional da Mulher, veiculada no ano de 2010. Com base nos pressupostos da Análise Crítica do Discurso (ACD) em suas relações profícuas com algumas noções da Análise de Discurso dita francesa e com a gramática do design visual, buscamos demonstrar a sustentação de uma identidade marginalizada da mulher brasileira nessa materialidade a partir do que chamamos de 'estados paradoxais das ordens do ver e do dizer'. Considerando a relação direta entre a materialidade textual, em sua composição multimodal, e as relações sociais que dela derivam, apontamos a contradição entre homenagear, no nível verbal, e homenagear, no nível imagético. A inflexão da materialidade sobre os sentidos denuncia a permanência, ainda que latente, das determinações sociais sobre as práticas linguísticas configuradoras da identidade da mulher brasileira.
Propaganda institucional; Análise Crítica; Determinações sociais; Identidade feminina; Contradição
En ese artículo analizamos la propaganda institucional videográfica del Banco Caixa Econômica Federal de homenaje al Día Internacional de la Mujer, vehiculada en año 2010. Con base en presupuestos del Análisis Crítico del Discurso (ACD) en sus relaciones proficuas con algunas nociones del Análisis del Discurso dicha francesa y con gramática del design visual, hemos buscado demostrar la sustentación de una identidad marginalizada de la mujer brasileña en esa materialidad, a partir do que llamamos de 'estados paradojales de las órdenes de ver y de decir'. Considerando la relación directa entre la materialidad textual en su composición multimodal, y las relaciones sociales que de ella derivan, apuntamos la contradicción entre homenajear en el nivel verbal, y homenajear en el nivel imaginativo. La inflexión de materialidad sobre los sentidos denuncia la permanencia, todavía latente, de determinaciones sociales sobre prácticas lingüísticas configuradoras de la identidad de la mujer brasileña.
Propaganda institucional; Análisis Crítico; Determinaciones sociales; Identidad femenina; Contradicción
In this article, we analyze the institutional advertisement of Caixa Econômica Federal in tribute to the International Women's Day, aired during 2010. Based on fundamentals of Critical Discourse Analysis (CDA) in dialogue with some notions of the so-called "French" Discourse Analysis as well as with the studies of the grammar of visual design, we aim to demonstrate the perpetuation in this materiality of a marginalized identity for the Brazilian woman, based on what we call 'paradoxical states of orders of seeing and saying'. Considering the direct relation between textual materiality, in its multimodal composition, and the social relations from which it derives, we point out the contradiction of paying tribute, in the verbal level, and paying tribute, in the imagistic level. The inflection of materiality over the meanings reveals the permanence, even if latent, of social determinations over language practices from and in which Brazilian woman's identity is constructed.
Institutional advertising; Critical analysis; Social determinations; Women's identity; Contradictions
ARTIGOS DE PESQUISA RESEARCH ARTICLES
Estados paradojales de las órdenes de ver y de decir: la identidad de la mujer brasileña en una propaganda institucional de homenaje al día internacional de la mujer
Jefferson Gustavo dos Santos CamposI; Dulce Elena Coelho BarrosII
IUniversidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná, Brasil. Doutorando no Programa de Pós-graduação em Letras da UEM. Pesquisador no Grupo de Estudos em Análise do Discurso. Email: jeffersoncampos@geduem.com.br / jeffersongustavocampos@gmail.com
IIUniversidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná, Brasil. Doutora em Linguística. Professora Adjunta no Departamento de Teorias Linguísticas e Literárias. Colaboradora no Programa de Pós-graduação em Letras da UEM. Email: dcbarros@uem.br
RESUMO
Neste artigo, analisamos a propaganda institucional videográfica da Caixa Econômica Federal de homenagem ao Dia Internacional da Mulher, veiculada no ano de 2010. Com base nos pressupostos da Análise Crítica do Discurso (ACD) em suas relações profícuas com algumas noções da Análise de Discurso dita francesa e com a gramática do design visual, buscamos demonstrar a sustentação de uma identidade marginalizada da mulher brasileira nessa materialidade a partir do que chamamos de 'estados paradoxais das ordens do ver e do dizer'. Considerando a relação direta entre a materialidade textual, em sua composição multimodal, e as relações sociais que dela derivam, apontamos a contradição entre homenagear, no nível verbal, e homenagear, no nível imagético. A inflexão da materialidade sobre os sentidos denuncia a permanência, ainda que latente, das determinações sociais sobre as práticas linguísticas configuradoras da identidade da mulher brasileira.
Palavras-chave: Propaganda institucional. Análise Crítica. Determinações sociais. Identidade feminina. Contradição.
ABSTRACT
In this article, we analyze the institutional advertisement of Caixa Econômica Federal in tribute to the International Women's Day, aired during 2010. Based on fundamentals of Critical Discourse Analysis (CDA) in dialogue with some notions of the so-called "French" Discourse Analysis as well as with the studies of the grammar of visual design, we aim to demonstrate the perpetuation in this materiality of a marginalized identity for the Brazilian woman, based on what we call 'paradoxical states of orders of seeing and saying'. Considering the direct relation between textual materiality, in its multimodal composition, and the social relations from which it derives, we point out the contradiction of paying tribute, in the verbal level, and paying tribute, in the imagistic level. The inflection of materiality over the meanings reveals the permanence, even if latent, of social determinations over language practices from and in which Brazilian woman's identity is constructed.
Keywords: Institutional advertising. Critical analysis. Social determinations. Women's identity. Contradictions.
RESUMEN
En ese artículo analizamos la propaganda institucional videográfica del Banco Caixa Econômica Federal de homenaje al Día Internacional de la Mujer, vehiculada en año 2010. Con base en presupuestos del Análisis Crítico del Discurso (ACD) en sus relaciones proficuas con algunas nociones del Análisis del Discurso dicha francesa y con gramática del design visual, hemos buscado demostrar la sustentación de una identidad marginalizada de la mujer brasileña en esa materialidad, a partir do que llamamos de 'estados paradojales de las órdenes de ver y de decir'. Considerando la relación directa entre la materialidad textual en su composición multimodal, y las relaciones sociales que de ella derivan, apuntamos la contradicción entre homenajear en el nivel verbal, y homenajear en el nivel imaginativo. La inflexión de materialidad sobre los sentidos denuncia la permanencia, todavía latente, de determinaciones sociales sobre prácticas lingüísticas configuradoras de la identidad de la mujer brasileña.
Palabras-clave: Propaganda institucional. Análisis Crítico. Determinaciones sociales. Identidad femenina. Contradicción.
É por meio de seu sistema que cada geração impõe sua cultura à nova. Assim, [...] aquilo que nos constitui como pessoas é a norma social, o que vem de fora. Por outro lado, como a sociedade está organizada com base em uma relação de poder (o poder que transmite as normas culturais), é tão difícil para a mulher, enquanto indivíduo, livrar-se da dominação com a qual foi educada. (TOLEDO, 2008, p. 133)
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
No âmbito das políticas afirmativas de inclusão, a questão social da mulher é cada vez mais discutida. Dar visibilidade às mazelas de que sofre e propor soluções às querelas sociais nas quais foi envolvida historicamente é razão para que, no ano 1910, o Dia Internacional da Mulher se consolidasse como uma das maneiras mundialmente institucionalizadas de reconhecer os processos de exclusão e de dar espaço para a consolidação de uma identidade social emancipada à mulher. A integração de eventos passados, presentes e futuros na ordem dos discursos produzidos durante as comemorações desse dia servem a esses propósitos almejados, que, entre outros fatores, compreendem o caráter acional dos textos/discursos sobre os seus leitores/ouvintes. Isso significa dizer que, enquanto materialidade discursivo-textual, os eventos rememorados, parte constitutiva de processos histórico-sociais mais amplos, visam provocar sentimentos e evocar ideias capazes de suscitar posições discursivas e ideológicas sobre o gênero feminino. É nesse contexto, de feixes de relações históricas antiquíssimas e complexas, que se inscreve a propaganda institucional da Caixa Econômica Federal em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Veiculada nos canais abertos da TV brasileira no ano de 2010, a propaganda mencionada, a priori, entra na ordem dos discursos de inclusão da mulher, por meio do enaltecimento de sua existência na sociedade contemporânea, por sua capacidade de escapar aos lugares pré-estabelecidos legados pelas práticas sociais da sociedade ocidental, patriarcal e capitalista e por atenuar as positividades de 'ser mulher'. Enquanto homenagem às mulheres brasileiras, a propaganda instaura uma espécie de comoção, pelo tom maternal composto pelo poema Com licença poética, da poeta1 1 Adiante, faremos a análise pormenorizada desse vocábulo enquanto parte do jogo discursivo em análise. mineira Adélia Prado, em consonância com as imagens que apresenta e com a música de fundo. É justamente na conjugação desses três 'signos típicos' (BARTHES, 2006, p. 50), a saber, o signo verbal, o signo gráfico e o signo icônico, que nos inquietam os modos de produção desse texto. Ao assistir reiteradamente a propaganda, no decurso de sua veiculação, nos perguntamos sobre os efeitos desse texto enquanto materialidade significante, isto é, enquanto uma composição significante instituída na e pela imbricação de diferentes materialidades, a verbal, a visual e a sonora (LAGAZZI, 2008; 2012).
Nesse ínterim, partindo do pressuposto de que as produções textuais não se fazem alheias às determinações discursivas que as formatam, interessa-nos, sobretudo, buscar entender em que medida, no processo de composição multimodal do corpus analítico em foco, há a saturação de um mesmo sentido, qual seja, o de 'homenagem' à mulher brasileira?
Sob a égide de tais inquietações e de uma perspectiva multidisciplinar de acercamento aos discursos, este estudo busca respaldo nos pressupostos da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH 2001; 2004/ MEURER, 2005) que, em condições propícias, estabelece relações profícuas com algumas noções da Análise de Discurso dita francesa (LAGAZZI, 2008; 2012) e com os estudos dos gêneros multimodais (KRESS, 2010/ BARTHES, 2006/ BALOCCO, 2005/ KRESS e van LEEUWEN, 2006). Partindo do princípio de que os discursos são modos particulares de representação do mundo, a ACD coloca no cerne de suas discussões a pertinência social dos textos. O texto, nesse sentido, é capaz de atualizar/realizar/materializar diferentes discursos. Portanto, discurso é aquilo que um texto produz ou faz circular quando posto em funcionamento em alguma instância discursiva representativa de um dos seus eventuais momentos.
Esse posicionamento teórico se coaduna com o objetivo da análise a ser aqui empreendida, a de revelar valores que, via discurso, intervêm nos processos de sustentação, ou fortalecimento, de uma visão de gênero feminino que, entre outros fatores, reverbera num enfraquecimento ou marginalização identitária do sujeito "mulher". Esse fenômeno de natureza linguístico-discursiva mostra-se presente naquilo que, no contexto desta discussão, denominamos 'estados paradoxais das ordens do ver e do dizer'. Considerando a relação direta entre a materialidade textual, em sua composição multimodal, e as relações sociais que dela derivam, nossas discussões apontam, portanto, para a contradição entre dizer homenagear, no nível verbal, e mostrar tal homenagem, no nível imagético. Sustentamos que, pelas determinações sociais que o texto sofre, há uma manutenção das formas de dizer a diferença nas malhas das relações de poder.
2 DISCURSO E PRÁTICA SOCIAL: SUAS DETERMINAÇÕES DOS/NOS TEXTOS
Iniciamos esta seção destacando que, dada a natureza analítica desta reflexão, nos afastaremos de uma historicização do campo do saber e das recorrentes distinções realizadas em trabalhos acadêmicos a respeito das diferentes análises de discurso praticadas contemporaneamente. Estabelecemos a interlocução pretendida indicando que, no presente estudo, as análises realizadas se darão no solo epistemológico da Análise Crítica do Discurso (doravante ACD), recorrendo, em alguns momentos precisos desse movimento analítico, à noções da Análise de Discurso francesa (doravante AD). Assim sendo, passemos às considerações pertinentes.
A ACD tomou para si, em um cenário pululante de teorias do discurso, a tarefa de consolidar uma análise dos discursos textualmente orientada, politicamente engajada para a compreensão das práticas de linguagem e adequada à pesquisa social (FAIRCLOUGH, 2001). Para tanto, dentre as especificidades que lhes são inerentes, um de seus expoentes nos explica: "ao usar o termo 'discurso', proponho considerar o uso de linguagem como forma de prática social e não como atividade puramente individual ou reflexo de variáveis situacionais" (FAIRCLOUGH, 2001, p. 90).
Essa noção de discurso trará duas consequências metodológicas importantíssimas para as análises estabelecidas nesse campo teórico: a primeira é a de que a relação entre texto, discurso e ação social é direta, determinante e determinada por relações de força e poder. A análise de um discurso, portanto, implica o reconhecimento de que há "uma relação dialética entre o discurso e a estrutura social" (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91), isto é, a estrutura social é condição de possibilidade das práticas sociais e, ao mesmo tempo, é (re)elaborada por elas. Por isso, concebendo as atividades de linguagem como textos, "os textos como elementos de eventos sociais" (FAIRCLOUGH, 2004, p. 8) e os discursos como socialmente constitutivos da estrutura social, a ACD preconiza os sujeitos como constituídos por identidades sociais estabelecidas na(s) tensões das relações sociais dadas a partir de sistemas de conhecimento e de crenças (FAIRCLOUGH, 2001). A segunda consequência é que, nesta perspectiva crítica, analisar um discurso implica ir além da compreensão de seu funcionamento e, portanto, de suas formas de significação, posto que a visão emancipatória nela contemplada aponta para mudanças sociais mais amplas. O que se daria, portanto, por meio da conversão de uma ordem discursiva a outra. Ressalte-se, aqui, o caráter intervencionista das práticas discursivas sobre as estruturas sociais - e vice-versa - presumido na relação dialética estabelecida entre estruturas sociais e práticas linguístico-discursivas.
Um dos ganhos mais significativos da ACD é mobilizar a linguística e sua metalinguagem na análise das relações sociais e, de igual maneira, agenciar esse mesmo conhecimento na e para a mudança social. Nesse sentido, a relação entre significante e uma ordem discursiva é direta, razão para que os sentidos sejam buscados, compreendidos e interpretados à luz das estruturas sociais de que derivam e a que (se) referem. É justamente nesse vértice que a teoria da ACD se encontra com a noção de gêneros textuais.
Para Fairclough (2001, p. 161), os gêneros textuais/discursivos constituem "um conjunto de convenções relativamente estável que é associado com e, parcialmente representa, um tipo de atividade socialmente aprovado", não necessariamente apenas um tipo de texto, "mas também processos particulares de produção, distribuição e consumo de textos." Sendo assim, se as relações sociais estão implicadas na forma de materialização dos discursos e se estes, manifestos em textos, estão diretamente constituindo identidades e as relações sociais envolvidas nas formas de interação verbal, "muitas relações entre linguagem e estruturas sociais são opacas, pouco visíveis", constituem "'agendas ocultas'" (MEURER, 2005, p. 90-91), espécies de naturalização dos sentidos produzidos por práticas sociais e/ou discursivas engessadas. De maneiras distintas e agenciados em práticas discursivas naturalizadas, os gêneros textuais/discursivos mantêm estreita relação com a noção de hegemonia, "porque a escolha de textos e o seu modo de uso dependem frequentemente das formas de dominação estabelecidas [...]" (MEURER, 2005, p. 91-92). Mas é válido lembrar que, a partir dessa mesma engrenagem social para a qual os gêneros podem trabalhar, dada sua importância "na sustentação das estruturas institucionais da sociedade contemporânea [...]" (FAIRCLOUGH, 2004, p. 33), pode-se objetivar a mudança das relações de poder, instituindo e solidificando novas práticas discursivas.
Valemo-nos, aqui, da síntese feita por Barros e Silva (2008) para elucidar, em parte, a proposta da ACD de articulação dos três níveis para o estudo da linguagem, a saber, o linguístico, o discursivo e o ideológico-cultural. Conforme realçam as estudiosas:
Fairclough (1997; 2001) concebe o discurso como sendo simultaneamente: (i) um texto linguístico, oral ou escrito, (ii) prática discursiva (produção e interpretação de texto) e (iii) prática sócio-cultural. Na dimensão da prática linguística, o discurso é abordado enquanto texto. Nessa perspectiva, o texto consiste na realização linguístico-formal da prática discursiva. A prática discursiva, por sua vez, é a dimensão do uso da linguagem que envolve processos de produção, distribuição e consumo dos textos. A terceira dimensão da sua teoria tridimensional concebe o discurso como prática social. A investigação do discurso como prática social é feita a partir de um conceito de discurso ao qual se relacionam "ideologia" e "poder" (BARROS; SILVA, 2008, p. 125-126).
A Figura 1 pretende ilustrar essa proposta de abordagem, bem como incorporar a ela os três estágios de análise dos textos que visam ao entendimento das relações de poder e das determinações de natureza social, ideológica e cultural no discurso.
Deve-se compreender daí que o primeiro estágio de análise (descrição) se consolida nos traços textuais, o segundo (interpretação) nos processos discursivos e o terceiro (explanação) contribui, por sua vez, para a elucidação das imbricações do discurso nas relações de poder.
Uma vez que, "além de descritiva, a ACD é interpretativa e procura ser também explicativa, propondo-se examinar os eventos discursivos sob três dimensões de análise que se interconectam: texto, prática discursiva e prática social" (MEURER, 2005, p. 83, grifos do autor)", seus desdobramentos serão sentidos em trabalhos que se voltam, a um só tempo, para as formas de significação e suas relações com a estrutura social vigente. Estando essas dimensões de abordagem dos discursos compreendidas nas materialidades multimodais (verbal e/ou imagética) dos gêneros textuais, busca-se, neste espaço de reflexão, ressaltar os efeitos e alcance da linguagem sobre a consolidação de posições discursivas e ideológicas sobre o gênero feminino.
2.1 GÊNEROS MULTIMODAIS: CONFLUÊNCIAS TEÓRICAS
É inegável o efeito das ressonâncias dos 'estruturalismos' nas teorias linguísticas contemporâneas. Desde a incorporação da noção de enunciação até as análises discursivas hoje praticadas, vê-se o trabalho importante e significativo dado às estruturas significantes do signo verbal. Redunda, inclusive, dizer signo verbal uma vez que, em sua grande parte, o verbal é tomado como significante absoluto dos estudos linguísticos. Prova da pertinência da inclusão dos traços textuais/das formas linguísticas no interior das reflexões de cunho discursivo é a incorporação louvável dos trabalhos de M. A. K. Halliday nas bases teóricas da ACD. As reflexões de natureza sistêmico-funcional propostas por Halliday, conforme assegura Barros (2010), costumam vir consensualmente incorporadas às análises da maioria dos pesquisadores em ACD. Nesse sentido, apontam para a necessidade de se estudarem algumas unidades da língua em seu funcionamento, ancoradas, portanto, na enunciação. De acordo com a estudiosa, esse posicionamento da sociossemiótica de Halliday (1994) busca realçar o sentido social atribuído à linguagem e ao significado. Essa visão, inerentemente dialógica e interativa, encara o texto como "realização dos tipos de contexto (situacional e cultural), considerando-se o papel dos interactantes como membros desses contextos e participantes ativos da linguagem" (VIAN JR., 2001, p. 157).
Considerando essa perspectiva de abordagem da linguagem/textos, a qual, ao focalizar a habilidade do usuário da língua (sistema) em exercer interação social pela linguagem, atribui enorme valor às determinações da gramática e enfatiza as determinações discursivas, ou seja, alça as análises textuais para o âmbito do funcionamento social e discursivo, como pensar, na era da alta tecnologia e das mídias de informação eletrônica e de distribuição simultânea, o funcionamento de materialidades textuais de natureza imagético-visual e verbal, ou, mais precisamente, da ordem multimodal?
Sensíveis a essas questões e na mesma direção na qual seguem as análises realizadas no interior da ACD, destacam-se as pesquisas do alemão Gunther Kress. Seu investimento teórico desenvolveu uma perspectiva discursivo-semiótica que elenca, sobretudo, "que os gêneros textuais não podem ser estudados isoladamente dos elementos não-verbais que os constituem", isso porque "é preciso analisar a forma como linguagem e elementos visuais articulam-se num texto, funcionando como ancoragens para leituras ideologicamente marcadas (BALOCCO, 2005, p. 65, grifos nossos). Essa ideia de articulação entre palavra e imagem constituintes dos gêneros textuais será importantíssima para a compreensão e explicação do funcionamento discursivo-textual a que nos dedicaremos em seções posteriores, pois "esta perspectiva semiótico-discursiva apresenta-se como um contraponto às teorias sobre gêneros textuais que se restringem ao exame de seus recursos verbais, negligenciando o estudo dos diferentes sistemas de signos usados na construção de sentidos" (BALOCCO, 2005, p. 65).
A análise de um objeto multimodal requer a compreensão dos modos pelos quais ele se estrutura enquanto compósito de diferentes linguagens. Portanto, para a compreensão dessa materialidade é necessário fugir de reducionismos que privilegiem uma ou outra linguagem ou que aplique a uma os dispositivos de análise da outra, embora a análise de imagens ainda seja ancorada em paradigmas verbais, sobretudo aqueles que concernem à organização sintagmática. É importante destacar que, nas abordagens de materialidades multimodais, ainda não há um distanciamento necessário do grafocentrismo, o que limita o alcance da compreensão das formas peculiares de produção, funcionamento e análise da imagem. Mesmo assim, pensar em uma espécie de 'sintaxe do visual' é produtivo, na medida em que institui uma forma de explicitar, sistematicamente (estruturalmente, diríamos) a legibilidade das multimodalidades.
Nöth e Santaella (2005) destacam que a relação entre palavra e imagem, na composição de um objeto semiótico, nem sempre é unívoca. A imagem, nesse caso, pode redundar, informar ou complementar o sentido produzido pela linguagem verbal. Barthes (2006, p. 66-74), base estruturalista dos estudos semiótico-discursivos (ou semiológicos, como preferem alguns) aprofunda essa questão, delimitando relações sintagmáticas entre as estruturas significantes, partindo do conceito da parole saussuriana. Nessa perspectiva, o sintagma semiológico serve como princípio de análise, na medida mesma em que, por meio da prática da comutação, permite identificar os menores elementos significantes de uma cadeia sintagmática.
Kress (2010, p. 55), em igual medida, ao pensar a realização estrutural do texto multimodal, irá considerá-lo como "sign-complex", em que o funcionamento é da ordem da metáfora, por isso, mantendo uma relação representacional com a 'falta' a ser suprimida na cadeia significante. Essa formulação será altamente relevante para os estudos e análises de textos multimodais, porque permitiu desarticular os limites do signo gráfico, do signo icônico, do signo gestual, enquanto signos típicos (BARTHES, 2006, p. 50) para analisá-los sob o amálgama de um signo semiológico. Essa produtividade, no entanto, parece se tornar mais clara a partir de algumas reformulações que se constituíram no terreno da AD.
Uma das grandes contribuições da AD para o trabalho com textos multimodais centra-se na superação da noção de texto para a de materialidade significante e suas correlações com as formas de legibilidade que institui. Inicialmente, em se tratando de gêneros multimodais, a materialidade significante é tomada como composição, noção segundo a qual o que se chama multimodalidade é constituído não em uma relação de complementaridade, mas de imbricação material, isto é, em uma relação na qual "materialidades significantes em composição, [...] se entrelaçam na contradição, 'cada uma fazendo trabalhar a incompletude na outra'" (LAGAZZI, 2012, p. 1). Nesse 'tipo' de texto, o primado está no modo como cada um dos signos típicos se comportam na relação com o outro que o atravessa. Eis o grande desafio lançado ao analista (crítico) de discurso: "considerar as especificidades de cada materialidade" (LAGAZZI, 2012, p. 1), dando visibilidade ao que essa materialidade apresenta como uma composição e, nos termos da ACD, o que permite compreender o funcionamento determinante das estruturas sociais de que deriva.
A maior consequência dessa formulação é a de que, na análise de textos multimodais, o que é colocado em jogo é o trabalho dos significantes na incompletude que lhes é inerente. Não significam tudo que podem, mas funcionam em rearranjos significativos no processo de circulação dos discursos, ampliando a possibilidade de se verificar, em uma mesma composição material, o (sentido) novo no (material que se apresenta como o) mesmo. No caso das propagandas institucionais, por exemplo, figuram o verbal, o visual e o sonoro, cujo produto final é um objeto semiótico multimodal, isto é, uma materialidade significante em imbricação material.
2.2 O GÊNERO PROPAGANDA INSTITUCIONAL: CARACTERÍSTICAS E FUNCIONAMENTO
A propaganda institucional, enquanto uma das formas mais ou menos estáveis de interação na esfera midiática, visa "criar, mudar ou reforçar imagens e atitudes, tornando-as favoráveis à empresa patrocinadora" (GRACIOSO, 1995, p. 23-24). Sendo assim, via de regra, diz sempre de uma prática discursiva cujo sujeito enunciador é uma instituição privada ou do Estado com o objetivo não de vender um produto (e eis sua grande diferença com o gênero publicidade), mas de propagar uma ideia investida de valores por meio dos quais, ao interpelarem o público a que se destina (a grande massa populacional exposta às mídias onde circula esse gênero), criam-se imagens favoráveis do enunciador institucional. Esses valores 'propagados' pelo gênero propaganda institucional são da ordem discursiva do intangível. A propaganda institucional, conforme Gracioso (1995, p. 24), preocupa-se "mais com ideias e conceitos intangíveis, isto é, subjetivos [...]", razão para que se dirija, "de preferência, às pessoas com preocupações e expectativas que vão além do plano imediato [...]", conforme, geralmente, se percebe nas formas de interação desenvolvidas no campo midiático. Tasso (2004, p. 3) destaca que "a propaganda institucional usa estratégias que visam superar dificuldades normalmente reveladas por sujeitos leitores e espectadores quanto ao nível conceitual nela veiculado, daí sua natureza mais informativa". Por ser determinada pelos ideais liberais da contemporaneidade, tais como a sustentabilidade, o politicamente correto, as instituições que assumem a posição de sujeitos dos discursos produzidos e veiculados por esse gênero, a propaganda institucional mantém intensa relação com as estruturas sociais das quais deriva. Eis, portanto, as condições para que o que nela se diz institua papéis sociais: (i) determinados para o público a que se destina e; (ii) determinantes pelos enunciadores da qual se 'origina'.
Sendo assim, no que diz respeito às formas de significação que institui, a propaganda institucional trabalha sob dois níveis: o da visibilidade e o da invisibilidade (TASSO, 2004). No domínio das condições de produção, são agenciadas estratégias de linguagem que trabalham na e para a construção de determinados sentidos e não de outros, isto é, há, na composição do próprio texto, os resquícios das estratégias agenciadas (mesmo inconscientemente) que explicitam o trabalho ideológico do/no texto.
Assim sendo, e mobilizando o construto teórico desenvolvido até aqui para compreender de que maneira a propaganda institucional da Caixa Econômica Federal em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, se constitui sob o que denominamos estados paradoxais das ordens do ver e do dizer, partamos da perspectiva, tomada, neste estudo, como basilar: as diferentes materialidades precisam ser expostas na sua relação em um espaço contraditório, isto é, "uma trabalhando a incompletude na outra" (LAGAZZI, 2008; 2012).
3 ESTADOS PARADOXAIS DAS ORDENS DO VER E DO DIZER NA PROPAGANDA INSTITUCIONAL: HOMENAGEAR A QUEM?
A propaganda institucional da Caixa Econômica Federal se constitui por três signos típicos: o verbal (voz em off, identificação e localização das personagens retratadas); o icônico (fotografia e efeitos de movimento de câmera) e sonoro (música instrumental de fundo). Na composição discursiva que constitui o gênero, expõe-se, em sua visibilidade, uma materialidade significante em imbricação material. A enunciação dessa materialidade se inscreve na ordenação de cenas que apresentam retratos de mulheres de diferentes estados brasileiros e de diferentes ocupações. No texto escrito abaixo das fotografias, elas são identificadas como: policial, engenheira, cortadora de cana, arquiteta, jornalista, empresária, estudante, professora, rendeira, costureira, bailarina, empregada CAIXA (cf. figura 3 abaixo). Para serem nominadas e identificadas, as cenas são deslocadas a fim de que, no espaço da própria cena fotográfica, sejam materializados os signos verbais escritos que delimitam as instâncias do "quem é?" e do "o que faz?".
A legibilidade da materialidade se dá no encadeamento das cenas fotográficas que se linearizam por meio da: a) voz em off, declamando o poema Com licença poética, de Adélia Prado, que 'puxa' o som instrumental seguido de cada uma das imagens fotográficas; b) apresentação das diversas profissões/ocupações femininas por meio do texto escrito, como se fossem enunciados interdependentes, elucidativos, portanto, dos supostos "desdobramentos femininos" sugeridos pelo eu lírico ao final do poema: "Mulher é desdobrável. Eu sou". Estabelece-se, na propaganda em foco, um fio narrativo sustentado seja pela voz em off em consonância ao instrumental musical, seja pelo efeito de movimento das imagens, que cadenciam deslocamentos que se consolidam da direita para a esquerda ou de cima para baixo.
O objetivo da propaganda é apresentar a intenção da instituição econômico-estatal de homenagear "as mulheres do Brasil" que é, conforme preconiza o slogan das propagandas governamentais, "um país de todos".
Enquanto valores experienciais - que, para Fairclough (1991, p. 112), dizem respeito aos conhecimentos e crenças dos produtores de textos, ao modo de representação da realidade social ou natural conforme os sujeitos de linguagem as experimentam - os signos semióticos articulados no texto multimodal em foco associam-se a aspectos ideológicos do "fazer" e do "ser" feminino.
Assim constituído, o texto mobiliza, igualmente, valores relacionais - que, segundo Fairclough (1991, p. 112), dizem respeito ao modo como as relações sociais são acionadas nos textos - da ordem do discurso que, entre outros fatores, naturaliza comportamentos, atitudes que posicionam sujeitos do gênero social feminino como indivíduos multifuncionais. Ao fazer referência multimodal à mulher que faz poesia, cuida, ensina, constrói, produz, administra empresas, que se pensa no mundo, porque assim foi construída socialmente, como "desdobrável", fato que desencadearia a suposta felicidade e realização pessoal subentendidas no texto, a propaganda em foco desconfigura o verdadeiro conteúdo e significado do poema Com licença poética de Adélia Prado, poetisa que, com maestria e arte, entra na luta feminista de valorização do feminino:
Quando nasci um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta, anunciou:
vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,
sem precisar mentir.
Não sou tão feia que não possa casar,
acho o Rio de Janeiro uma beleza e
ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos
-- dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade de alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.
Mulher é desdobrável. Eu sou.
Sob o olhar desatento do espectador das fugacidades, aquele exposto às mídias contemporâneas que veiculam propagandas como essa, de duração de 60 segundos, a relação entre os diferentes signos típicos é de complementaridade: palavra, imagem e som corroboram a homenagem da Caixa às mulheres brasileiras. No entanto, o tom de ironia impingido pela poetisa em seu texto literário é evidente quando ela estabelece a relação homem versus mulher nos dois últimos versos do poema: "ser coxo na vida é maldição pra homem. Mulher é desdobrável". O anjo do eu lírico feminino presente no poema de Adélia Prado é esbelto, enquanto o anjo do eu lírico masculino presente no poema Sete faces (1930), de Carlos Drummond de Andrade, com o qual estabelece relação intertextual, é torto. A intertextualidade, explícita no poema Com licença poética (1976), fator que orienta a construção dos sentidos dos enunciados, se perde no contexto da produção multimodal da peça publicitária, que não explora efetivamente as diferenças de gênero e o embate "feminino" versus "masculino" em nossa sociedade, principalmente aquelas que são, por um lado, usadas como instrumento ideológico de enfraquecimento da identidade feminina e, por outro, de fortalecimento da hegemonia masculina. Percebe-se, portanto, que o foco ou tema da peça publicitária desloca-se para a margem, valorizando preceitos tradicionais relativos ao feminino que colaboram para a manutenção do status quo, muito embora tente defender/sugerir a ideia de que já esteja estabelecida, de fato e de direito, uma nova ordem social para a mulher na sociedade brasileira.
Cabe destacar, aqui, a pertinência dos estudos de natureza sociossemiótica de Kress e van Leeuwen (2006) relativos à chamada Gramática Visual (The Grammar of Visual Design), que, conforme asseguram os autores na introdução da obra, visa focalizar "o modo com que a composição pode ser utilizada para atrair a atenção dos espectadores sobre alguma coisa em detrimento de outra")2 2 Original: "[...] the way compozition can be used to attract viewer's attention to one thing rather than other" (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 1). (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 1, tradução nossa).
A perspectiva de análise contemplada por Kress e van Leeuwen se coaduna com os estudos críticos do discurso que, entre outros fatores, pretende mostrar modos de uso da linguagem, dentre eles as formas multimodais de manifestação linguístico-discursivas que estão a serviço do exercício do poder, bem como da disseminação de estereótipos sexistas, nas relações interpessoais pós-modernas.
Como dissemos anteriormente, no processo de imbricação material, uma materialidade trabalha (n)a incompletude da outra, em um espaço onde, muitas vezes, o primado não é o da complementaridade, mas o da contradição. Em seu funcionamento, compreendemos a propaganda em análise constituída justamente dessa maneira. Para tanto, reproduzimos, na Figura 2, um seu instante:
Retomando o que anunciamos em nota logo na primeira seção, vale ressaltar o qualificador utilizado no enunciado verbal "Poeta - Minas Gerais". Na imbricação das diferentes materialidades, o sentido de saturação é, no mínimo, equivocado. Se a função do texto é "homenagear" as mulheres, por que não optar pelo vocábulo "poetisa", flexionado e em concordância, portanto, com o momento da prática discursiva em foco, a saber, o dia internacional da mulher, dimensão da linguagem configuradora daquilo que arriscamos chamar de realização "morfossemiológica"?
O que se coloca em jogo, neste momento da análise, é justamente a falsa neutralidade do gênero gramatical masculino como forma "não marcada" no português. Não podemos pensar que a recorrência ao morfema gramatical "isa", designativo do gênero gramatical feminino, seja dispensável, ou improdutivo, no interior de uma reflexão linguística que engloba, a um só tempo, estrutura social e estrutura linguística.
Em consonância com aquilo que preconiza a ACD, partimos do princípio de que os traços gramaticais, assim como o vocabulário de um texto, podem estar relacionados a sentidos sociais do discurso. Nesse sentido, é preciso que pensemos as manifestações linguísticas como resultado ou produto das relações sociais e vice versa. É justamente essa visão dialética dos fenômenos de natureza linguístico-discursivas que nos permite dizer: debruçarmo-nos sobre as questões de linguagem vai além daquilo que preconizam os gramáticos e dicionaristas. O dicionário Houaiss eletrônico (2001) registra "poeta" como substantivo masculino e, em nota de rodapé, "poetisa" como seu feminino, com a ressalva de que "modernamente o vocábulo poeta vem sendo usado como substantivo de dois gêneros no Brasil e em Portugal". Na sua versão impressa (2007, p. 2246), 2. impressão com alterações, aparece a forma "poetisa", no feminino, seguida do verbete: mulher que faz poesias.
O retorno deliberado à forma "poetisa", evitada por alguns escritores e escritoras em consequência do caráter pejorativo que se supõe ter impregnado o uso do vocábulo quando se tornaram públicas as primeiras produções poéticas femininas, prestar-se-ia, no contexto da propaganda institucional em foco, contrariamente, para fortalecer a identidade social feminina. O empoderamento feminino, fenômeno que desafia as hegemonias masculinas, sustentadas, por muito tempo, também em suas produções poéticas, não se faz independentemente daquilo que as formas linguísticas/os discursos determinam. O próprio fato de o vocábulo "poetisa" vir associado, nos fins do século XIX, à produção literária feminina considerada de baixa qualidade em meio aos saraus lítero-músicais da época demonstra que as palavras adquirem valor ideológico, social e político mediante os discursos que as materializam ou que, em condições propícias, tentam fazê-las desaparecer.
A complexidade dos fenômenos de linguagem exige que concebamos a língua (forma) à luz dos efeitos ideológicos, políticos, sociais, entre outros, que ela produz. Pensar a língua sob o viés das ordens do discurso, ou seja, como uma forma de ação (gênero textual/discursivo), representação (discurso) e identificação (estilo), traz para o âmago da ciência linguística elementos das ciências sociais relativos às relações de controle sobre os outros (eixo do poder), às relações de controle sobre as coisas (eixo do conhecimento) e às relações consigo mesmo (eixo da ética). Nesse passo, deixa-se de considerar ingênuo o uso da forma linguística "poeta" em detrimento da forma "poetisa" em textos cujo referente seja um indivíduo do sexo feminino, posto que o morfema flexional "isa", que aparece também em "profetisa", é recorrente em português e, à luz de uma reflexão linguístico-discursiva, não serve apenas para designar gênero gramatical, mas também revelar aspectos relativos, e não menos importantes, ao gênero social feminino, dentre eles a ocupação de espaços sociais dantes ocupados apenas pelos homens. É justamente por não haver língua fora das relações sociais que ela se deixa moldar pelas necessidades imediatas de seus/suas utentes. As sutilezas gramaticais, consideradas muitas vezes dispensáveis, servem, portanto, para revelar/trazer à luz, de modo contundente, as conquistas, os desafios, as lutas enfrentadas pela parcela feminina da sociedade. Não esqueçamos que, antes de serem linguísticos, preconceitos, estigmas e sexismos são ideológico-sociais.
No texto em foco, deixa-se, portanto, de singularizar a forma feminina de designação que aponta, efetivamente, para o referente e objeto de discurso sobre o qual o texto é construído. Essa tomada de posição perante as formas de significar na linguagem permite perceber que a saturação da noção de homenagem à mulher, nesse caso, se institui na virtualidade do vocábulo "poeta" agenciado para nominar e designar a mulher. Mas, desde já, acena para a contradição instaurada na relação das diferentes materialidades que compõem a propaganda institucional.
De antemão, apontamos que esse primeiro frame (Fig. 2) é uma espécie de metonímia do funcionamento discursivo dessa materialidade, pois em seu "microfuncionamento" discursivo, delata a ordem discursiva na qual se inscreve o gênero em questão. "As ordens discursivas correspondem a conjuntos estruturados de práticas discursivas correspondentes a determinados domínios sociais" (FAIRCLOUGH; WODAK, 2000, p. 376), compreendendo a totalidade das práticas discursivas de uma determinada instituição ou sociedade, situando quem, quando e o modo como algo pode ser dito (e visto) em um dado momento na história (FOUCAULT, 2010). A fim de atender às demandas discursivas e sociais de uma dada ordem, entretanto, há sempre a possibilidade do deslize linguístico, que nada mais é do que o funcionamento das determinações sociais sobre as formas de dizer e agir socialmente. Em nossa formulação, compreendemos que, em gêneros multimodais, é possível observar esses "deslizes" acontecendo por meio das diferentes direções de sentido que seguem uma forma de linguagem em relação a outra. É a esse funcionamento que estamos chamando de estados paradoxais das ordens do ver e do dizer. O discurso, em sua forma material, enquanto texto, enquanto gênero multimodal, é determinado por estruturas ideológicas que, no nível de sua visibilidade, atendem a uma demanda enunciativa social, aderindo às formas polidas de dizer, à ordem discursiva a que, aparentemente, se refere. Porém, no nível de sua invisibilidade, é modelada ideologicamente por estruturas e práticas sociais naturalizadas, nas quais sujeito e objeto no/do discurso são mantidos nas malhas de relação de poder a que são submetidos historicamente.
Assumindo a consequência do aparato teórico aqui apresentado, alertamos para a importância de alçar as relações materiais do discurso (sua forma textual, enquanto gênero) com as relações de poder sustentadas pela prática discursiva em análise. Para tanto, retomamos a análise sob o funcionamento das instâncias da visibilidade e da invisibilidade, nesse caso específico, do (intencionalmente) querer dizer e do (falhar ao) efetivamente dizer.
Para (intencionalmente) querer homenagear as mulheres, a propaganda mobiliza diferentes materialidades com a finalidade de "saturar" os sentidos de homenagem: o texto de Adélia Prado homenageia as mulheres; a música instrumental e o texto escrito, assim como as imagens, sustentam essa intenção corroborada pelo corolário do texto, qual seja, "Mulher é desdobrável. Eu sou.", enunciado marcado pela subida tonal da música instrumental e da voz afirmativa em off . Contudo, ao efetivamente dizer do modo como diz a homenagem, mostra-se falha.
A construção da identidade social da mulher possui uma gênese estritamente política e econômica, uma vez que seu papel se fundamenta em uma matriz na qual homem e mulher se distinguem por intermédio da divisão do trabalho e da produção de capital. No transcorrer dos estudos sobre a família, será no trabalho de Engels (1974) que se verificará a fragilidade do argumento fundamentado na suposta fragilidade do corpo feminino como modo de opressão da mulher. Essa concepção, segundo Engels (1974, p. 66) tem sua matriz material desde que o homem assumiu, também, o timão da casa, de modo que "esta degradada condição da mulher [...] foi gradativamente retocada e dissimulada, ou mesmo suavizada em alguns lugares, mas de maneira alguma suprimida", e nada mais é do que o usufruto das necessidades de domínio das relações sociais "que se assentavam na divisão e na exploração de uns pelos outros" (TOLEDO, 2008, p. 29). Salta aos olhos que a propaganda da Caixa em homenagem às mulheres sustenta/realça essa relação de poder que se estabelece, via práticas sociais, entre homens e mulheres que, entre outros fatores, reserva aos sujeitos sociais femininos um espaço subalterno ao do homem. As fotografias de mulheres sempre sorridentes e acariciadas pela narrativa envolvente da voz feminina em off subtraem o fato de que todas essas mulheres são trabalhadoras e que, por vezes, desempenham atividades pouco rentáveis e socialmente desprestigiadas, como cortadoras de cana, rendeiras, ou de trabalhos do universo feminino, relacionados sempre com o "cuidar" ou com o "servir".
Por isso, com Toledo (2008), compreendemos que é exatamente nas tramas da história da sociedade, na formação política, patriarcal e capitalista que a mulher foi conduzida a assumir papéis em que o produto de seu trabalho é considerado de uso, menos valoroso do que o produto do trabalho do homem, que é o de troca. A opressão exercida sobre a mulher materializou-se (e segue sendo, como se vê no caso em análise) nos modos de produção capitalista, dentro dos quais a figura feminina se torna bem privado do marido e da família, fugindo da necessidade mais essencial da nova sociedade: a produção de valores de troca. "A existência da propriedade privada dos meios de produção revolucionou não só as relações materiais da sociedade, mas todos os aspectos da vida humana" (TOLEDO, 2008, p. 29).
Ainda assim, diante do exposto, cumpre explicitar o funcionamento desse texto à luz das determinações sociais vigentes e suas imbricações na constituição discursiva da identidade feminina. Na Figura 3, apresentamos uma síntese das cenas do texto.
O deslocamento da câmera, a simulação da inflexão corporal instituída pelo ato da leitura, vai ora da direita para a esquerda (na contraordem da linearidade dos significantes verbais do Ocidente), ora de cima para baixo. Nessa forma de encadeamento dos elementos significantes, a materialidade multimodal hierarquiza as relações sintagmáticas e recupera sentidos da ordem do pré-construído, ou seja, daquilo que se nos apresenta como algo determinado social e ideologicamente. Segundo a proposta de Kress e Van Leeuwen (2006), tais recursos semióticos sustentam três funções comunicativas básicas: constroem significados representacionais da realidade, estabelecem significados interativos e estabelece-se sob sua função textual um evento comunicativo, por seu significado composicional.
No trajeto de interlocução da materialidade significante com o grande público telespectador, apontamos as formas naturalizadas de leitura (consumo de textos), isto é, aquelas que "decodificam" as relações dos significantes na cadeia linear de que são constituídas. No caso do movimento da câmera, que se desloca da direita para a esquerda, a inversão da linearidade da leitura a que o olhar está acostumado denuncia formas de determinação: o que está na ordem é mais importante do que aquilo que foge a ela, pois é o desvio. Pois bem, na ordem do visível o efeito de movimento das fotografias provoca um deslocamento das imagens femininas. Ao fim de cada quadro, elas encontram-se, no plano aberto, à esquerda, ou em plano focalizado, abaixo, como pode ser observado na Figura 4:
Tais coordenadas espaciais se organizam por vetores, cujos significados constituem processos acionais, nisso que se desenha como a sintaxe do visual, apontam o lugar social determinado para esses sujeitos representados: abaixo, ao lado esquerdo, à margem.
Pelo apresentado, situamos a análise realizada, em suas etapas, por meio de uma síntese (figura 5), recuperando o esquema apresentado em seção anterior.
Nesses rearranjos significativos no processo de circulação dos discursos acerca da mulher, compreende-se que, na mesma composição material, a forma/significado, que se nos apresenta como o mesmo sentido, desliza para o novo sentido. Perceba-se que, enquanto evento discursivo, a instituição econômico-estatal vem representada no corpus analítico em foco de modo que seus potenciais leitores a circunscrevam na ordem dos discursos vigentes, como os são o discurso da inclusão social igualitária dos gêneros, da aceitação, da visibilidade e respeito às mulheres. No entanto, não obstante os esforços do produtor do texto em foco, no seu papel de atribuir à instituição econômico-estatal um ethos, isto é, um artifício discursivo fortalecedor da ação do discurso sobre a sociedade, de provedor do bem comum e de entidade engajada com uma suposta nova ordem social, uma análise de natureza discursiva revela que ela se mantém determinada pelas estruturas da sociedade patriarcal, capitalista e machista.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro do circuito comunicacional há elementos que mobilizam, à luz dos diferentes contextos em que podem figurar, as funções da linguagem e as estruturas sociais a que visam explicitar enquanto suas matrizes de possibilidade, isso porque, tal como preconiza Halliday e seguidores, as escolhas linguísticas agenciadas em uma prática discursiva demarcam papéis sociais sedimentados e enquadramentos ideológicos específicos. Na propaganda da Caixa Econômica Federal é possível observar o funcionamento do que chamamos de estados paradoxais das ordens do ver e do dizer na manutenção/consolidação de uma suposta, ou talvez desejável, identidade da mulher brasileira. Estados paradoxais, porque explicam a perspicácia das forças ideológicas que se insinuam, ainda que contraditoriamente, nas tramas discursivas a fim de manter relações dissimétricas de poder entre as mulheres e a sociedade patriarcal. A tônica proposta pela peça publicitária, que é a de enaltecer e homenagear as mulheres do Brasil, se perde no jogo entre palavras, sons e imagens, e vivifica práticas discursivas que cristalizam uma imagem negativa da identidade da mulher brasileira. Dizemos identidades, pois, dentre as múltiplas posições que pode ocupar, à mulher é legado o espaço preterido, o espaço da margem, como foi exposto na análise que apresentamos neste artigo.
Ainda que na ordem do querer dizer, ou seja, da prática linguístico-discursiva, se busque dar visibilidade às práticas sociais que supostamente enaltecem sujeitos sociais femininos, são justamente as formas semióticas de apresentação dessas práticas que falham ao tentar, via discurso/texto, instituir sentidos "novos" para a mulher e seus papéis sociais. Nas amarras e tramas do evento discursivo em cena, se nos apresenta a manutenção de formas e sentidos social e culturalmente naturalizados.
Em síntese, neste espaço de discussão das formas de ação dos textos sobre a sociedade e das formas de ação da sociedade sobre os textos, conceber a linguagem e os eventos discursivos que dela decorrem, na confluência das práticas discursivas, sociais e linguísticas, permite-nos dizer que a propaganda em questão se inscreve na ordem discursiva daqueles que ainda não conseguiram escapar às amarras socioculturais e, portanto, comportamentais, estabelecidas pelas estruturas sociais vigentes. No espaço tenso em que as práticas sociais se constituem em prática discursiva é razão para que a contradição, enquanto o real da história, tenha delineado a incompletude assegurada ou denunciada pelo real da língua: ambas, práticas linguísticas e práticas sociais, encarnadas nas inflexões materiais da multimodalidade, delineiam a equívoca vontade de dizer o novo (a homenagem) sem escapar ao mesmo que, em textos como o aqui analisado, colaboram para o enfraquecimento da identidade feminina.
Recebido em: 07/12/12.
Aprovado em 30/09/13.
- BALOCCO, A. E. A perspectiva discursivo-semiótica de Gunther Kress: o gênero como um recurso representacional. MEURER, J. L.; BONINI, A.; MOTTA-ROTH, D. (Orgs.). Gêneros: teorias, métodos, debates. São Paulo: Parábola, 2005. p. 65-80. (Coleção Língua(gem), 34).
- BARROS, D. E. C. Teoria social do discurso e gramática funcional: uma relação desejável. 2010. In: ENCONTRO DO GRUPO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM DO CENTRO OESTE - GELCO, 5., Dourados, 2010. Anais do..., Dourados: Universidade Federal da Grande Dourados, 2010.
- BARROS, D. E. C.; SILVA, D. E. G. Práticas Lingüístico-Discursivas sob a lupa da Análise de Discurso Crítica. Gláuks - Revista de Letras e Artes, v. 8, n. 2, p. 124-147, jul./dez., 2008.
- BARTHES, R. Elementos de semiologia 13. ed. Trad. de Izidoro Blikstein. São Paulo: Cultrix, 2006.
- ENGELS, F. El origen de la familia, la propriedad y el Estado Buenos Aires: Claridad, 1974.
- FAIRCLOUGH, N. Language and power London: Logman, 1991.
- ______. Discurso, mudança e hegemonia. In: PEDRO, R. M. (Org.). Análise crítica do discurso: uma perspectiva sociopolítica e funcional. Lisboa: Caminho, 1997.
- ______. Discurso e mudança social Coord. trad. téc. e pref. de Izabel Magalhães. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001.
- ______. Analysing Discourse: textual analysis for social research. London: Taylor and Francis Group, 2004.
- FAIRCLOUGH, N.; WODAK, R. Critical Discourse Analysis. In: VAN DIJK, T. A. (Ed.). Discourse as social interaction London: Sage, 1997. p. 258-284. [Versão em Espanhol: "Análisis Crítico Del Discurso". In: VAN DIJK, T. (Comp.) El discurso como estrutura e processo. Estudios sobre el discurso II. Una introducción multidiciplinária. Barcelona: Gedisa, 2000].
- FOUCAULT, M. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Trad. de Laura Fraga de Almeida Sampaio. 20. ed. São Paulo: Loyola, 2010.
- GRACIOSO, F. Propaganda institucional: nova arma estratégica da empresa. São Paulo: Atlas, 1995.
- HALLIDAY, M. A. K. An introduction to the functional grammar. 21. ed. London: Edward Arnold, 1994.
- HOUAISS, A.; VILLAR S. M.; FRANCO, M. M. F. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 2. impr. com alterações. Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia: Objetiva, 2007.
- KRESS, G. Multimodality: a social-semiotic approach to contemporary communication. Londres/ Nova York: Routledge, 2010.
- KRESS, G.; van LEEUWEN, T. Reading images: The grammar of visual design. Second edition. London/New York: Routledge , 2006.
- LAGAZZI, S. A equivocidade na imbricação de diferentes materialidades significantes 2007. Disponível em: <http://dlm.fflch.usp.br/sites/dlm.fflch.usp.br/files/Suzy%20Lagazzi.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2008.
- ______. O exercício parafrástico na imbricação material 2012. Disponível em: <http://www.labeurb.unicamp.br/anpoll/resumos/SuzyLagazzi.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2012.
- MEURER, J. L. Gêneros textuais na análise crítica de Fairclough. In.: ______.; BONINI, A.; MOTTA-ROTH, D. (Orgs.). Gêneros: teorias, métodos, debates. São Paulo: Parábola, 2005. p. 81-106. (Coleção Língua(gem), 34).
- NÖTH, W.; SANTAELLA, L. Imagem: cognição, semiótica, mídia. São Paulo: Iluminuras, 2005.
- PROPAGANDA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 2010. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=sXRr8oL6PMM>. Acesso em: 21 nov. 2011.
» link - TASSO, I. E. V. de S. A prática de leitura na mídia televisiva: propagandas institucionais. 2004. OUTRAS PALAVRAS. 15., SEMANA DE LETRAS, Maringá, Anais da..., Maringá: DLE/UEM, 2004. v. 1.
- TOLEDO, C. Mulheres: o gênero nos une, a classe nos divide. 2. ed., 2. reimpr. São Paulo: Sundermann, 2008. (Série Marxismo e opressão).
- VIAN JR., O. J. Sobre o conceito de gêneros do discurso: diálogos entre Bakhtin e a lingüística sistêmico-funcional. In.: BRAIT, B. (Org.). Estudos enunciativos no Brasil: histórias e perspectivas. Campinas: Pontes/Fapesp, 2001.
Estados paradoxais das ordens do ver e do dizer: a identidade da mulher brasileira em uma propaganda institucional de homenagem ao dia internacional da mulher
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
23 Maio 2014 -
Data do Fascículo
Abr 2014
Histórico
-
Recebido
07 Dez 2012 -
Aceito
30 Set 2013