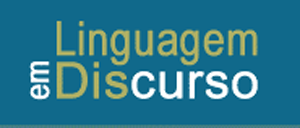O presente dossiê tem por objetivo central apresentar estudos e reflexões críticas sobre práticas inovadoras de ensino de línguas com foco em multiletramentos a partir de sequências didáticas, considerando-se o trabalho com gêneros textuais/discursivos.
Os artigos que fazem parte do dossiê se propõem a suscitar nos leitores reflexões críticas a partir de planejamentos e experiências docentes em sala de aula, por apresentar a realidade do ensino de línguas e possibilidades metodológicas e teóricas profícuas para a rupturas de concepções cristalizadas no sistema de ensino público.
No artigo que inaugura o dossiê, intitulado Ensino de língua portuguesa e gêneros discursivos: proposta de uma educação humanizadora em tempos pandêmicos, Kleber Aparecido da Silva (UnB) e Rosana Helena Nunes (Fatec/Itu/Indaiatuba/Sorocaba) discutem o ensino de Língua Portuguesa, em tempos de crise, por meio do trabalho com gêneros discursivos, na modalidade de ensino remoto, a partir de uma metodologia de projetos em cursos tecnológicos. Esse artigo divide-se em 3 seções. Na seção 1, destacam-se os estudos freirianos e a Linguística Aplicada Crítica (LAC) (PENNYCOOK, 2006PENNYCOOK, A. Uma linguística aplicada transgressiva. Trad. Luiz Paulo da Moita Lopes. In: MOITA LOPES, L. P. (Org.). Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. p. 67-84.; PENNYCOOK; MAKONI, 2020), tendo como ponto crucial o ensino de línguas como prática social. Na seção 2, a contribuição de M. Bakhtin (1992BAKHTIN, M. (1929). Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: HUCITEC, 1992.) ao conceito de gênero discursivo e a importância desse estudo para o ensino de Língua Portuguesa. Na seção 3, a proposta de educação humanizadora para o ensino de Língua Portuguesa, que atenda às necessidades do tecnólogo no mundo do trabalho no cenário da pandemia da Covid-19, com ênfase nos gêneros orais, escritos e multimodais presentes na esfera da comunicação virtual.
No artigo Leitura e produção de infográficos em aulas de língua materna, Carla Viana Coscarelli, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e Ana Elisa Ribeiro, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), tratam da leitura e da produção de textos multimodais na sala de aula da educação básica, focalizando o infográfico como gênero discursivo multimodal, por excelência, e considerando sua abordagem em sala de aula de ensino de português, a partir da sociossemiótica apresentada porKress (2003KRESS, G. Literacy in the New Media. London: Routledge, 2003.) e Van Leeuwen (2004). A discussão se dá a partir de pesquisa com 112 professores e professoras que responderam a um questionário on-line com perguntas fechadas e abertas por meio de um formulário Google, no ano letivo de 2018. Com base nessas respostas, conclui-se que o trabalho com gêneros multimodais na escola é ainda incipiente, em especial, por falta de formação continuada para os professores ou infraestrutura tecnológica nas escolas, conforme apontado pelos participantes.
O artigo Novas práticas de ensino de Língua Portuguesa em ambientes virtuais multifacetados de aprendizagem, da autoria de Paula Cobucci, da Universidade de Brasília (UnB), pretende suscitar reflexões a partir de planejamentos e experiências docentes em sala de aula remota, a partir de sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004DOLZ, J.; NOVERRAZ, M,; SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. . In: SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. e colaboradores. Gêneros orais e escritos na escola. Tradução e organização: Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas-SP: Mercado de Letras, 2004.) elaborada a partir do gênero textual álbum de fotos de família. A autora apresenta reflexões sobre as experiências das quais participaram mais de 140 universitários do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília, além de quase 30 crianças em etapa de alfabetização, durante o ensino remoto em 2020 e 2021, devido à pandemia de Covid-19. Considera-se que tais práticas podem contribuir para o desenvolvimento de letramentos nos alfabetizandos e podem proporcionar formação de educadores conscientes de seu papel na formação de cidadãos.
Em Multiletramento engajado para a prática do bem viver, Fernanda Coelho Liberali, da PUC-SP, expõe as bases teóricas e a práxis do Multiletramento Engajado. A autora parte da apresentação da demanda por práticas pedagógicas que promovam o “bem viver” e, para isso, discute as bases freireanas e vygotskianas para entender as reformulações e as proposições implementadas na Pedagogia dos Multiletramentos como forma de criação do Multiletramento Engajado. Finaliza com a exemplificação de uma proposta didática realizada no Programa Digitmed e com considerações e caminhos a serem percorridos a partir dessa nova perspectiva na busca de possibilidades de superação da necropolítica (MBEMBE, 2016MBEMBE, A. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política de morte. São Paulo: N-1 edições, 2016.), por meio do engajamento de todos na compreensão e na transformação das condições de opressão.
Em Plurilinguismo e multimodalidade no ensino de poesia visual: análise de uma videoaula em libras, Joaquim Dolz, da Universidade de Genebra (Suíça); Gustavo Lima, da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Brasil); e Juliana Bacan Zani, da Universidade São Francisco - Itatiba-SP (Brasil), propõem estudar o plurilinguismo e a multimodalidade nas práticas de ensino destinadas a um público de alunos surdos. Do ponto de vista teórico, os autores tomam três eixos centrais, sendo: a) a perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo - ISD (BRONCKART, 1999/2009) em uma abordagem plurilíngue; b) os gêneros textuais e o processo de ensino e aprendizagem; c) a análise dos objetos ensinados e as práticas de ensino. O corpus da pesquisa é constituído pela transcrição-sinopse (SCHNEUWLY; DOLZ, 2009) de uma tarefa de ensino sobre o poema visual, destinado a um público de alunos surdos, por meio de uma videoaula, disponível no Youtube. Os resultados da análise proposta permitem afirmar a potencialidade das interações sociodiscursivas combinando línguas (Libras e Português) para o ensino de um objeto como a poesia visual.
Em Gêneros multimodais no ensino-aprendizagem de francês como língua estrangeira: o ‘exposé oral’ para aprender temáticas, Eliane Lousada, da Universidade de São Paulo, apresenta um dispositivo didático para trabalhar o gênero exposé oral em francês, que é um gênero muito frequente em países francófonos e é praticado desde a escola até a universidade. Em português, corresponde ao gênero apresentação oral ou, como utiliza Gomes-Santos (2012), exposição oral. Nesse artigo, a autora baseia-se no Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999), principalmente os conceitos de capacidades de linguagem (DOLZ; PASQUIER; BRONCKART, 1993DOLZ, J.; PASQUIER, A.; BRONCKART, J.-P. L’acquisition des discours: émergence d’une compétence ou apprentissage de capacités langagières? Études de Linguistique Appliquée, n. 102, p. 23-37, 1993.), modelo didático (DE PIETRO; SCHNEUWLY, 2003PIETRO, J.F. de; SCHNEUWLY, B. Le modèle didactique du genre: un concept de l'ingénierie didactique. Les Cahiers Théodile nº 3: Université Charles-de-Gaulle - Lille 3, jan. 2003, p.27-53. Tradução de Adair Vieira Gonçalves, 2003.) e sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). O modelo didático foi proposto a partir de vários exemplares do gênero e permitiu a elaboração de uma sequência didática. Ao comparar as produções iniciais e finais dos alunos, constatou-se que houve desenvolvimento.
Em O processo de reelaboração do gênero resenha acadêmica colaborativa na plataforma wiki, Julio Araujo, da Universidade Federal do Ceará, apresenta a sequência didática empreendida para a apreensão e a escrita colaborativa do gênero resenha. O aporte teórico da pesquisa inclui a escrita colaborativa on-line no ensino superior (PHILIPSON, 2008PHILIPSON, M. Wikis in the classroom: a taxonomy, In: CUMMINGS, R. E.; BARTON, M. (Org.). Wiki writing: collaborative learning in the college classroom. Michigan: Digital Culture Books, 2008, p. 19-43.; PEJIC-BACH et al., 2016PEJIC-BACH et al. Barriers and incentives for the utilization of web 3.0: case study of using wikis in croatia. In: WANKEL, C.; STACHOWICZ-STANUSCH, A. (Org.). Emerging web 3.0/semantic web applications in higher education: growing personalization and wilder interconnections in learning. Charlotte: Information Age Publishing, Inc., 2016. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=sgYoDwAAQBAJ&pg=PA 14&dq=wikis+in+higher+education&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjVt8fL9dzjAhXII7 kGHeSbDhkQ6AEIKDAA#v=onepage&q=wikis%20in%20higher%20education&f=false Acesso em: 29 jul. 2018.
https://books.google.com.br/books?id=sgY...
; ARAÚJO, 2019) e o gênero resenha reelaborado (PEJIC-BACH et al., 2018). Participaram da pesquisa 17 alunos de um curso de graduação em Letras-Inglês de uma universidade pública. Na plataforma wiki PBworks, foi desenvolvido um projeto wiki (curso on-line) constituído por módulos e dois deles foram abordados no texto. Os resultados indicam que os alunos já tinham noção sobre o gênero resenha, no entanto, sentiram dificuldades na identificação dos movimentos retóricos desse gênero. Ademais, a escrita colaborativa revelou movimentos retóricos denominados flutuantes por transitarem pelas diferentes etapas do processo de escrita. Nesse sentido, Araújo enfatiza que a resenha se reelabora em função de seu suporte de produção, possibilitando transformações nesse gênero.
No artigo intitulado O conceito de autoria e a redação do Enem: uma compreensão à didatização do gênero escolar, Victor Flávio Sampaio Calabria, da Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC-CE), e Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin, da Universidade Federal do Ceará (UFC), propõem discussões em torno da Redação do Enem, no que tange à autoria. Assim, intenta-se fazer um levantamento dos conceitos de autor/autoria, posicionamento e estilo direcionados àqueles que subjazem as competências avaliativas da Prova de Redação do Enem, no que tange às teorias linguístico-discursivas. Para tanto, parte-se de uma pesquisa inicialmente bibliográfica, que consistiu em um levantamento do estado da arte sobre os termos supracitados e em uma articulação teórica com o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). Os resultados levam ao entendimento de que uma articulação teórica da noção de autoria de textos escolares defendida na Análise do Discurso, que vê o sujeito como aquele que age através da linguagem, pode ser reportada à noção de autor e posicionamento enunciativo assumida pelo ISD. O estudo e a didatização dessas noções são fulcrais para o reconhecimento do aluno como sujeito-autor, responsável pelo seu agir na/pela linguagem.
No Grand Finale do dossiê, em entrevista, Kleber Silva propõe perguntas instigantes a Stella Maris Bortoni-Ricardo sobre a Sociolinguística Educacional, as quais suscitam reflexões críticas a partir de experiências docentes em sala de aula, por apresentar a realidade do ensino de Língua Portuguesa e possibilidades metodológicas e teóricas profícuas para a ruptura de concepções cristalizadas no sistema de ensino público brasileiro. A entrevista, (re)construída em forma de diálogo, brinda-nos com uma ampla discussão sobre língua(gem), políticas linguísticas e educacionais, letramentos, gêneros textuais/discursivos, e nos convida a uma “crítica de dentro para fora”, por meio da provocação: “Como empoderar o professor de Língua Portuguesa para ensinar de forma produtiva e formar cidadãos brasileiros?”.
Os artigos que compõem o dossiê coadunam com as constatações de temas direcionados às experiências pedagógicas sobre o ensino de línguas como práticas docentes que dão ênfase ao aspecto geral do ensino, à expressão oral, à leitura e produção textual, à análise linguística. Em síntese, são apresentados e discutidos estudos desenvolvidos com o intuito de fomentar e promover iniciativas docentes para o ensino de línguas num contexto de desafios educacionais, sociais, comportamentais, culturais, que instigam professoras e professores a se posicionarem em busca de inovações metodológicas, didáticas, epistêmicas e teóricas.
REFERÊNCIAS
- ARAÚJO, J. et al. O ato de resenhar no skoob. Letras em Revista, Teresina, v. 9, n. 1, jan./jun., p. 107-118, 2018.
- BAKHTIN, M. (1929). Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: HUCITEC, 1992.
- BRONCKART, J.-P. Atividades de linguagem, textos e discursos. Por um interacionismo sócio-discursivo. Tradução Anna Rachel Machado. São Paulo: EDUC, 2003.
- BRONCKART, J.-P. A atividade de linguagem em relação à língua: homenagem a Ferdinand de Saussure. In: GUIMARÃES, A. M. de M.; MACHADO, A. R.; COUTINHO, A. (Org.). O Interacionismo Sociodiscursivo: questões epistemológicas e metodológicas. Campinas: Mercado de Letras, 2007. p. 19-42.
- BRONCKART, J.-P. O agir nos discursos: das concepções teóricas às concepções dos trabalhadores. Tradução Anna Rachel Machado e Maria de Lourdes Meirelles Matencio. Campinas: Mercado de Letras, 2008.
- DOLZ, J.; NOVERRAZ, M,; SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. . In: SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. e colaboradores. Gêneros orais e escritos na escola. Tradução e organização: Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas-SP: Mercado de Letras, 2004.
- DOLZ, J.; PASQUIER, A.; BRONCKART, J.-P. L’acquisition des discours: émergence d’une compétence ou apprentissage de capacités langagières? Études de Linguistique Appliquée, n. 102, p. 23-37, 1993.
- FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- FREIRE, P. Pedagogia da esperança. São Paulo: Paz e Terra, 1992.
- FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: Cortez, 1994.
- FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1997.
- KRESS, G. Literacy in the New Media. London: Routledge, 2003.
- MBEMBE, A. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política de morte. São Paulo: N-1 edições, 2016.
- PIETRO, J.F. de; SCHNEUWLY, B. Le modèle didactique du genre: un concept de l'ingénierie didactique. Les Cahiers Théodile nº 3: Université Charles-de-Gaulle - Lille 3, jan. 2003, p.27-53. Tradução de Adair Vieira Gonçalves, 2003.
- PENNYCOOK, A. Uma linguística aplicada transgressiva. Trad. Luiz Paulo da Moita Lopes. In: MOITA LOPES, L. P. (Org.). Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. p. 67-84.
- PENNYCOOK, A; MAKONI, S. Innovations and challenges in applied linguistics from the Global South. New York, NY: Routledge, 2020.
- PEJIC-BACH et al. Barriers and incentives for the utilization of web 3.0: case study of using wikis in croatia. In: WANKEL, C.; STACHOWICZ-STANUSCH, A. (Org.). Emerging web 3.0/semantic web applications in higher education: growing personalization and wilder interconnections in learning. Charlotte: Information Age Publishing, Inc., 2016. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=sgYoDwAAQBAJ&pg=PA 14&dq=wikis+in+higher+education&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjVt8fL9dzjAhXII7 kGHeSbDhkQ6AEIKDAA#v=onepage&q=wikis%20in%20higher%20education&f=false Acesso em: 29 jul. 2018.
» https://books.google.com.br/books?id=sgYoDwAAQBAJ&pg=PA 14&dq=wikis+in+higher+education&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjVt8fL9dzjAhXII7 kGHeSbDhkQ6AEIKDAA#v=onepage&q=wikis%20in%20higher%20education&f=false - PHILIPSON, M. Wikis in the classroom: a taxonomy, In: CUMMINGS, R. E.; BARTON, M. (Org.). Wiki writing: collaborative learning in the college classroom. Michigan: Digital Culture Books, 2008, p. 19-43.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
24 Jun 2022 -
Data do Fascículo
Jan-Apr 2022