RESUMO
Objetivo:
Este estudo tem como objetivo descrever como os valores pessoais dos membros de grupos de trabalho especializado impactam seus relacionamentos intragrupo baseados na confiança profissional e pessoal.
Originalidade/valor:
Três pontos norteiam as contribuições do presente estudo: 1. a consolidação de que a análise da confiança em grupos de trabalho tem resultados distintos nas relações instrumental (confiança profissional ou de reputação) e experimental (confiança pessoal ou de amizade) quando se verifica a diferença na predominância de valores pessoais para cada tipo de relacionamento; 2. a utilização da teoria funcionalista dos valores humanos e de técnicas da análise de redes sociais (ARS) em conjunto com técnicas clássicas quantitativas, como a ANOVA e a regressão múltipla; 3. em termos gerenciais, a verificação dos valores pessoais que favorecem a organização e o modo como se estruturam as relações de confiança no grupo.
Design/metodologia/abordagem:
O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo descritiva com abordagem quantitativa. Foi aplicada uma survey com 171 participantes de dois grupos táticos da polícia de Brasília, utilizando o questionário QVB de valores funcionalistas e um questionário com oito perguntas sobre os relacionamentos instrumental e expressivo. Utilizaram-se a análise fatorial confirmatória para evidenciar a validade do instrumento e a ARS para os relacionamentos de confiança. No caso das relações entre valores e relacionamentos, adotaram-se a ANOVA e a regressão múltipla.
Resultados:
Os grupos táticos apresentaram características de valores pessoais mais pragmáticos e com menos valorização de individualismo, denotando características de valorização da execução e do coletivismo intragrupo. Os valores normativo e suprapessoal foram negativamente relacionados, respectivamente, às relações de amizade e profissionais, enquanto o valor realização foi positivamente relacionado às duas relações de confiança.
PALAVRAS-CHAVE:
Valores pessoais; Confiança; Redes sociais; Amizade; Reputação profissional
ABSTRACT
Objectives:
This article aims to describe how the personal values of members of specialized workgroups impact their intra-group relationships based on professional and personal trust.
Originality/value:
The contributions of this study are threefold: 1. the consolidation that the analysis of trust in work groups has different results in the instrumental (professional or reputation trust) and the experimental (personal or friendship trust) relationship when verifying difference in the predominance of personal values for each type relationship; 2. the use of the functionalist theory of human values and to the use of social network analysis techniques and in conjunction with classical quantitative techniques such as ANOVA and multiple regression; 3. the verification of personal values that contributes to the organization and how trust relationships are structured in the group.
Design/methodology/approach:
The present study is characterized as descriptive field research with a quantitative approach. A survey was conducted with 171 participants from the two tactical groups of the Brasília police, using the Basic Values Questionnaire (BVQ) questionnaire of functionalist values and a questionnaire with eight questions about the instrumental and expressive relationship. Confirmatory factor analysis was used to evidence the validity of the instrument, analysis of social networks (ASN) for trust relationships and ANOVA, and multiple regression for relationships between values and relationships.
Findings:
The tactical groups presented characteristics of more pragmatic personal values and with less appreciation of individualism, denoting characteristics of appreciation of execution and intragroup collectivism. The normative and supra-personal values were negatively related, respectively, to friendship and professional relationships, while the achievement value was positively related to both trust relationships.
KEYWORDS:
Personal values; Confidence; Social networks; Friendship; Professional reputation
INTRODUÇÃO
Seja na vida em sociedade ou no ambiente de trabalho, o relacionamento interpessoal é fundamental para o desenvolvimento pessoal e das tarefas; afinal, o ser humano compartilha suas crenças e seus valores, aprende e se desenvolve por meio dos relacionamentos. No ambiente profissional, estimulam-se novos relacionamentos interpessoais e a formação de grupos que irão trabalhar em conjunto, e isso pode impactar o desempenho da organização, pois os novos relacionamentos profissionais podem ser integrativos, como em casos de coesão e integração do grupo, ou disruptivos, com conflitos e competitividade não saudável. Assim, não basta que os integrantes do grupo sejam altamente qualificados para que o desempenho seja satisfatório e a equipe efetiva. É necessário que a equipe seja capaz de trabalhar em conjunto para obter sucesso em seu objetivo.
Entretanto, as relações sociais em um grupo são desigualmente distribuídas, de tal forma que cada par de relacionamento é diferente dos outros. Por esse motivo, essas relações são chamadas de relações diádicas, ou seja, cada membro tem um relacionamento diferente com outro membro do grupo, formando pares de relacionamento. Dessas relações, surge o compartilhamento de valores pessoais que formam a confiança entre os membros de uma organização (Reed, 2001Reed, M. I. (2001). Organization, trust and control: A realist analysis. Organization Studies, 22(2), 201–228. doi:10.1177/0170840601222002
https://doi.org/10.1177/0170840601222002...
). Dessa confiança, surgem as relações de amizade, que são importantes, pois podem mudar valores e comportamentos dos indivíduos, mudando o seu jeito de ser e até seu caráter (Bernstein, 2007Bernstein, M. (2007). Friends without favoritism. Journal of Value Inquiry, 41(1), 59–76. doi:10.1007/s10790-007-9061-0
https://doi.org/10.1007/s10790-007-9061-...
). Os valores pessoais são concepções próprias de um indivíduo, que tem em sua função, mais que um orientador de ações, um representante dos princípios, dos critérios ou das metas que guiam a vida dos seres humanos (Schwartz, 1992Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25(C), 1–65. doi:10.1016/s0065-2601(08)60281-6
https://doi.org/10.1016/s0065-2601(08)60...
).
Nos relacionamentos em redes sociais, a confiança é um elemento essencial para a efetividade das relações entre os atores delas. O relacionamento baseado em confiança vem sendo evidenciado em seguidos trabalhos realizados por áreas de teorias organizacionais e sociologia econômica (De Jong, Dirks, & Gillespie, 2016De Jong, B. A., Dirks, K. T., & Gillespie, N. (2016). Trust and team performance: A meta-analysis of main effects, moderators, and covariates. Journal of Applied Psychology, 101(8), 1134–1150. doi:10.1037/apl0000110
https://doi.org/10.1037/apl0000110...
; Martins, Faria, Prearo, & Arruda, 2017Martins, D. M., Faria, A. C. de, Prearo, L. C., & Arruda, A. G. S. (2017). The level of influence of trust, commitment, cooperation, and power in the interorganizational relationships of Brazilian credit cooperatives. Revista de Administração, 52(1), 47–58. doi:10.1016/j.rausp.2016.09.003
https://doi.org/10.1016/j.rausp.2016.09....
). Reed (2001)Reed, M. I. (2001). Organization, trust and control: A realist analysis. Organization Studies, 22(2), 201–228. doi:10.1177/0170840601222002
https://doi.org/10.1177/0170840601222002...
defende a confiança como representação de um mecanismo de coordenação com base na partilha de valores morais e normas coletivas para apoiar a cooperação e colaboração em ambientes incertos.
Assim, considerando que os valores pessoais representam princípios que guiam a vida dos seres humanos, guiando também seus relacionamentos de confiança, e que as relações de confiança podem impactar diretamente o desempenho, surge a seguinte pergunta:
-
Como os valores pessoais influenciam os relacionamentos em grupos táticos da polícia?
Para responder à pergunta, a população de análise escolhida foi a dos grupos táticos da Polícia Militar de Brasília, capital do Brasil. Tais grupos caracterizam-se por ter a missão específica de enfrentamento de ocorrências policiais de alto risco, envolvendo arma de fogo. A escolha deve-se ao fato de esses grupos terem a característica específica de estarem constantemente com nível de alerta elevado e sob a pressão do risco de morte, o que pressupõe diferentes níveis relacionais e compartilhamento de valores, e que a interação social informal e a estruturação da confiança tenham influência significativa na efetividade da rede.
2REFERENCIAL TEÓRICO
2.1Relações interpessoais e confiança
Durante as primeiras pesquisas em relações interpessoais, constatou-se que existe um estreito relacionamento entre os resultados de produtividade e a eficiência de um grupo, e não somente a competência de seus membros, mas, sobretudo, em relação à ajuda e ao amparo nas suas relações interpessoais (Lewin, 1947Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics: Concept, method and reality in social science; social equilibria and social change. Human Relations, 1(1), 5–41. doi:10.1177/001872674700100103
https://doi.org/10.1177/0018726747001001...
). No último século, a expressão “redes sociais” foi usada livremente para deixar evidentes os vários conjuntos de relações entre os participantes dos sistemas sociais existentes, de diferentes escalas e dimensões, desde relações pessoais até relações institucionais (Lima & Pereira, 2017Lima, J. L. de A., Neto, & Pereira, H. B. de B. (2017). A rede social de ajuda-mútua de Narcóticos Anônimos: A relevância do prestígio, da centralidade de intermediação entre os membros. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, 28(1), 91–103.).
No ambiente de trabalho, a análise em redes socias tem apresentado resultados antagônicos, sendo proposto que os construtos relacionais deveriam ser analisados em dois tipos de relacionamento: os instrumentais (voltados para a execução da tarefa) e os expressivos (voltados para as relações pessoais), suprindo uma rara distinção entre relações amigáveis e amizade, pois, quando se analisa a estrutura, podem-se observar os tipos de recurso e o fluxo de informação que, de forma ampla, podem explicar os processos do grupo de trabalho que influenciam em seu desempenho (Henttonen, Janhonen, & Johanson, 2013Henttonen, K., Janhonen, M., & Johanson, J. (2013). Internal social networks in work teams: Structure, knowledge sharing and performance. International Journal of Manpower, 34(6), 616–634. doi:10.1108/IJM-06-2013-0148
https://doi.org/10.1108/IJM-06-2013-0148...
). A divisão da análise de construtos relacionais, como a confiança, foi reforçada em outros estudos (Crawford & Lepine, 2013Crawford, E. R., & Lepine, J. A. (2013). A configural theory of team processes: Accounting for the structure of taskwork and teamwork. Academy of Management Review, 38(1), 32–48. doi:10.5465/amr.2011.0206
https://doi.org/10.5465/amr.2011.0206...
), que separam a análise em instrumental (relação por reputação) e expressiva (relação por amizade).
Existe, nas redes sociais, uma valorização das relações interpessoais, dos seus elos e das relações informais, em detrimento das estruturas formais hierárquicas (Marteleto, 2001Marteleto, R. M. (2001). Análise de redes sociais: Aplicação nos estudos de transferência da informação. Ciência da Informação, 30(1), 71–81. doi:10.1590/S0100-19652001000100009
https://doi.org/10.1590/S0100-1965200100...
). As relações interpessoais são inerentes a um ambiente social, profissional ou não, em que ocorrem os relacionamentos e o fluxo constante de informação. Para compreender os fluxos de informação e as relações em redes sociais, bem como sua influência, é fundamental investigar as ligações e interações dos atores da rede (Vergueiro & Sugahara, 2010Vergueiro, W., & Sugahara, C. R. (2010). Aspectos conceituais e metodológicos de redes sociais e sua influência no estudo de fluxos de informação. Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 7(2), 102–117. doi:10.20396/rdbci.v7i2.1959
https://doi.org/10.20396/rdbci.v7i2.1959...
).
É possível mapear as várias transações e dimensões relacionais quando se definem critérios como: amizade, confiança, informação, normas, entre outros (Nahapiet & Ghoshal, 1998Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. The Academy of Management Review, 23(2), 242–266. doi:10.5465/amr.1998.533225
https://doi.org/10.5465/amr.1998.533225...
). Confiar se refere, essencialmente, a saber até que ponto uma pessoa está disposta a agir com base nas palavras, ações e decisões de outra (McAllister, 1995McAllister, D. J. (1995). Affect and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of Management Journal, 38(1), 24–59. doi:10.2307/256727
https://doi.org/10.2307/256727...
). Assim, a confiança interpessoal pode ser definida como uma disposição de determinado indivíduo para estar vulnerável à outra parte do relacionamento com base em expectativas positivas das ações do outro (Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer, 1998Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). Not so different after all: A cross-discipline view of trust. Academy of Management Review, 23(3), 393–404. doi:10.5465/amr.1998.926617
https://doi.org/10.5465/amr.1998.926617...
). Cabe ressaltar que a confiança em nível diádico pode nem sempre convergir para a mutualidade, ou seja, é importante sempre considerar os dois lados do relacionamento (Korsgaard, Brower, & Lester, 2015Korsgaard, M. A., Brower, H. H., & Lester, S. W. (2015). It isn’t always mutual: A critical review of dyadic trust. Journal of Management, 41(1), 47–70. doi:10.1177/0149206314547521
https://doi.org/10.1177/0149206314547521...
). Não se pode assumir que o nível de confiança será o mesmo partindo de cada indivíduo. Assim, destaca-se a importância da abordagem de redes sociais a ser utilizada no presente trabalho.
As amizades são importantes, pois podem mudar valores e comportamentos das pessoas, mudando a forma de ser do indivíduo (Bernstein, 2007Bernstein, M. (2007). Friends without favoritism. Journal of Value Inquiry, 41(1), 59–76. doi:10.1007/s10790-007-9061-0
https://doi.org/10.1007/s10790-007-9061-...
). Essa confiança é elemento essencial para a efetividade das relações interpessoais por meio da diminuição de incertezas relacionais. A confiança pode ser vista como uma “prima” do poder e da influência em uma rede que, embora baseada no passado, orienta o futuro das ações e relações (Thorelli, 1986Thorelli, H. B. (1986). Network: Between markets and hierarchies. Strategic Management Journal, 7(1), 37–51. doi:10.1002/smj.4250070105
https://doi.org/10.1002/smj.4250070105...
). O estabelecimento de laços de confiança não ocorre somente por meio da relação direta entre as partes, ela pode se estabelecer, também, de forma indireta, pela percepção de terceiros. Logo, seja por uma percepção individual ou coletiva, uma pessoa pode confiar porque seu amigo ou seu grupo confia e partilha os mesmos valores. O mecanismo pelo qual se estabelece a confiança por terceiros também pode ser chamado de reputação interpessoal (Ryan, 2004Ryan, S. (2004). Initial trust formation in an online social action network. Contesting Citizenship and Civil Society in a Divided World. Ryerson University and York University Toronto, Canada, 1–25.).
Devido à interdependência inerente ao trabalho em grupo, é necessária a confiança entre os membros da equipe para o processo e desempenho efetivo do grupo, pois ela afeta a capacidade e vontade de trabalhar em conjunto na direção de um objetivo comum (Mayfield, Tombaugh, & Lee, 2016Mayfield, C. O., Tombaugh, J. R., & Lee, M. (2016). Psychological collectivism and team effectiveness: Moderating effects of trust and psychological safety. Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, 20(1), 78–95.). O tamanho do efeito da confiança intragrupo no desempenho apresenta magnitude estimativa maior que a estimativa média de outras construções em nível de equipe, cerca de 60% maior que a média no campo organizacional (De Jong et al., 2016De Jong, B. A., Dirks, K. T., & Gillespie, N. (2016). Trust and team performance: A meta-analysis of main effects, moderators, and covariates. Journal of Applied Psychology, 101(8), 1134–1150. doi:10.1037/apl0000110
https://doi.org/10.1037/apl0000110...
), reafirmando a importância da confiança relacionada ao desempenho em nível de equipe.
Nos relacionamentos organizacionais, o comportamento confiável contribui para gerar confiança entre os membros e pode ser categorizado em: consistência comportamental, integridade comportamental, compartilhamento e delegação de controle, comunicação e demonstração de preocupação (Whitener, Brodt, Korsgaard, & Werner, 1998Whitener, E. M., Brodt, S. E., Korsgaard, M. A., & Werner, J. M. (1998). Managers as initiators of trust: An exchange relationship framework for understanding managerial trustworthy behavior. The Academy of Management Review, 23(3), 513–530. doi:10.5465/amr.1998.926624
https://doi.org/10.5465/amr.1998.926624...
). Estudos sobre comportamento, um dos principais tópicos em psicologia social, comumente são constituídos de dois preditores: valores e atitudes (Milfont, Duckitt, & Wagner, 2010Milfont, T. L., Duckitt, J., & Wagner, C. (2010). The higher order structure of environmental attitudes: A cross-cultural examination. Interamerican Journal of Psychology, 44(2), 263–273.). A relação estrutural entre valor, atitude e comportamento se iniciou com pesquisas de compra de alimentos (Homer & Kahle, 1988Homer, P. M., & Kahle, L. R. (1988). A structural equation test of the value-attitude-behavior hierarchy. Journal of Personality and Social Psychology, 54(4), 638–646. doi:10.1037/0022-3514.54.4.638
https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.4.6...
) e perdura em diversos outros temas, como uso de bebidas alcoólicas (Medeiros, Pimentel, Monteiro, Gouveia, & Medeiros, 2015Medeiros, E. D. de, Pimentel, C. E., Monteiro, R. P., Gouveia, V. V., & Medeiros, P. C. B. de (2015). Valores, atitudes e uso de bebidas alcoólicas: Proposta de um modelo hierárquico. Psicologia: Ciência e Profissão, 35(3), 841–854. doi:10.1590/1982-3703001532013
https://doi.org/10.1590/1982-37030015320...
) e liderança transformacional (Castillo, Adell, & Alvarez, 2018Castillo, I., Adell, F. L., & Alvarez, O. (2018). Relationships between personal values and leadership behaviors in basketball coaches. Frontiers in Psychology, 12(9), 1–14. doi:10.3389/fpsyg.2018.01661
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01661...
). Assim, os valores estão na base das atitudes e dos comportamentos.
As relações interpessoais tiveram papel explicativo em estudos envolvendo o bem-estar organizacional associado à congruência de valores pessoais. O estudo de Sortheix e Lönnqvist (2015)Sortheix, F. M., & Lönnqvist, J.-E. (2015). Person-group value congruence and subjective well-being in students from Argentina, Bulgaria and Finland: The role of interpersonal relationships. Journal of Community & Applied Social Psychology, 25(1), 34–48. doi:10.1002/casp.2193
https://doi.org/10.1002/casp.2193...
, feito no ambiente universitário, demonstrou que a maior semelhança de valores pessoais teve um efeito benéfico no bem-estar do ambiente organizacional, corroborando os estudos em nível pessoa-ambiente, em que a compatibilidade entre um indivíduo e um ambiente de trabalho é favorável quando suas características são bem combinadas (Maslach & Leiter, 2008Maslach, C., & Leiter, M. P. (2008). Early predictors of job burnout and engagement. Journal of Applied Psychology, 93(3), 498–512. doi:10.1037/0021-9010.93.3.498
https://doi.org/10.1037/0021-9010.93.3.4...
). Para compreender os laços de confiança, acredita-se que exista relação desses laços com os valores pessoais de cada indivíduo, afinal, a confiança representa um mecanismo de coordenação baseado na partilha de valores (Reed, 2001Reed, M. I. (2001). Organization, trust and control: A realist analysis. Organization Studies, 22(2), 201–228. doi:10.1177/0170840601222002
https://doi.org/10.1177/0170840601222002...
). Além disso, os valores pessoais são os representantes dos princípios, dos critérios ou das metas que guiam os seres humanos (Schwartz, 1992Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25(C), 1–65. doi:10.1016/s0065-2601(08)60281-6
https://doi.org/10.1016/s0065-2601(08)60...
), e a compreensão desses valores é um possível preditor dos laços de confiança na organização, aspecto abordado no próximo tópico.
Valores pessoais
Compreender os valores pessoais significa identificar o ser humano em sua essência. A índole e os comportamentos humanos dependem dos critérios de valoração aos quais cada pessoa obedece. As pesquisas sobre os valores humanos têm amadurecido e acumulado conhecimento desde o estudo da transformação cultural do imigrante polonês na América (Thomas & Znaniecki, 1919Thomas, W., & Znaniecki, F. (1919). The Polish peasant in Europe and America: Monograph of an immigrant group. The University of Chicago Press, 3, 18–22.). Vários trabalhos foram realizados desde então: orientação valorativa com base na teoria da ação (Kluckhohn, 1951Kluckhohn, C. (1951). Values and value-orientation in the theory of action: An exploration in definition and classification. Toward a General Theory of Action, 388–433. doi:10.4159/harvard.9780674863507.c8
https://doi.org/10.4159/harvard.97806748...
), estudo da motivação e personalidade (Maslow, 1954Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Brothers.) e pesquisas sobre a natureza dos valores humanos (Rokeach, 1973Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.). Atualmente, destaca-se o teste de validade transcultural de modelos abordado pela teoria dos valores básicos e individuais (Schwartz,1992Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25(C), 1–65. doi:10.1016/s0065-2601(08)60281-6
https://doi.org/10.1016/s0065-2601(08)60...
, 2006, 2012) e com versões mais parcimoniosas, como a teoria funcionalista dos valores humanos (Gouveia, 2003Gouveia, V. V. (2003). A natureza motivacional dos valores humanos: Evidências acerca de uma nova tipologia. Estudos de Psicologia, 8(3), 431–443. doi:10.1590/S1413-294X2003000300010
https://doi.org/10.1590/S1413-294X200300...
).
O valor pessoal pode ser definido como princípio desejável: “concepção, explícita ou implícita, própria de um indivíduo ou característica de um grupo, acerca do desejável, o que influencia a seleção dos modos, meios e fins de ações acessíveis” (Kluckhohn, 1951, p. 473Kluckhohn, C. (1951). Values and value-orientation in the theory of action: An exploration in definition and classification. Toward a General Theory of Action, 388–433. doi:10.4159/harvard.9780674863507.c8
https://doi.org/10.4159/harvard.97806748...
). Tal definição foi considerada um terreno fértil para outros pesquisadores (Gouveia, 2003Gouveia, V. V. (2003). A natureza motivacional dos valores humanos: Evidências acerca de uma nova tipologia. Estudos de Psicologia, 8(3), 431–443. doi:10.1590/S1413-294X2003000300010
https://doi.org/10.1590/S1413-294X200300...
; Rokeach, 1973Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.; Schwartz, 1992Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25(C), 1–65. doi:10.1016/s0065-2601(08)60281-6
https://doi.org/10.1016/s0065-2601(08)60...
; Schwartz et al., 2012Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1–20. doi:10.9707/2307-0919.1116
https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116...
). Os estudos de Rokeach (1973)Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press. são considerados o cerne dos modelos de valores e referência obrigatória para qualquer pesquisador que queira se aventurar nos estudos dos valores humanos, tais quais os que viriam décadas depois, como Schwartz e Gouveia. Rokeach (1973)Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press. crê que os valores totais de uma pessoa podem ser representados em um número relativamente pequeno e que todas as pessoas têm valores idênticos e organizados de maneira sistêmica, variando somente em intensidade. Ele ainda separa os valores em terminais (caracterizando estados finais de existência) e instrumentais (modos de conduta, sendo de competência e morais).
O modelo da teoria dos valores básicos e individuais refinada (Schwartz et al., 2012Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1–20. doi:10.9707/2307-0919.1116
https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116...
) é a principal referência no campo de valores humanos da atualidade, sendo entendidos como critérios para avaliar ações, outras pessoas e eventos. Os valores humanos podem ser definidos como princípios, critérios ou metas que transcendem ações e situações específicas, ordenados pela importância relativa aos demais e que guiam a vida dos indivíduos; diferentemente do simples estudo de uma lista de valores, passou-se a estudar um conjunto de metas motivacionais na tomada de decisão (Schwartz, 1992Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25(C), 1–65. doi:10.1016/s0065-2601(08)60281-6
https://doi.org/10.1016/s0065-2601(08)60...
). Essa teoria propôs um modelo unificador dos valores humanos como estrutura dinâmica entre categorias motivacionais de valores, no qual o indivíduo prioriza os valores compatíveis e trata com baixa prioridade os incompatíveis, de forma não aleatória, e, portanto, tendo capacidade de predição de atitudes e comportamentos. Já na versão refinada da teoria (Schwartz et al. 2012Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1–20. doi:10.9707/2307-0919.1116
https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116...
), são definidos e ordenados os valores em um formato que se baseia em emoções compatíveis e conflitantes, proteção do ego contra crescimento e foco individual contra foco social, considerando 19 valores humanos básicos. No Brasil, o modelo também obteve índices de validação (Torres, Schwartz, & Nascimento, 2016Torres, C. V., Schwartz, S. H., & Nascimento, T. G. (2016). A teoria de valores refinada: Associações com comportamento e evidências de validade discriminante e preditiva. Psicologia USP, 27(2), 341–356. doi:10.1590/0103-656420150045
https://doi.org/10.1590/0103-65642015004...
).
Teoria funcionalista dos valores humanos
Outro modelo que surgiu e foi validado no Brasil é o modelo da teoria funcionalista dos valores humanos (Gouveia, 2003Gouveia, V. V. (2003). A natureza motivacional dos valores humanos: Evidências acerca de uma nova tipologia. Estudos de Psicologia, 8(3), 431–443. doi:10.1590/S1413-294X2003000300010
https://doi.org/10.1590/S1413-294X200300...
). Tal teoria começou a ser desenvolvida no final da década de 1990 e tem evoluído desde então (Gouveia, 2003Gouveia, V. V. (2003). A natureza motivacional dos valores humanos: Evidências acerca de uma nova tipologia. Estudos de Psicologia, 8(3), 431–443. doi:10.1590/S1413-294X2003000300010
https://doi.org/10.1590/S1413-294X200300...
; Gouveia, Milfont, & Guerra, 2014aGouveia, V. V., Milfont, T. L., & Guerra, V. M. (2014a). Functional theory of human values: Testing its content and structure hypotheses. Personality and Individual Differences, 60, 41–47. doi:10.1016/j.paid.2013.12.012
https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.12.0...
; Medeiros et al., 2012Medeiros, E. D. de, Gouveia, V., Gusmao, E., Milfont, T., Fonseca, P., & De Aquino, T. (2012). Teoria funcionalista dos valores humanos: Evidências de sua adequação no contexto paraibano. Revista de Administração Mackenzie, 13(3), 18–44. doi:10.1590/S1678-69712012000300003
https://doi.org/10.1590/S1678-6971201200...
). Por mais que tal estudo seja menos conhecido que a teoria dos valores básicos e individuais (Schwartz,1992Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25(C), 1–65. doi:10.1016/s0065-2601(08)60281-6
https://doi.org/10.1016/s0065-2601(08)60...
), até o ano de 2011 já haviam sido realizados estudos com mais de 50 mil pessoas de 12 países diferentes, incluindo o Brasil (Medeiros, 2011Medeiros, E. D. de (2011). Teoria funcionalista dos valores humanos: Testando sua adequação intra e interculturalmente (Tese de doutorado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil). Retrieved fromhttps://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/6877?locale=pt_BR
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle...
). A teoria funcionalista foi escolhida para análise do presente estudo porque, além de se mostrar consistente, também é mais parcimoniosa, contendo apenas seis valores principais e com questionário que dura aproximadamente três minutos para sua aplicação (Gouveia, Milfont, & Guerra, 2014bGouveia, V. V., Milfont, T. L., & Guerra, V. M. (2014b). The functional theory of human values: From intentional overlook to first acknowledgment – A reply to Schwartz (2014). Personality and Individual Differences, 68, 250–253. doi:10.1016/j.paid.2014.03.025
https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.03.0...
), enquanto a aplicação do Questionário de Valores Básicos (QVB) refinado tem duração de dez minutos (Schwartz, 2014Schwartz, S. H. (2014). Functional theories of human values: Comment on Gouveia, Milfont, and Guerra (2014). Personality and Individual Differences, 68, 247–249. doi:10.1016/j.paid.2014.03.024
https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.03.0...
).
Na teoria funcionalista, os valores são vistos como princípios-guias que estão disponíveis para qualquer pessoa, diferindo apenas em magnitude, os quais têm influência pelo tipo de socialização e pelo contexto sociocultural de cada indivíduo (Gouveia, 2003Gouveia, V. V. (2003). A natureza motivacional dos valores humanos: Evidências acerca de uma nova tipologia. Estudos de Psicologia, 8(3), 431–443. doi:10.1590/S1413-294X2003000300010
https://doi.org/10.1590/S1413-294X200300...
). São propostas na teoria duas funções consensuais na literatura: 1. tipo orientação, que guia as ações dos homens (Rokeach, 1973Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.; Schwartz, 1992Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25(C), 1–65. doi:10.1016/s0065-2601(08)60281-6
https://doi.org/10.1016/s0065-2601(08)60...
; Schwartz et al., 2012Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1–20. doi:10.9707/2307-0919.1116
https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116...
); e 2. tipo motivador, que expressa as necessidades humanas (Maslow, 1954Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Brothers.). Dessa forma, as funções dos valores são definidas como aspectos de cunho psicológico que guiam comportamentos e representam necessidades humanas cognitivas (Gouveia, Milfont, Fischer, & Coelho, 2009Gouveia, V. V., Milfont, T., Fischer, R., & Coelho, J. (2009). Teoria funcionalista dos valores humanos: Aplicações para organizações. Revista de Administração Mackenzie, 10(3), 34–59. doi:10.1590/S1678-69712009000300004
https://doi.org/10.1590/S1678-6971200900...
).
A primeira função, de guiar as condutas humanas, denominada tipo orientação, é composta por três possibilidades de orientação: social, central e pessoal. As dimensões valorativas pessoal e social, já definidas nos valores terminais (Rokeach, 1973Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.), vêm sendo vistas como importantes na orientação humana (Hofstede, 1980Hofstede, G. H. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values. New York: Sage.). Nelas, as pessoas guiadas por valores pessoais possuem foco intrapessoal, são mais egocêntricas, enquanto as guiadas por valores sociais têm foco interpessoal, são centradas na sociedade. Já a central refere-se a valores que se posicionam entre os sociais e os pessoais, e o terceiro grupo, ou central, se faz necessário por ser a referência dos outros dois, bem como a sua base estruturante e os considerados propósitos gerais de vida, como a sobrevivência (Gouveia et al., 2014aGouveia, V. V., Milfont, T. L., & Guerra, V. M. (2014a). Functional theory of human values: Testing its content and structure hypotheses. Personality and Individual Differences, 60, 41–47. doi:10.1016/j.paid.2013.12.012
https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.12.0...
).
A segunda função, de expressar as necessidades humanas, denominada tipo motivador, é composta por duas classificações de necessidades cognitivas: valores materialistas (pragmáticos) e humanitários (idealistas). Os valores materialistas expressam necessidades básicas, biológicas e sociais, que evidenciam objetivos específicos de interesse imediato, observância de regras normativas, dando importância às condições que podem assegurar sua própria existência. Já os valores humanitários expressam objetivos universais, baseados em ideias e princípios mais abstratos, valorizando as relações interpessoais como um fim em si mesmas (Gouveia et al., 2009Gouveia, V. V., Milfont, T., Fischer, R., & Coelho, J. (2009). Teoria funcionalista dos valores humanos: Aplicações para organizações. Revista de Administração Mackenzie, 10(3), 34–59. doi:10.1590/S1678-69712009000300004
https://doi.org/10.1590/S1678-6971200900...
).
Quando se combinam as duas funções, obtêm-se as seis subfunções que são a base da teoria funcionalista dos valores. Assim, as seis subfunções são: 1. normativa (social-materialista); 2. interativa (social-idealista); 3. existência (central-materialista); 4. suprapessoal (central-idealista); 5. realização (pessoal-materialista); e 6. experimentação (pessoal-idealista).
Embora outros pesquisadores considerem, de acordo com sua cultura ou seu contexto ambiental, um conjunto diferente de valores, descrevem-se a seguir as seis subfunções e os valores selecionados para representá-las (Gouveia et al., 2009Gouveia, V. V., Milfont, T., Fischer, R., & Coelho, J. (2009). Teoria funcionalista dos valores humanos: Aplicações para organizações. Revista de Administração Mackenzie, 10(3), 34–59. doi:10.1590/S1678-69712009000300004
https://doi.org/10.1590/S1678-6971200900...
):
-
1. Normativa: Essa subfunção é do tipo social-materialista e reflete a importância da manutenção das normas e culturas sociais. Normalmente, ela guia pessoas mais velhas, seguindo as normas convencionais e opondo-se a comportamentos não convencionais. Tem como valores básicos: obediência, religiosidade e tradição (Braithwaite & Scott, 1991Braithwaite, V. A., & Scott, W. A. (1991). Values. In J. P. Robinson, P. R. Shaver, & L. S. Wrightsman (Eds.), Measures of personality and social psychological attitudes (pp. 661–749). Harcourt Brace Jovanovich. doi:10.1016/B978-0-12-590241-0.50016-2
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-590241... ; Schwartz, 1992Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25(C), 1–65. doi:10.1016/s0065-2601(08)60281-6
https://doi.org/10.1016/s0065-2601(08)60... ). -
2. Interativa: É do tipo social-idealista, reflete a importância na experiência afetiva entre indivíduos e representa as necessidades de pertencimento, amor e afiliação. Essa subfunção enfatiza atributos mais afetivos e abstratos. Normalmente, guia pessoas mais jovens e orientadas para relações íntimas estáveis, sobretudo na constituição familiar. Tem como valores básicos: afetividade, convivência e apoio social (Rokeach, 1973Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.; Schwartz, 1992Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25(C), 1–65. doi:10.1016/s0065-2601(08)60281-6
https://doi.org/10.1016/s0065-2601(08)60... ). -
3. Existência: Do tipo central-materialista, é a subfunção mais importante do motivador materialista, pois seu propósito principal é assegurar as condições básicas para a sobrevivência biológica e psicológica do indivíduo. Normalmente, guia pessoas em contexto de escassez econômica ou que foram socializadas em ambientes com tais características. Tem como valores básicos: saúde, estabilidade pessoal e sobrevivência (Braithwaite & Law, 1985Braithwaite, V. A., & Law, H. G. (1985). Structure of human values: Testing the adequacy of the Rokeach value survey. Journal of Personality and Social Psychology, 49(1), 250–263. doi:10.1037/0022-3514.49.1.250
https://doi.org/10.1037/0022-3514.49.1.2... ; Levy, 1990Levy, S. (1990). Values and deeds. Applied Psychology, 39(4), 379–400. doi:10.1111/j.1464-0597.1990.tb01062.x
https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1990... ). -
4. Suprapessoal: Do tipo central-idealista, reflete a subfunção mais importante do motivador idealista, pois seu propósito principal é suprir a necessidade superior de autorrealização, bem como estética e cognição. Indica a importância de ideias abstratas, com menor ênfase em coisas concretas e materiais. Normalmente, guia pessoas que pensam de forma mais ampla e geral. Tem como valores básicos: beleza, conhecimento e maturidade (Braithwaite & Law, 1985Braithwaite, V. A., & Law, H. G. (1985). Structure of human values: Testing the adequacy of the Rokeach value survey. Journal of Personality and Social Psychology, 49(1), 250–263. doi:10.1037/0022-3514.49.1.250
https://doi.org/10.1037/0022-3514.49.1.2... ; Levy, 1990Levy, S. (1990). Values and deeds. Applied Psychology, 39(4), 379–400. doi:10.1111/j.1464-0597.1990.tb01062.x
https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1990... ; Rokeach, 1973Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.; Schwartz, 1992Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25(C), 1–65. doi:10.1016/s0065-2601(08)60281-6
https://doi.org/10.1016/s0065-2601(08)60... ). -
5. Realização: Do tipo pessoal-materialista, reflete as necessidades de autoestima por meio da realização material. Representa imediatismo com foco em realização material e pessoal. Normalmente, guia pessoas que dão importância à hierarquia baseada em competência pessoal, sendo muitas vezes jovens adultos, em fase produtiva, ou indivíduos educados em contextos disciplinares e formais, que apreciam uma sociedade organizada e estruturada. Tem como valores básicos: poder, êxito (Braithwaite & Scott, 1991Braithwaite, V. A., & Scott, W. A. (1991). Values. In J. P. Robinson, P. R. Shaver, & L. S. Wrightsman (Eds.), Measures of personality and social psychological attitudes (pp. 661–749). Harcourt Brace Jovanovich. doi:10.1016/B978-0-12-590241-0.50016-2
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-590241... ) e prestígio (Schwartz, 1992Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25(C), 1–65. doi:10.1016/s0065-2601(08)60281-6
https://doi.org/10.1016/s0065-2601(08)60... ). -
6. Experimentação: Do tipo pessoal-idealista, reflete as necessidades fisiológicas de satisfação ou o princípio do prazer. Sua busca por status, harmonia e segurança social é menos pragmática, e seus valores têm foco em promover mudanças e inovações nas organizações sociais. Normalmente, guia pessoas jovens, que tendem a não se conformar com regras sociais. Tem como valores básicos: emoção (Schwartz, 1992Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25(C), 1–65. doi:10.1016/s0065-2601(08)60281-6
https://doi.org/10.1016/s0065-2601(08)60... ), prazer e sexualidade (Braithwaite & Scott, 1991Braithwaite, V. A., & Scott, W. A. (1991). Values. In J. P. Robinson, P. R. Shaver, & L. S. Wrightsman (Eds.), Measures of personality and social psychological attitudes (pp. 661–749). Harcourt Brace Jovanovich. doi:10.1016/B978-0-12-590241-0.50016-2
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-590241... ).
Desse modo, a composição dos valores funcionalistas (Gouveia et al., 2009Gouveia, V. V., Milfont, T., Fischer, R., & Coelho, J. (2009). Teoria funcionalista dos valores humanos: Aplicações para organizações. Revista de Administração Mackenzie, 10(3), 34–59. doi:10.1590/S1678-69712009000300004
https://doi.org/10.1590/S1678-6971200900...
; Gouveia et al., 2014aGouveia, V. V., Milfont, T. L., & Guerra, V. M. (2014a). Functional theory of human values: Testing its content and structure hypotheses. Personality and Individual Differences, 60, 41–47. doi:10.1016/j.paid.2013.12.012
https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.12.0...
) tem como principal estrutura a combinação de duas dimensões funcionais: uma corresponde ao tipo de orientação (social, central ou pessoal), e a outra, ao tipo de motivação (materialista ou idealista). Quando combinadas em uma matriz 2 x 3, resultam em seis subfunções que são os marcadores valorativos da teoria.
Apesar de todas as subfunções valorativas estarem presentes no indivíduo, a obtenção dos valores preponderantes dos membros, aliados ao desempenho em equipe, poderá indicar correlação de valores tidos como desejáveis na seleção desses membros. Em uma pesquisa de alta gestão, constatou-se que o valor de abertura à mudança de líderes em casos precedentes a problemas mal estruturados foi positivamente relacionado ao desempenho dos membros da equipe (Riviera, Domenico, & Sauaia, 2014Riviera, J. R., Domenico, S. M. R., & Sauaia, A. C. A. (2014). Influence of individual values dissimilarity in the outcome of top management teams: A study in a management lab. Review of Business Management, 16(50), 60–74.). Em uma pesquisa de líderes de pequenos grupos, os valores altruístas foram positivamente relacionados à eficácia de uma equipe, enquanto os valores conservadores obtiveram uma relação negativa (Van Dun & Wilderom, 2016Van Dun, D. H., & Wilderom, C. P. M. (2016). Lean-team effectiveness through leader values and members’ informing. International Journal of Operations & Production Management, 36(11), 1530–1550. doi:10.1108/IJOPM-06-2015-0338
https://doi.org/10.1108/IJOPM-06-2015-03...
).
As duas pesquisas, apesar de analisarem sob perspectivas diferentes, uma com grupos de alta gestão e outra somente com os líderes de pequenos grupos, observaram semelhanças nos valores correlacionados à eficácia ou ao desempenho dos grupos de trabalho. Para os autores, as diferenças de valores conservadores intragrupo ou a prevalência deles na liderança são negativamente relacionadas ao desempenho. Ambos também partiram de uma análise baseada na teoria dos valores básicos e individuais refinada (Schwartz et al., 2012Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1–20. doi:10.9707/2307-0919.1116
https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116...
), a teoria atualmente dominante no mundo, sendo importante a avaliação sob a perspectiva de outra escala de valores, tal qual a teoria funcionalista.
Cabe assim compreender os valores pessoais nos grupos de trabalho e como se caracterizam e influenciam nos relacionamentos intragrupo que têm impacto direto no desempenho.
3PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo descritiva com abordagem quantitativa. Para tal análise, realizou-se uma pesquisa com policiais militares de Brasília, no Distrito Federal, que compõem os batalhões de grupos táticos motorizados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Tais características se encaixaram nos grupos táticos da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo). Por tratar da totalidade dos policiais militares que trabalham na atividade-fim, este estudo é considerado censitário por abordar a totalidade do universo em questão (Marconi & Lakatos, 2003Marconi, M., & Lakatos, E. (2003). Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas.).
O instrumento de coleta de dados (ICD) utilizado foi composto por três blocos. O primeiro refere-se aos dados socioeconômicos, e o segundo tem duas partes de perguntas relacionais adaptadas de Burt (1992)Burt, R. S. (1992). Structural holes: The social structure of competition. Cambridge, MA: Harvard University Press. Retrieved fromhttp://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=ecn&an=0405891
http://search.epnet.com/login.aspx?direc...
, e cada uma dessas partes é composta por quatro perguntas estruturadas, em que o respondente deve dizer os nomes com os quais ele mantém o tipo de relação descrita, seja ela no ambiente de serviço para execução da tarefa ou fora das relações profissionais, em relações pessoais, para separar redes instrumentais e expressivas. O terceiro bloco é formado pelo QVB, já testado e com índices de validação em diversos países, incluindo o Brasil, que foi elaborado por Gouveia (2003)Gouveia, V. V. (2003). A natureza motivacional dos valores humanos: Evidências acerca de uma nova tipologia. Estudos de Psicologia, 8(3), 431–443. doi:10.1590/S1413-294X2003000300010
https://doi.org/10.1590/S1413-294X200300...
. O QVB contempla perguntas fechadas respondidas dentro da escala contínua intervalar de 1 a 7, sendo 1 para menor intensidade (totalmente não importante) e 7 para a maior intensidade (extremamente importante).
O ICD do tipo survey foi aplicado de maneira pessoal e no formato físico aos policiais que responderam em uma sala de aula, no seu próprio ambiente de trabalho. Para validar o presente questionário, no quesito relacional, aplicou-se um pré-teste em 20 policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP) de uma região administrativa de Brasília. Como resultado, foi necessário alterar a ordem das perguntas relacionais, uma vez que os respondentes se mostraram mais suscetíveis a responder às perguntas instrumentais à frente das expressivas. Com a finalidade de evidenciar a validação do ICD utilizado para mensuração dos valores pessoais, realizou-se uma análise fatorial confirmatória (AFC). Neste estudo, como sugerido por Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009)Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2009). Multivariate data analysis. Harlow, UK: Edinburgh Gate., utilizou-se a AFC para validar o modelo de mensuração com a finalidade de determinar se as relações entre os 18 marcadores valorativos e os seis valores funcionalistas de Gouveia (2003)Gouveia, V. V. (2003). A natureza motivacional dos valores humanos: Evidências acerca de uma nova tipologia. Estudos de Psicologia, 8(3), 431–443. doi:10.1590/S1413-294X2003000300010
https://doi.org/10.1590/S1413-294X200300...
são suportados pelos dados, de acordo com os objetivos da pesquisa.
Quanto às relações entre os atores, as medidas mais importantes usadas são as de centralidade, que correspondem à quantidade de relações que se coloca entre um ator e outros atores. Na análise de redes sociais (ARS), conceitos como o de centralidade estão relacionados às pesquisas de poder e prestígio na rede. De acordo com Borgatti, Everett e Johnson (2018)Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2018). Analyzing social networks. In J. Seaman (Ed.), Analyzing Social Networks (2nd ed., pp. 189–210). New York: Sage. e Wasserman e Faust (1994)Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and applications. Cambridge: Cambridge University Press., essas medidas identificam os “mais importantes” atores na rede social. Enquanto a centralidade, de maneira geral, avalia a posição privilegiada de um ator em relações não direcionadas, o prestígio é a análise da centralidade em relações direcionadas. Logo, a noção de prestígio é quantificada pelas escolhas dos atores, não sendo necessariamente recíproco, sobre as quais é necessária uma análise de grafos direcionais (Wasserman & Faust, 1994Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and applications. Cambridge: Cambridge University Press.).
Ao abordarem a centralidade para redes direcionadas e não valoradas, tal qual a confiança, Borgatti et al. (2018)Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2018). Analyzing social networks. In J. Seaman (Ed.), Analyzing Social Networks (2nd ed., pp. 189–210). New York: Sage. afirmam que as seguintes medidas são mais adequadas:
-
Centralidade de grau: É mensurada a partir do número de laços relacionais do ator e permite a visualização dos atores que assumem papéis centrais no contexto da rede. Pode ser dividida em grau de entrada (número de laços que o ator recebe) e grau de saída (número de laços que o ator estabelece). Wasserman e Faust (1994)Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and applications. Cambridge: Cambridge University Press. indicam que o grau de saída mede a expansividade do ator na rede, enquanto o grau de entrada mede o poder, o prestígio, a reputação ou ainda a receptividade do ator na rede.
-
Centralidade beta (poder de Bonacich): Leva em consideração fatores de atenuação ou de amplificação decorrentes de ligações indiretas e dos prestígios gerados por elas, que alteram a centralidade. Assim, outra forma de mensurar o poder na rede é analisar os atores que têm muitas relações com atores de baixa centralidade de grau. Estes sim teriam maior poder, conforme Bonacich (1987)Bonacich, P. (1987). Power and centrality: A family of measures. American Journal of Sociology, 92(5), 1170–1182. Retrieved fromhttps://www.jstor.org/stable/2780000?seq=1
https://www.jstor.org/stable/2780000?seq... , pois se ligam a muitos que têm poucos laços relacionais com outros atores. Logo, sob essa perspectiva, o ator com maior poder, além de ter muitos laços relacionais, deve os ter com atores de menor prestígio na rede. Portanto, pode-se pensar na centralidade beta como uma medida da quantidade total de influência potencial que um ator pode ter sobre os outros por meio de canais diretos e indiretos (Borgatti et al., 2018Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2018). Analyzing social networks. In J. Seaman (Ed.), Analyzing Social Networks (2nd ed., pp. 189–210). New York: Sage.).
Criaram-se grupos conforme centralidade de grau ou beta para análise. Realizou-se a divisão dos grupos com base na média do valor centralidade dos indivíduos, separando inicialmente em dois grupos. Para cada grupo, calculou-se novamente a média das centralidades e realizou-se uma nova divisão, que resultou num total de quatro grupos de centralidade: alta centralidade, médio-alta centralidade, médio-baixa centralidade e baixa centralidade. Os agrupamentos formados nas variáveis métricas em variáveis categóricas foram analisados mediante a variação da média. Para descrever as diferenças nas variáveis do modelo com base em variáveis categóricas, foi utilizada a análise de variância (ANOVA). Para os casos em que o teste ANOVA foi significativo (p < 0,05) e havia mais de dois grupos, realizou-se também o teste post hoc de Tukey e Bonferroni. Com os resultados significativos, foram elaborados gráficos de barras no software Excel com a barra de erro experimental expressa pelo erro padrão da ANOVA.
Por fim, utilizou-se a regressão múltipla para avaliar a relação entre a variável dependente e as variáveis independentes. O método inicial exploratório da regressão foi o stepwise por permitir ao pesquisador examinar a importância de cada variável independente do modelo de regressão, porém não é um bom indicador quando mais de uma variável independente só é significativa em conjunto na regressão (Hair et al., 2009Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2009). Multivariate data analysis. Harlow, UK: Edinburgh Gate.). Posteriormente foi utilizado o método Enter, ou inserir, para avaliar se existiam variáveis que, juntas, tinham poder preditivo da variável dependente. Utilizou-se também um sistema de equações estruturais para analisar o modelo proposto conforme dados encontrados na regressão múltipla.
No período de junho a agosto de 2018, quando foi realizada a coleta de dados, os batalhões da Rotam e do Patamo tinham, respectivamente, 122 e 76 policiais na atividade-fim, totalizando 198 indivíduos. Quando se aplicou a survey nos batalhões, obtiveram-se 107 respondentes na Rotam (87,7% dos policiais da atividade-fim) e 64 no Patamo (84,2% dos policiais da atividade-fim), população total de 171 respondentes dos 198 totais. Os 27 policiais não entrevistados (15 da Rotam e 12 do Patamo) não puderam participar porque se encontravam em uma das seguintes situações: férias, dispensa médica, cedido para instrução em outro órgão do governo ou dispensa-paternidade.
4RESULTADO E DISCUSSÃO
Coletaram-se os valores pessoais com base na escala de Gouveia (2003)Gouveia, V. V. (2003). A natureza motivacional dos valores humanos: Evidências acerca de uma nova tipologia. Estudos de Psicologia, 8(3), 431–443. doi:10.1590/S1413-294X2003000300010
https://doi.org/10.1590/S1413-294X200300...
, o QVB que foi testado, até 2011, em mais de 50 mil pessoas e em 12 países diferentes, incluindo o Brasil e regiões (Medeiros, 2011Medeiros, E. D. de (2011). Teoria funcionalista dos valores humanos: Testando sua adequação intra e interculturalmente (Tese de doutorado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil). Retrieved fromhttps://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/6877?locale=pt_BR
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle...
). Cada valor é composto por três marcadores valorativos, totalizando 18 que representam seis valores. Na Figura 4.1, estão descritos os resultados médios (m) das respostas, bem como seu desvio padrão (dp), como resultado das respostas médias de todos os respondentes. Obtiveram-se maior média para o valor de religiosidade (m = 6,54, dp = 0,92) e menor média para o valor beleza (m = 4,21, dp = 1,52). Verificando as médias em ordem decrescente, com seu dp, em uma observação inicial os cinco marcadores valorativos de maior média pertencem ao tipo motivador materialista e ao tipo orientador entre central e social, ou seja, os cinco marcadores valorativos de maior média são componentes dos valores normativo e existência. Verifica-se ainda que os marcadores valorativos de maior média também foram os de menor dp, denotando uma menor variância de respostas. Já aqueles marcadores de menor média, abaixo de 5,00, também tiveram alto dp e, consequentemente, maior variação de respostas.
Ainda na Figura 4.1 é possível observar que as maiores médias com menores variações de respostas então nos valores normativos e existência, excetuando o marcador tradição, sendo valores mais constantes nos grupos táticos. O valor suprapessoal apresentou uma grande dissonância de respostas entre os marcadores beleza e maturidade, denotando que os grupos táticos têm uma homogeneidade no marcador maturidade, com maior média e baixa variações, e mais heterogêneo em beleza, menor média com alta variação. No valor realização, o marcador êxito destacou-se com maior média e menor desvio, denotando a importância de alcançar os objetivos acima de poder e prestígio.
Para a análise dos seis valores funcionais, foi necessário confirmar a validação da referida escala no contexto da pesquisa, sendo realizada também uma AFC do QVB. Para a AFC, verificou-se inicialmente a normalidade para os 18 itens do questionário, em que todos os itens foram significativos, p < 0,001, para os testes de Kolmogorov-Smirnov (K-S) e Shapiro-Wilk (S-W). A medida da normalidade é importante, pois, se a variação em relação à distribuição normal é suficientemente grande, todos os testes estatísticos são inválidos (Hair et al., 2009Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2009). Multivariate data analysis. Harlow, UK: Edinburgh Gate.).
Para a análise do ajuste do modelo, consideraram-se os seguintes índices de ajustes múltiplos para avaliação da estrutura de covariação (Byrne, 2001Byrne, B. M. (2001). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Mahwah, NJ: Lawrence Erbaum.): índice de qualidade do ajuste (goodness of it index – GFI), raiz do erro quadrático médio de aproximação (root mean square error of approximation – RMSEA), raiz padronizada de resíduo médio (standardized root mean square residual – SRMR) e índice de ajuste comparativo (comparative fit index – CFI). Os três primeiros índices são medidas de ajuste absoluto, e o último é uma medida de ajuste incremental (Hair et al., 2009Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2009). Multivariate data analysis. Harlow, UK: Edinburgh Gate.). No presente estudo, os valores encontrados apresentaram-se como satisfatórios e corroboraram os valores de outras pesquisas (Gouveia et al., 2010Gouveia, V. V., Santos, W. S., Milfont, T. L., Fischer, R., Clemente, M., & Espinosa, P. (2010). Teoría funcionalista de los valores humanos en españa: Comprobación de las hipótesis de contenido y estructura. Interamerican Journal of Psychology, 44(2), 213–224.; Medeiros, 2011Medeiros, E. D. de (2011). Teoria funcionalista dos valores humanos: Testando sua adequação intra e interculturalmente (Tese de doutorado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil). Retrieved fromhttps://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/6877?locale=pt_BR
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle...
), sendo eles: GFI = 0,87, RMSEA = 0,07, SRMR = 0,07 e CFI = 0,82, valores consideráveis aceitáveis para o modelo.
Após a confirmação da adequação da escala, foram verificadas as características dos valores obtidos. Conforme a Figura 4.2, os dois valores de tipo orientador social obtiveram maior média, enquanto no pessoal foram os dois de menor média. Cabe relembrar que, de acordo com Gouveia (2013)Gouveia, V. V. (2013). Teoria funcionalista dos valores humanos. São Paulo: Casa do Psicólogo., o tipo orientador guia as ações humanas, que podem ser classificadas em social, pessoas que se pautam por valores sociais ou possuem foco interpessoal (metas sociais), pessoal, indivíduos guiados por valores pessoais que são egocêntricos ou possuem um foco intrapessoal (metas pessoais), e centrais, ou mistos, aparecem entre os sociais e pessoais, representando cognitivamente o eixo principal das necessidades humanas. Além disso, o tipo motivador tem a função de dar expressão às necessidades humanas, sendo elas materialistas (pragmáticas) ou idealistas (humanitárias).
Assim, observa-se na Figura 4.2 uma prevalência de orientação de comportamento mais social que pessoal. Além disso, o tipo motivador materialista tem maior média associado ao social e ao central, enquanto a orientação pessoal tem maior média associada à orientação idealista, corroborando o resultado encontrado por Van Dun e Wilderom (2016)Van Dun, D. H., & Wilderom, C. P. M. (2016). Lean-team effectiveness through leader values and members’ informing. International Journal of Operations & Production Management, 36(11), 1530–1550. doi:10.1108/IJOPM-06-2015-0338
https://doi.org/10.1108/IJOPM-06-2015-03...
, em que equipes de alto desempenho têm prevalência de valores mais altruístas. Assim, os valores com maior média, existência e normativo (acima de 6,00), podem representar pessoas que foram socializadas em ambientes de restrição e que têm adesão a normas convencionais (Gouveia, 2013Gouveia, V. V. (2013). Teoria funcionalista dos valores humanos. São Paulo: Casa do Psicólogo.). Tais características corroboram o ambiente militar em que grupos táticos passam por treinamentos rigorosos e normas rígidas para que possam atuar em ambiente de risco.
Já o valor realização, com média 5,01, foi considerado o valor menos importante para os policiais de grupos táticos, apesar de ser um valor geralmente apreciado por jovens adultos, em fase produtiva, ou indivíduos educados em contexto disciplinares e formais (Gouveia, 2013Gouveia, V. V. (2013). Teoria funcionalista dos valores humanos. São Paulo: Casa do Psicólogo.). Os marcadores valorativos de poder e prestígio foram os principais com baixa avaliação de importância, enquanto o marcador êxito apresentou média alta. Tal característica pode representar que os policiais de grupos táticos valorizam o êxito em sua vida e profissão, mas não dão tanta importância ao reconhecimento pessoal, podendo refletir valores referentes ao espírito de grupo que repudia aquele que quer sobressair diante dos companheiros de serviço, priorizando o reconhecimento do grupo sobre o individual. Cabe ressaltar ainda que o valor suprapessoal, apesar de ser um valor central do ser humano, não teve grande importância final, principalmente devido ao marcador valorativo beleza que apresentou a menor média de importância. Tal resposta pode representar o contexto dos grupos táticos de valorizar o grupo sobre o destaque individual.
4.1Influência dos valores no relacionamento
Antes de avaliar a relação dos valores no relacionamento, foi verificado se havia distinção entre os valores dos dois grupos analisados. Quando se analisaram as diferenças sociométricas entre os grupos, obteve-se como destaque que o grupo da Rotam é composto em sua maioria por policiais com mais de dez anos de serviço, 66,35%, enquanto o grupo Patamo é composto em sua maioria por policiais com menos de dez anos de serviço, 73,44%. Por esse motivo, foi necessário avaliar a diferença de valores entre grupos antes da análise do todo. Consideraram-se significativos os valores p < 0,05. Os grupos Rotam e Patamo apresentaram diferença significativa para valores interativos, m = 5,82 (IC 95%, 5,60-6,04) e m = 5,40 (IC 95%, 5,18-5,61) respectivamente, e suprapessoais, m = 5,51 (IC 95%, 5,34-5,69) e m = 5,18 (IC 95%, 4,98-5,38). Tais dados corroboram a teoria funcionalista, em que aqueles que valorizam mais o suprapessoal costumam ser pessoas mais velhas e maduras. Já o valor interativo pode estar relacionado com o fato de o grupo Rotam preservar os grupos com os mesmos integrantes nas viaturas, enquanto o grupo Patamo tem uma política de rodízio de membros para que todos consigam trabalhar com todos.
As relações de confiança foram medidas por meio da centralidade de grau e beta das relações instrumentais e expressivas. As redes foram divididas em quatro grupos para cada centralidade, sendo eles: “alta centralidade”, “médio-alta centralidade”, “médio-baixa centralidade” e “baixa centralidade”. Quando se verificou a ANOVA dos valores funcionalistas com os quatro grupos de centralidade, obteve-se significância (p < 0,05) na diferença do valor suprapessoal na rede instrumental com atores agrupados por centralidade beta e diferença significativa (p < 0,05) no valor normativo na rede expressiva com atores agrupados por centralidade beta.
Na Figura 4.1.1, apenas a diferença entre os grupos “alta centralidade beta”, m = 4,90 (IC 95%, 4,49-5,31), e “médio-alta centralidade beta”, m = 5,68 (IC 95%, 5,43-5,94), foi significativa (p < 0,01), sendo os responsáveis pela significância da ANOVA do valor suprapessoal com os grupos instrumentais de centralidade beta. Já no valor normativo, apenas a diferença entre os grupos “médio-alta centralidade beta”, m = 5,74 (IC 95%, 5,21-6,26), e “baixa centralidade beta”, m = 6,28 (IC 95%, 6,14-6,42), foi significante (p < 0,05), sendo os responsáveis pela significância da ANOVA no valor normativo com os grupos expressivos de centralidade beta. Nos demais grupos de centralidades instrumentais e expressivas, não houve diferença significativa entre os valores funcionais no teste de variância.
No resultado encontrado nas variâncias dos grupos de centralidade, foi possível verificar alguns pontos importantes. Primeiro, só foi possível encontrar significância em grupos por meio da centralidade beta, ou seja, aquela em que se consideram as características de quem deposita confiança e não somente a quantidade de indicações. Na rede instrumental, observa-se que o valor suprapessoal tem sua diferença significativa entre os dois grupos de maior centralidade beta e que sua maior queda se encontra no grupo de maior centralidade. Assim, a diferença pode representar que o grupo de ponta em reputação profissional nos grupos não valoriza tanto as ideias abstratas, sendo mais voltados ao pragmatismo (Gouveia, 2013Gouveia, V. V. (2013). Teoria funcionalista dos valores humanos. São Paulo: Casa do Psicólogo.).
Já na rede expressiva, ou de amizades, aqueles com menor centralidade beta ou que menos se apresentam com laços afetivos também são os que mais valorizam as normas sociais, como a preservação da cultura e normas convencionais (Gouveia, 2013Gouveia, V. V. (2013). Teoria funcionalista dos valores humanos. São Paulo: Casa do Psicólogo.). Assim, pessoas que dão muita importância à obediência e às normas são menos consideradas quanto a depósito de confiança afetiva.
Para verificar as relações lineares entre os valores pessoais funcionalistas e as centralidades nas relações, foi realizada uma regressão múltipla na qual entraram os seis valores funcionais como variáveis independentes e as centralidades de grau e beta de cada uma das três redes, totalizando seis análises de regressões múltiplas.
Os testes de regressão mostraram significância (p < 0,05) apenas para as redes instrumentais de centralidade de grau referente aos valores suprapessoal e realização e para as redes expressivas de centralidade beta referente aos valores normativo e realização. Todas as outras combinações de variáveis tiveram como resultado um modelo não significativo para p < 0,05. Assim, conforme a Figura 4.1.2, foram obtidos os valores B e beta e influência dos valores suprapessoal e realização na centralidade de grau da rede instrumental com um R2 de 0,04.
Os dados da regressão na Figura 4.1.2 evidenciam a relação positiva do valor realização e negativa do valor suprapessoal na centralidade de grau da rede instrumental. Apesar de a análise dos grupos só ter sido significativa para a centralidade beta quando relacionados o valor suprapessoal e a rede instrumental, a regressão reforçou a relação, porém considerando a centralidade de grau na relação negativa entre eles. Já o valor realização surge com uma relação positiva com a rede de reputação profissional.
Na análise da rede expressiva, a centralidade beta como variável dependente obteve modelo significativo (p < 0,05) para os valores normativo e realização. Conforme a Figura 4.1.3, o valor normativo tem relação negativa com a centralidade beta na rede expressiva e o valor realização tem relação positiva e um R2 de 0,05, reafirmando a relação negativa apresentada na análise de grupo anterior para o valor normativo e a rede expressiva, e repetindo a relação positiva anterior do valor realização.
Dessas análises, verifica-se que, apesar de o resultado encontrado na regressão representar conclusões semelhantes nas variáveis de influência negativa às redes, as informações contidas nas duas análises mostraram maior riqueza de detalhes na compreensão das relações. Na análise de variância, a centralidade beta tem melhor representação dos resultados para a análise de grupos, uma vez que o peso de sua composição, por considerar os tipos de ligação que o depositante da confiança tem, deixa evidente a diferença entre ter sido citado por uma pessoa que citou vários membros e outra que citou poucos ou somente um. Assim, o fato de fazer distinção com peso para cada tipo de relação pode ser um fato que represente melhor análises de variância. Como resultado, os grupos de mais alta centralidade beta instrumental, que provavelmente se diferenciaram pelas características dessa centralidade, mostraram-se com valores mais pragmáticos e menos abstratos que os demais membros de médio-alta centralidade. Na rede expressiva, os dois grupos de menor centralidade beta, ou seja, com menor relações de confiança afetiva, também são os que mais valorizam normas convencionais e obediência.
Na análise da regressão, os valores tiveram relação significativa com a rede instrumental de grau e com a rede expressiva beta, reforçando a verificação da centralidade beta para relações de amizade e uma melhor adequação da centralidade de grau para a rede de reputação profissional. Como resultado, as relações negativas do valor suprapessoal com a rede instrumental e do valor normativo com a rede expressiva denotam que as relações de reputação profissional estão diretamente ligadas à valorização do pragmatismo em detrimento do idealismo, o que significa valorizar mais a execução da tarefa do que a compreensão dela. Tal resultado é compreensível porque a atividade dos grupos táticos policiais se enquadra em grupos de trabalho que têm como ocupação a execução de uma tarefa em que seu resultado é mensurado de forma predominantemente pragmática. Já as relações de amizade se mostraram relacionadas à abertura para mudanças e à menor valorização da norma. Tais achados corroboram o resultado obtido por Riviera et al. (2014)Riviera, J. R., Domenico, S. M. R., & Sauaia, A. C. A. (2014). Influence of individual values dissimilarity in the outcome of top management teams: A study in a management lab. Review of Business Management, 16(50), 60–74. no que tange à importância da abertura à mudança para resolver problemas mal estruturados, uma vez que atores com essas características têm maiores laços afetivos no grupo, porém a relação com desempenho após a reestruturação dos problemas deverá ser negativa conforme o nosso estudo, indo de encontro à conclusão de que a estruturação do problema também pode ser considerada uma melhora de desempenho.
Cabe ressaltar que, apesar dos resultados significativos para as regressões, o seu efeito nos relacionamentos teve baixo poder explicativo (R²). Esse resultado pode representar que, entre a relação dos valores pessoais e a dos relacionamentos, pode existir uma variável intermediária que medeia ou modera essa relação; por conta disso, são necessárias novas pesquisas para elucidar os dados encontrados. Além disso, deve-se considerar que os valores pessoais são variáveis mais abstratas, enquanto os relacionamentos são variáveis mais concretas e relacionadas ao comportamento.
5CONCLUSÃO
Os valores pessoais podem ser considerados características individuais, de pouca mutabilidade, que influenciam no comportamento humano e que vêm de fora do ambiente de trabalho, constantemente em contato com os valores de outros membros no processo de execução da tarefa. Já a confiança, um construto extremamente importante nos processos em grupo, vem recentemente sendo mais bem compreendida nas organizações quando analisada de forma separada nas relações profissionais e pessoais. Com isso, o presente estudo demonstrou a relação dos valores pessoais na estrutura de confiança da equipe, seja profissional ou pessoal, e que existem valores de profissionais que podem contribuir para membros com melhor ou pior reputação profissional. Trabalhadores com altos valores de realização tendem a ser mais centrais em suas relações pessoais e profissionais, o que consequentemente implica a melhoria de seu desempenho em grupo. Por sua vez, trabalhadores com valores mais ideológicos e menos pragmáticos podem influenciar negativamente na reputação profissional, enquanto valorizar normas convencionais e tradições influencia negativamente nas relações de amizade.
Os resultados mostraram a importância de os membros de uma equipe com características predominantes de execução e que estão sob a pressão de salvar vidas ter um valor aberto à mudança (ou pouco normativo) para melhorar conflitos relacionais intragrupo, conforme pesquisas anteriores, porém grupos com essas características de trabalho podem apresentar uma melhor reputação profissional intragrupo quando os membros apresentam características de valorização do pragmático e da realização, ou seja, pessoas que valorizam executar a tarefa e obter êxito são as que têm melhor reputação no ambiente de trabalho, influenciando positivamente o desempenho delas. Gerencialmente, os líderes de equipes que trabalham sob a pressão de salvar vidas, como a de grupos táticos policiais, podem obter melhores resultados quantitativos selecionando membros com valores mais pragmáticos e que valorizem alcançar objetivos organizacionais, e membros com valores mais ideológicos provavelmente terão resultados melhores em equipes de tarefas que necessitem mais abstração, como o setor criativo e/ou de inovação.
Por fim, o estudo limitou-se à realização de uma análise transversal, na mesma cultura organizacional policial e social, necessitando ser aplicada em outras equipes com tais características de atuar com tarefas de mensuração quantitativa, como equipes de cirurgia médica e outras que tenham características de agir sob elevado estado de alerta e que tenham o risco de salvar ou perder vidas na consolidação dos resultados, bem como em regiões e culturas diferentes. Os baixos valores explicativos da regressão indicam uma agenda futura de pesquisas com variáveis intermediárias, como o comportamento, entre valores e confiança. É promissora uma investigação qualitativa para que os investigados possam externalizar a construção desses valores e como eles afetam as relações do grupo. Um estudo longitudinal também se faz necessário, uma vez que as relações constantes de confiança com troca de experiências e partilha de valores podem, ao longo do tempo, ter influenciado a alteração dos valores pessoais dos membros do grupo ou se os valores pessoais podem ser um fator de seleção de novos membros de grupos especializados.
REFERENCES
- Bernstein, M. (2007). Friends without favoritism. Journal of Value Inquiry, 41(1), 59–76. doi:10.1007/s10790-007-9061-0
» https://doi.org/10.1007/s10790-007-9061-0 - Bonacich, P. (1987). Power and centrality: A family of measures. American Journal of Sociology, 92(5), 1170–1182. Retrieved fromhttps://www.jstor.org/stable/2780000?seq=1
» https://www.jstor.org/stable/2780000?seq=1 - Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2018). Analyzing social networks. In J. Seaman (Ed.), Analyzing Social Networks (2nd ed., pp. 189–210). New York: Sage.
- Braithwaite, V. A., & Law, H. G. (1985). Structure of human values: Testing the adequacy of the Rokeach value survey. Journal of Personality and Social Psychology, 49(1), 250–263. doi:10.1037/0022-3514.49.1.250
» https://doi.org/10.1037/0022-3514.49.1.250 - Braithwaite, V. A., & Scott, W. A. (1991). Values. In J. P. Robinson, P. R. Shaver, & L. S. Wrightsman (Eds.), Measures of personality and social psychological attitudes (pp. 661–749). Harcourt Brace Jovanovich. doi:10.1016/B978-0-12-590241-0.50016-2
» https://doi.org/10.1016/B978-0-12-590241-0.50016-2 - Burt, R. S. (1992). Structural holes: The social structure of competition Cambridge, MA: Harvard University Press. Retrieved fromhttp://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=ecn&an=0405891
» http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=ecn&an=0405891 - Byrne, B. M. (2001). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming Mahwah, NJ: Lawrence Erbaum.
- Castillo, I., Adell, F. L., & Alvarez, O. (2018). Relationships between personal values and leadership behaviors in basketball coaches. Frontiers in Psychology, 12(9), 1–14. doi:10.3389/fpsyg.2018.01661
» https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01661 - Crawford, E. R., & Lepine, J. A. (2013). A configural theory of team processes: Accounting for the structure of taskwork and teamwork. Academy of Management Review, 38(1), 32–48. doi:10.5465/amr.2011.0206
» https://doi.org/10.5465/amr.2011.0206 - De Jong, B. A., Dirks, K. T., & Gillespie, N. (2016). Trust and team performance: A meta-analysis of main effects, moderators, and covariates. Journal of Applied Psychology, 101(8), 1134–1150. doi:10.1037/apl0000110
» https://doi.org/10.1037/apl0000110 - Gouveia, V. V. (2003). A natureza motivacional dos valores humanos: Evidências acerca de uma nova tipologia. Estudos de Psicologia, 8(3), 431–443. doi:10.1590/S1413-294X2003000300010
» https://doi.org/10.1590/S1413-294X2003000300010 - Gouveia, V. V. (2013). Teoria funcionalista dos valores humanos São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Gouveia, V. V., Milfont, T., Fischer, R., & Coelho, J. (2009). Teoria funcionalista dos valores humanos: Aplicações para organizações. Revista de Administração Mackenzie, 10(3), 34–59. doi:10.1590/S1678-69712009000300004
» https://doi.org/10.1590/S1678-69712009000300004 - Gouveia, V. V., Milfont, T. L., & Guerra, V. M. (2014a). Functional theory of human values: Testing its content and structure hypotheses. Personality and Individual Differences, 60, 41–47. doi:10.1016/j.paid.2013.12.012
» https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.12.012 - Gouveia, V. V., Milfont, T. L., & Guerra, V. M. (2014b). The functional theory of human values: From intentional overlook to first acknowledgment – A reply to Schwartz (2014). Personality and Individual Differences, 68, 250–253. doi:10.1016/j.paid.2014.03.025
» https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.03.025 - Gouveia, V. V., Santos, W. S., Milfont, T. L., Fischer, R., Clemente, M., & Espinosa, P. (2010). Teoría funcionalista de los valores humanos en españa: Comprobación de las hipótesis de contenido y estructura. Interamerican Journal of Psychology, 44(2), 213–224.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2009). Multivariate data analysis. Harlow, UK: Edinburgh Gate.
- Henttonen, K., Janhonen, M., & Johanson, J. (2013). Internal social networks in work teams: Structure, knowledge sharing and performance. International Journal of Manpower, 34(6), 616–634. doi:10.1108/IJM-06-2013-0148
» https://doi.org/10.1108/IJM-06-2013-0148 - Hofstede, G. H. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values New York: Sage.
- Homer, P. M., & Kahle, L. R. (1988). A structural equation test of the value-attitude-behavior hierarchy. Journal of Personality and Social Psychology, 54(4), 638–646. doi:10.1037/0022-3514.54.4.638
» https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.4.638 - Kluckhohn, C. (1951). Values and value-orientation in the theory of action: An exploration in definition and classification. Toward a General Theory of Action, 388–433. doi:10.4159/harvard.9780674863507.c8
» https://doi.org/10.4159/harvard.9780674863507.c8 - Korsgaard, M. A., Brower, H. H., & Lester, S. W. (2015). It isn’t always mutual: A critical review of dyadic trust. Journal of Management, 41(1), 47–70. doi:10.1177/0149206314547521
» https://doi.org/10.1177/0149206314547521 - Levy, S. (1990). Values and deeds. Applied Psychology, 39(4), 379–400. doi:10.1111/j.1464-0597.1990.tb01062.x
» https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1990.tb01062.x - Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics: Concept, method and reality in social science; social equilibria and social change. Human Relations, 1(1), 5–41. doi:10.1177/001872674700100103
» https://doi.org/10.1177/001872674700100103 - Lima, J. L. de A., Neto, & Pereira, H. B. de B. (2017). A rede social de ajuda-mútua de Narcóticos Anônimos: A relevância do prestígio, da centralidade de intermediação entre os membros. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, 28(1), 91–103.
- Marconi, M., & Lakatos, E. (2003). Fundamentos de metodologia científica São Paulo: Atlas.
- Marteleto, R. M. (2001). Análise de redes sociais: Aplicação nos estudos de transferência da informação. Ciência da Informação, 30(1), 71–81. doi:10.1590/S0100-19652001000100009
» https://doi.org/10.1590/S0100-19652001000100009 - Martins, D. M., Faria, A. C. de, Prearo, L. C., & Arruda, A. G. S. (2017). The level of influence of trust, commitment, cooperation, and power in the interorganizational relationships of Brazilian credit cooperatives. Revista de Administração, 52(1), 47–58. doi:10.1016/j.rausp.2016.09.003
» https://doi.org/10.1016/j.rausp.2016.09.003 - Maslach, C., & Leiter, M. P. (2008). Early predictors of job burnout and engagement. Journal of Applied Psychology, 93(3), 498–512. doi:10.1037/0021-9010.93.3.498
» https://doi.org/10.1037/0021-9010.93.3.498 - Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality New York: Harper & Brothers.
- Mayfield, C. O., Tombaugh, J. R., & Lee, M. (2016). Psychological collectivism and team effectiveness: Moderating effects of trust and psychological safety. Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, 20(1), 78–95.
- McAllister, D. J. (1995). Affect and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of Management Journal, 38(1), 24–59. doi:10.2307/256727
» https://doi.org/10.2307/256727 - Medeiros, E. D. de (2011). Teoria funcionalista dos valores humanos: Testando sua adequação intra e interculturalmente (Tese de doutorado, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil). Retrieved fromhttps://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/6877?locale=pt_BR
» https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/6877?locale=pt_BR - Medeiros, E. D. de, Gouveia, V., Gusmao, E., Milfont, T., Fonseca, P., & De Aquino, T. (2012). Teoria funcionalista dos valores humanos: Evidências de sua adequação no contexto paraibano. Revista de Administração Mackenzie, 13(3), 18–44. doi:10.1590/S1678-69712012000300003
» https://doi.org/10.1590/S1678-69712012000300003 - Medeiros, E. D. de, Pimentel, C. E., Monteiro, R. P., Gouveia, V. V., & Medeiros, P. C. B. de (2015). Valores, atitudes e uso de bebidas alcoólicas: Proposta de um modelo hierárquico. Psicologia: Ciência e Profissão, 35(3), 841–854. doi:10.1590/1982-3703001532013
» https://doi.org/10.1590/1982-3703001532013 - Milfont, T. L., Duckitt, J., & Wagner, C. (2010). The higher order structure of environmental attitudes: A cross-cultural examination. Interamerican Journal of Psychology, 44(2), 263–273.
- Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. The Academy of Management Review, 23(2), 242–266. doi:10.5465/amr.1998.533225
» https://doi.org/10.5465/amr.1998.533225 - Reed, M. I. (2001). Organization, trust and control: A realist analysis. Organization Studies, 22(2), 201–228. doi:10.1177/0170840601222002
» https://doi.org/10.1177/0170840601222002 - Riviera, J. R., Domenico, S. M. R., & Sauaia, A. C. A. (2014). Influence of individual values dissimilarity in the outcome of top management teams: A study in a management lab. Review of Business Management, 16(50), 60–74.
- Rokeach, M. (1973). The nature of human values New York: Free Press.
- Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). Not so different after all: A cross-discipline view of trust. Academy of Management Review, 23(3), 393–404. doi:10.5465/amr.1998.926617
» https://doi.org/10.5465/amr.1998.926617 - Ryan, S. (2004). Initial trust formation in an online social action network Contesting Citizenship and Civil Society in a Divided World. Ryerson University and York University Toronto, Canada, 1–25.
- Schwartz, S. (2006). A theory of cultural value orientations: Explication and applications. Comparative Sociology, 5(2–3), 137–182. doi:10.1163/156913306778667357
» https://doi.org/10.1163/156913306778667357 - Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25(C), 1–65. doi:10.1016/s0065-2601(08)60281-6
» https://doi.org/10.1016/s0065-2601(08)60281-6 - Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1–20. doi:10.9707/2307-0919.1116
» https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116 - Schwartz, S. H. (2014). Functional theories of human values: Comment on Gouveia, Milfont, and Guerra (2014). Personality and Individual Differences, 68, 247–249. doi:10.1016/j.paid.2014.03.024
» https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.03.024 - Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., & Konty, M. (2012). Refining the theory of basic individual values. Journal of Personality and Social Psychology, 103(4), 663–688. doi:10.1037/a0029393
» https://doi.org/10.1037/a0029393 - Sortheix, F. M., & Lönnqvist, J.-E. (2015). Person-group value congruence and subjective well-being in students from Argentina, Bulgaria and Finland: The role of interpersonal relationships. Journal of Community & Applied Social Psychology, 25(1), 34–48. doi:10.1002/casp.2193
» https://doi.org/10.1002/casp.2193 - Thomas, W., & Znaniecki, F. (1919). The Polish peasant in Europe and America: Monograph of an immigrant group. The University of Chicago Press, 3, 18–22.
- Thorelli, H. B. (1986). Network: Between markets and hierarchies. Strategic Management Journal, 7(1), 37–51. doi:10.1002/smj.4250070105
» https://doi.org/10.1002/smj.4250070105 - Torres, C. V., Schwartz, S. H., & Nascimento, T. G. (2016). A teoria de valores refinada: Associações com comportamento e evidências de validade discriminante e preditiva. Psicologia USP, 27(2), 341–356. doi:10.1590/0103-656420150045
» https://doi.org/10.1590/0103-656420150045 - Van Dun, D. H., & Wilderom, C. P. M. (2016). Lean-team effectiveness through leader values and members’ informing. International Journal of Operations & Production Management, 36(11), 1530–1550. doi:10.1108/IJOPM-06-2015-0338
» https://doi.org/10.1108/IJOPM-06-2015-0338 - Vergueiro, W., & Sugahara, C. R. (2010). Aspectos conceituais e metodológicos de redes sociais e sua influência no estudo de fluxos de informação. Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, 7(2), 102–117. doi:10.20396/rdbci.v7i2.1959
» https://doi.org/10.20396/rdbci.v7i2.1959 - Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and applications Cambridge: Cambridge University Press.
- Whitener, E. M., Brodt, S. E., Korsgaard, M. A., & Werner, J. M. (1998). Managers as initiators of trust: An exchange relationship framework for understanding managerial trustworthy behavior. The Academy of Management Review, 23(3), 513–530. doi:10.5465/amr.1998.926624
» https://doi.org/10.5465/amr.1998.926624
Editado por
CORPO EDITORIAL
PRODUÇÃO EDITORIAL
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
23 Jul 2021 -
Data do Fascículo
2021
Histórico
-
Recebido
23 Jan 2020 -
Aceito
19 Nov 2020
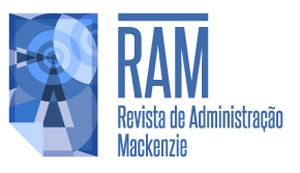



 Fonte: Adaptada de
Fonte: Adaptada de  Fonte: Elaborada pelos autores.
Fonte: Elaborada pelos autores.