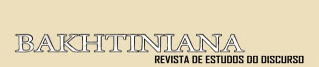O que é o diálogo, na compreensão de nove dos mais importantes filósofos modernos europeus? Quais são as implicações dessa compreensão do diálogo para o campo da Educação? É desse duplo questionamento que Alexandre Anselmo Guilherme e W. John Morgan partem para, ao longo de Philosophy, Dialogue, and Education, discutir as ideias de Martin Buber, Mikhail Bakhtin, Lev Vygotsky, Hannah Arendt, Emmanuel Levinas, Maurice Merleau-Ponty, Simone Weil, Michael Oakeshott e Jürgen Habermas.
A intersecção entre o diálogo e o campo educacional se faz presente na trajetória dos autores, ambos expoentes da Filosofia da Educação. W. John Morgan é professor emérito da School of Education [Faculdade de Educação] da University of Nottingham, onde presidiu a Cátedra UNESCO de Economia Política da Educação. Ele também é professor honorário da School of Social Sciences [Faculdade de Ciência Sociais] e do Wales Institute of Social and Economic Research, Data, and Methods [Instituto Wales de Pesquisa, Dados e Métodos Sociais e Econômicos] na Cardiff University, e bolsista emérito do Leverhulme Trust, realizando estudos sobre economia política comparativa da educação (especialmente Rússia e China), sociedade civil e antropologia do conhecimento, bem como educação para a paz. Alexandre Anselmo Guilherme é professor adjunto da Escola de Humanidades, Departamento de Educação, e coordenador do Grupo de Pesquisa Educação e Violência - GruPEV da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil, atuando principalmente nos temas educação e violência, educação e diálogo, imigrantes e refugiados, e Psicologia da Educação.
Guilherme e Morgan indicam a relevância dos questionamentos que embasam Philosophy, Dialogue, and Education: o diálogo é comumente entendido como conversação, intercâmbio de perguntas e respostas entre dois ou mais sujeitos, e, simultaneamente, tem sido objeto privilegiado nas pesquisas em Filosofia da Educação. Todavia, a maioria das investigações nessa área costuma concentrar-se em apenas verificar a ocorrência de intercâmbio comunicativo, resultando em “modos simplistas e reducionistas de compreender o diálogo, os quais não consideram as relações envolvidas no diálogo” (GUILHERME; MORGAN, 2018, p.3)1 1 Traduzido livremente do original: “simplistic and reductionist ways of understanding dialogue which do not consider the relations involved in the dialogue”. . Em oposição ao reducionismo rejeitado pelos autores, é destacada a “gama de complexidades, dinâmicas e efeitos resultantes e causados pelo diálogo, que a simples percepção de um processo de perguntas e respostas não captura com êxito” (GUILHERME; MORGAN, 2018, p.4)2 2 Traduzido livremente do original: “range of complexities, dynamics, and effects implied and caused by dialogue that the simple notice of a process of questioning and answering does not capture successfully”. .
A escolha dos filósofos abordados enfatiza o caráter polissêmico, multifacetado e complexo do diálogo. Philosophy, Dialogue, and Education reflete sobre as complexidades inerentes ao diálogo, situando as perspectivas sociopolíticas dos pensadores na tradição europeia da filosofia dialógica. Cada filósofo é tratado num capítulo específico, cujo título sintetiza o conceito de diálogo desenvolvido. Após uma breve apresentação, seguida dos principais eventos da vida e carreira, o leitor é conduzido a um panorama consistente e detalhado sobre como o diálogo é conceituado e relacionado à educação.
No primeiro capítulo, Martin Buber: dialogue as the inclusion of the other [Martin Buber: diálogo como a inclusão do outro], o diálogo é referido como uma relação simétrica, inclusiva do outro, despida de preconceitos e expectativas, na qual simplesmente se aceita o outro como ele é. A relação dialógica assume a forma ‘Eu-Tu’ e está, assim, em contraste com as relações ‘Eu-Isso’, baseadas na objetificação do outro e na ausência de diálogo. ‘Eu-Tu’ e ‘Eu-Isso’ são as ‘palavras básicas’ indicativas da qualidade da experiência contida na relação que elas descrevem. À leitura filosófica da obra de Buber (cf. Buber, 2007BUBER, M. Do diálogo e do dialógico. Trad. Marta E. de Queiroz, Regina Weinberg. São Paulo: Perspectiva, 2007. e 2001BUBER, M. Eu e tu. Tradução do alemão, introdução e notas por Newton Aquiles Von Zuben. 10. ed. São Paulo: Centauro, 2001., entre outros) é acrescida uma apreciação teológica, fundada em suas raízes judaicas hassídicas. Essa apreciação ilustra a atenção às conexões entre o pensamento, as experiências, o pertencimento e a subjetividade dos filósofos observados, elementares em Philosophy, Dialogue, and Education. Em Buber, o hassidismo é o mote para ressaltar a convergência de todas as relações genuínas para o eterno, a partir da qual os seres humanos se relacionam com Deus. No campo da Filosofia da Educação, a teoria de Buber é enfocada para defender a importância das relações vivas, horizontais e inclusivas entre professores e alunos, fundadas em diálogo genuíno, de forma a impactar positivamente a motivação e a capacidade de colaboração.
A interpretação de Guilherme e Morgan sobre as ideias de Buber, no Capítulo Um, articula-se ao Capítulo Cinco, Emmanuel Levinas - dialogue as an ethical demand of the other [Emmanuel Levinas: diálogo como uma exigência ética do outro] Para Levinas (cf. Levinas, 1988aLEVINAS, E. Totalidade e infinito. Trad. José Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 1988a.; 1988bLEVINAS, E. Ética e Infinito: diálogos com Philippe Nemo. Trad. João Gama. Lisboa: Edições 70, 1988b.; 2005LÉVINAS, E. Entre nós. Ensaios sobre alteridade. Trad. Pergentino Stefano Pivatto et al. Petrópolis-RJ: Vozes, 2005. , entre outros), em contraposição a Buber, a noção ética de diálogo compreende uma relação assimétrica e preconcebida, estabelecida para satisfazer as demandas do outro. O encontro com o outro, nominado por Levinas como “rosto”, implica uma exigência ética, instando o sujeito, de cima para baixo, a responder ao outro. Todavia, essa assimetria não deve ser depreendida como uma hierarquia das relações humanas, uma vez que é recíproca: o sujeito é instado a responder ao mesmo tempo em que demanda uma resposta ética do outro. A assimetria bilateral do encontro com o “rosto” caracteriza-se, ainda, pela presença de uma “terceira parte”, na medida em que toda a humanidade encara o sujeito através dos olhos do outro. Assim, enquanto para Buber o diálogo se dá desde o reconhecimento do outro como um par, por conta da igualdade com o sujeito, para Levinas, o diálogo existe porque o sujeito reconhece a alteridade absoluta do outro. A influência de Levinas para a Educação também se ancora na alteridade, no reconhecimento ético do encontro com um outro que é diferente do sujeito, causando-lhe inquietude, questionamento e inovação.
O outro também é central no Capítulo Seis, Maurice Merleau-Ponty - dialogue as being present to the other [Maurice Merleau-Ponty - diálogo como estar presente para o outro]. O capítulo discute a compreensão existencialista e fenomenológica de Merleau-Ponty (cf. Merleau-Ponty, 1996MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. Trad. Carlos Alberto R. de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1996., 2006MERLEAU-PONTY, M. A estrutura do comportamento. Trad. Márcia Valéria Martinez Aguiar. São Paulo: Martins Fontes, 2006., entre outros), para quem o diálogo configura um ‘estar presente’ para o outro. Ainda que guarde algumas afinidades com o pensamento de Buber e de Levinas, Merleau-Ponty apoia-se em premissas distintas. O diálogo necessita do encontro com um outro corporificado, presente numa relação em que o sujeito também está presente. No diálogo, as demandas e intenções desse outro tornam-se compreensíveis para o sujeito, como se este o “habitasse”. Por essa perspectiva, subjetividade e objetividade se encontram no corpo. Também por meio dessa “teoria da incorporação” o fenômeno do aprendizado é explicado como um hábito adquirido pelo corpo, e a aquisição de um hábito corresponde à apreensão de um significado. Trata-se de um processo que envolve os movimentos espontâneos e intencionais em interconexão com as experiências que solidificam os hábitos.
No segundo e no terceiro capítulo, Guilherme e Morgan tratam de dois pensadores russos influenciados pelo marxismo. Mikhail Bakhtin é referido ao longo do Capítulo Dois, Mikhail Bakhtin - the dialogic imagination [Mikhail Bakhtin - a imaginação dialógica]. Os autores aludem à noção de “imaginação dialógica”3 3 A expressão é claramente uma referência à coletânea de ensaios de Mikhail Bakhtin publicada em inglês com o título The Dialogic Imagination (BAKHTIN, 1981). Dela constam os ensaios (i) Epic and Novel: toward a Methodology for the Study of the Novel, traduzida em português como Epos e o romance (sobre a metodologia do estudo do romance) (1993, p.397-428) ou O romance como gênero literário (2019, p.65-111); (ii) From the Prehistory of Novelistic Discourse - em português, Da pré-história do discurso romanesco (1993, p.363-396) ou Sobre a pré-história do discurso romanesco (2019, p.11-63); (iii) Forms of Time and of the Chronotope in the Novel: Notes toward a Historical Poetics - em português Formas de tempo e de cronotopo no romance (Ensaios de poética histórica) (1993, p.211-362) ou As formas do tempo e do cronotopo no romance (2018, p.11-237); (iv) Discourse in the Novel – O discurso no romance (1993, p.71-210; 2015, p.19-242). para desvendar uma filosofia na qual se notam inspirações em Kant, marcada pela insistência na relação, necessária e reciprocamente enriquecedora, entre o pensamento e a ação, e em Nietzsche, visível no conceito de discurso que espelha a ideia de diálogo. O capítulo leva em conta as ambiguidades percebidas em Bakhtin, especialmente sobre a arquitetura do mundo real, a estética como ação ou processo, a ética da política e, finalmente, a ética da religião. Essas ambiguidades suscitam uma reflexão crítica, na qual o filósofo do ato (cf. Bakhtin, 2010), da dialogia (cf. Volóchinov, 2017VOLÓCHINOV, V. (Círculo de Bakhtin). Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução, notas e glossário Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. Ensaio introdutório Sheila Grillo. São Paulo: Editora 34, 2017. ; Bakhtin, 2008BAKHTIN, M. Problemas da poética de Dostoiévski. 4. ed. Tradução, notas e prefácio Paulo Bezerra. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. ; 2016BAKHTIN, M. Diálogo I. A questão do discurso dialógico. In: BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. Organização, tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Notas da edição russa Serguei Botcharov. Editora 34, 2016a. p.113-124., entre outros) e do plurilinguismo, vindica “o diálogo e a participação polifônica de vozes diferentes no intercâmbio de ideias por meio da linguagem e da literatura” (GUILHERME; MORGAN, 2018, p. 24)4 4 Traduzido livremente do original: “dialogue and the polyphonic participation of different voices in the exchange of ideas through language and literature”. ao mesmo tempo em que propõe Bakhtin como um pensador ético. A “imaginação dialógica” de Bakhtin sublinha que a linguagem só adquire significado no diálogo, obrigatoriamente no contexto social e cultural do qual faz parte. O entendimento do self é construído nesse diapasão, num diálogo conformado pelas mútuas e contínuas interpretações do outro. Essa perspectiva contribui grandemente para a Filosofia e para a Educação, uma vez que Bakhtin incentiva os sujeitos ao protagonismo na busca pelo conhecimento, não aceitando as coisas como dadas.
Isso pode ser cotejado à compreensão de Lev Vygotsky, objeto do Capítulo Três, Lev S. Vygotsky - dialogue as mediation and inner speech [Lev Vygotsky - diálogo como mediação e discurso interior]. Como mediação (cf. Vygostsky, 1999VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. Trad. Jefferson Luiz Camargo. Revisão técnica José Cipolla Neto. São Paulo: Martins Fontes Editora, 1999. 1998VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. 6. ed. Trad. José Cipolla Neto et al. São Paulo: Martins Fontes, 1998. , entre outros), o diálogo diz respeito à relação entre indivíduo e sociedade, intermediada por objetos, sinais e linguagem, ferramentas proporcionadas pela cultura. Também diz respeito à interação de cunho mais psicológico do indivíduo consigo mesmo, crucial para o desenvolvimento cognitivo humano, que Guilherme e Morgan afirmam ser “uma alternativa poderosa tanto ao behaviorismo pavloviano como para a ênfase piagetiana à maturação biológica cognitiva” (GUILHERME; MORGAN, 2018, p.39)5 5 Traduzido livremente do original “provided a powerful alternative to both Pavlovian behaviourism and the Piagetian focus on cognitive biological maturation”. . O impacto do pensamento de Vygotsky para a Educação é captado desde as interpretações que privilegiam a análise social, até as que buscam entender o surgimento da consciência, relegando as relações sociais ao pano de fundo.
O prisma político do diálogo é examinado no Capítulo Quatro, Hannah Arendt - dialogue as a public space [Hannah Arendt - diálogo como espaço público]. Guilherme e Morgan acentuam a defesa de Arendt da expressão autêntica da democracia, possível quando os cidadãos se reúnem num espaço público de deliberação e decisão acerca dos interesses coletivos (cf. Arendt, 2007ARENDT. H. A condição humana, 10. ed. Tradução de Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.; 2012ARENDT. H. As origens do totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012., entre outros). A separação entre as dimensões do “labor”, do “trabalho” e da “ação” precede a exigência do espaço público, contexto no qual as pessoas defrontam-se umas com as outras, na qualidade de membros de uma comunidade, e desvelam seus pontos de vista em discursos e ações, concordâncias e discordâncias. Essa relação com os outros é pré-condicionada por outro tipo de diálogo, fundante da capacidade de pensar, interno, através do qual o indivíduo confronta a si próprio. Nesse marco, a educação objetiva propiciar um ambiente seguro às crianças, preparando-as para participarem da esfera pública. Entretanto, Guilherme e Morgan cogitam que escolas e universidades não venham conectando o público ao privado, tal qual divisado por Arendt. Isso é tributado a obstáculos enfrentados, como os processos de mercantilização, que transformam os cidadãos em consumidores, e o espaço público em mercado.
Igualmente, no Capítulo Sete, Simone Weil - dialogue as an instrument of power [Simone Weil - diálogo como instrumento de poder], o espaço público tem notada relevância. O diálogo é pensado por Weil em relações de poder dimensionadas, no espaço público, pela linguagem e pelas palavras (cf. Weil, 1991WEIL, S. Aulas de filosofia. Trad. Marina Appenzeller. Campinas: Papirus, 1991. ; 2001aWEIL, S. O enraizamento. Trad. Maria Leonor Loureiro. Bauru, SP: EDUSC, 2001a. ; 2001bWEIL, S. Opressão e liberdade. Trad. Ilka Stern Cohen. Bauru: EDUSC, 2001b, Coleção Mulher., entre outros). O dinamismo da realidade é a fonte dos conflitos potenciais, porquanto os sujeitos leem o mundo utilizando uma linguagem imperfeita, não obstante expressiva de atitudes e práticas. O diálogo configura uma relação de poder que se presta à crueldade, mas também à justiça e à bondade. Esse instrumento é crucial para a Educação, assim como a atenção (a vontade de receber) e o silêncio (a reflexão sem recebimentos do mundo externo), pois o processo de conhecimento só pode ser atingido num percurso crítico que envolve desejo de saber, comprometimento, esforço e amadurecimento. Assim, é imperativo que a Educação propicie ao indivíduo o discernimento das ideias, o poder da escrita e do discurso, e seu uso não para a conquista e aniquilação do outro, mas para a justiça, particularmente para a justiça social.
O posicionamento de Weil pode ser comparado ao de Michael Oaekshott, sobre o qual Guilherme e Morgan discorrem no Capítulo Oito, Michael Oakeshott - dialogue as conversation [Michael Oakeshott - diálogo como conversação]. O diálogo é, aqui, visto como uma forma de conversa, imprescindível para o desenvolvimento da civilização (cf. Oakeshott, 1989, entre outros). Os valores civilizados estão radicados na capacidade das pessoas, pela conversa, adentrarem o diálogo, o que é fomentado por uma educação liberal. É indispensável que a experiência humana seja vivida, compreendida e refletida na forma de uma conversa do sujeito com seus pares, seres humanos. As vozes que tomam parte dessa conversa são as diferentes formas da experiência, de ver o mundo, históricas e práticas. Oakeshott considera a conversa como um diálogo aberto e polifônico, um intercâmbio entre as diversas funções e condições em que a humanidade se desenvolve - e aí reside sua importância para a Educação. O indivíduo aprende a ser humano enquanto participa dessa conversa, assimilando os múltiplos significados e propósitos que também a integram.
O nono e último capítulo, Jürgen Habermas - dialogue as communicative rationality [Jürgen Habermas - diálogo como racionalidade comunicativa] dedica-se ao conceito de diálogo como racionalidade comunicativa, depreendido da extensa obra do filósofo alemão (cf. Habermas, 1984HABERMAS, J. The Theory of Communicative Action. Vol 1: Reason and the Rationalizalion of Society. Boston: Beacon Press, 1984. ; 1987HABERMAS, J. The Theory of Communicative Action. Vol 2: Lifeworld and Sistem: A critique of functionalist reason. Boston: Beacon Press, 1987. , entre outros). Guilherme e Morgan sublinham a crítica habermasiana ao cientificismo e às decorrentes abordagens positivistas, burocráticas e autoritárias predominantes nos estudos sobre as questões da esfera pública, o que resulta na “marginalização do diálogo público e do debate” (GUILHERME; MORGAN, 2018, p.141)6 6 Traduzido livremente do original “marginalization of public dialogue and debate”. . O déficit democrático consequente é enfrentado, segundo Habermas, por duas formas distintas e interdependentes de ação: (i) instrumental, mensurada quantitativamente e percebida no trabalho e na construção material; (ii) comunicativa, aferida qualitativamente e percebida por meio da interação e do diálogo sociais. A racionalidade comunicativa é a chave para a ação, e o ato da comunicação, em si, já inicia um diálogo entre pares, parceiros abertos às possibilidades de acordo e ação social. A contribuição de Habermas para a Educação é defendida no que Guilherme e Morgan detectam como alinhamento à Pedagogia Crítica, segundo a qual o despertar de consciência dos sujeitos, dialeticamente, leva à ação social democrática e emancipatória. A responsabilidade dos educadores é criar condições para que essa ação ocorra, circunstanciando o ensino e o aprendizado como atos políticos e, no mesmo sentido, a não neutralidade do conhecimento.
Philosophy, Dialogue, and Education é uma obra densa, na qual os autores promovem uma reflexão teoricamente consistente e sofisticada, sem, contudo, sacrificar a leitura e a inteligibilidade. As concepções de diálogo são discutidas de forma articulada entre os pensadores, concatenadas aos aportes de outros teóricos e de comentadores, o que fornece um horizonte interpretativo rico e fundamentado.
Nesse contexto complexo, Guilherme e Morgan trabalham o diálogo permeado por relações de poder, pela história e pela cultura, por valores normativos e pela necessidade de um espaço comum. Os potenciais e os dilemas do diálogo, especialmente na Educação, são temas de renovado interesse, ainda maior quando os recentes eventos e as dinâmicas sociais colocam em xeque a capacidade de dialogar. Como apontam (2018, p.4), “o diálogo não é simples de obter; pelo contrário, depende da disposição e da situação e é frequentemente difícil de iniciar, ainda mais de sustentar”7 7 Traduzido livremente do original “dialogue is not simple to achieve; rather, it is dependent on disposition and on situation and is often difficult to initiate, let alone sustain”. . Cultivar essa disposição é, portanto, o desafio ético do tempo presente, ao qual a Filosofia da Educação não se furta.
-
1
Traduzido livremente do original: “simplistic and reductionist ways of understanding dialogue which do not consider the relations involved in the dialogue”.
-
2
Traduzido livremente do original: “range of complexities, dynamics, and effects implied and caused by dialogue that the simple notice of a process of questioning and answering does not capture successfully”.
-
3
A expressão é claramente uma referência à coletânea de ensaios de Mikhail Bakhtin publicada em inglês com o título The Dialogic Imagination (BAKHTIN, 1981BAKHTIN, M. The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin. Edited by Michael Holquist; translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin, TX: University of Texas Press, 1981.). Dela constam os ensaios (i) Epic and Novel: toward a Methodology for the Study of the Novel, traduzida em português como Epos e o romance (sobre a metodologia do estudo do romance) (1993, p.397-428) ou O romance como gênero literário (2019, p.65-111); (ii) From the Prehistory of Novelistic Discourse - em português, Da pré-história do discurso romanesco (1993, p.363-396) ou Sobre a pré-história do discurso romanesco (2019, p.11-63); (iii) Forms of Time and of the Chronotope in the Novel: Notes toward a Historical Poetics - em português Formas de tempo e de cronotopo no romance (Ensaios de poética histórica) (1993, p.211-362) ou As formas do tempo e do cronotopo no romance (2018, p.11-237); (iv) Discourse in the Novel – O discurso no romance (1993, p.71-210; 2015, p.19-242).
-
4
Traduzido livremente do original: “dialogue and the polyphonic participation of different voices in the exchange of ideas through language and literature”.
-
5
Traduzido livremente do original “provided a powerful alternative to both Pavlovian behaviourism and the Piagetian focus on cognitive biological maturation”.
-
6
Traduzido livremente do original “marginalization of public dialogue and debate”.
-
7
Traduzido livremente do original “dialogue is not simple to achieve; rather, it is dependent on disposition and on situation and is often difficult to initiate, let alone sustain”.
REFERÊNCIAS
- ARENDT. H. As origens do totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
- ARENDT. H. A condição humana, 10. ed. Tradução de Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.
- BAKHTIN, M. The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin. Edited by Michael Holquist; translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin, TX: University of Texas Press, 1981.
- BAKHTIN, M. Epos e o romance (sobre a metodologia do estudo do romance). In: BAKHTIN, M. Questões de literatura e de estética A teoria do romance. Tradução Aurora Fornoni Bernadini et al São Paulo: UNESP/Hucitec, 1993. p.397-428.
- BAKHTIN, M. O romance como gênero literário. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance III: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2019. p.65-111.
- BAKHTIN, M. Da pré-história do discurso romanesco In: BAKHTIN, M. Questões de literatura e de estética A teoria do romance. Tradução Aurora Fornoni Bernadini et al São Paulo: UNESP/Hucitec, 1993. p.363-396.
- BAKHTIN, M. Sobre a pré-história do discurso romanesco. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance III: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa de Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2019. p.11-63.
- BAKHTIN, M. Formas de tempo e de cronotopo no romance (Ensaios de poética histórica). In: BAKHTIN, M. Questões de literatura e de estética A teoria do romance. Tradução Aurora Fornoni Bernadini et al São Paulo: UNESP/Hucitec, 1993. p.211-362.
- BAKHTIN, M. As formas do tempo e do cronotopo no romance. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance II: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2018. p.11-237.
- BAKHTIN, M. O discurso no romance. In: BAKHTIN, M. Questões de literatura e de estética A teoria do romance. Tradução Aurora Fornoni Bernadini et al São Paulo: UNESP/Hucitec, 1993. p.71-210.
- BAKHTIN, M. O discurso no romance. In: BAKHTIN, M. Teoria do romance I: o romance como gênero literário. Tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Organização da edição russa Serguei Botcharov e Vadim Kójinov. São Paulo: Editora 34, 2015. p.19-242.
- BAKHTIN, M. Problemas da poética de Dostoiévski 4. ed. Tradução, notas e prefácio Paulo Bezerra. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.
- BAKHTIN, M. Diálogo I. A questão do discurso dialógico. In: BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso Organização, tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Notas da edição russa Serguei Botcharov. Editora 34, 2016a. p.113-124.
- BAKHTIN, M. Diálogo II. A questão do discurso dialógico. In: BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso Organização, tradução, posfácio e notas Paulo Bezerra. Notas da edição russa Serguei Botcharov. Editora 34, 2016b. p.125-150.
- BUBER, M. Eu e tu Tradução do alemão, introdução e notas por Newton Aquiles Von Zuben. 10. ed. São Paulo: Centauro, 2001.
- BUBER, M. Do diálogo e do dialógico Trad. Marta E. de Queiroz, Regina Weinberg. São Paulo: Perspectiva, 2007.
- HABERMAS, J. The Theory of Communicative Action. Vol 1: Reason and the Rationalizalion of Society Boston: Beacon Press, 1984.
- HABERMAS, J. The Theory of Communicative Action. Vol 2: Lifeworld and Sistem: A critique of functionalist reason. Boston: Beacon Press, 1987.
- LEVINAS, E. Totalidade e infinito Trad. José Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 1988a.
- LEVINAS, E. Ética e Infinito: diálogos com Philippe Nemo. Trad. João Gama. Lisboa: Edições 70, 1988b.
- LÉVINAS, E. Entre nós. Ensaios sobre alteridade. Trad. Pergentino Stefano Pivatto et al. Petrópolis-RJ: Vozes, 2005.
- MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção Trad. Carlos Alberto R. de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- MERLEAU-PONTY, M. A estrutura do comportamento Trad. Márcia Valéria Martinez Aguiar. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
- OAEKSHOTT, M. The Voice of Liberal Learning New Haven and London: Yale University Press, 1989.
- VOLÓCHINOV, V. (Círculo de Bakhtin). Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução, notas e glossário Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. Ensaio introdutório Sheila Grillo. São Paulo: Editora 34, 2017.
- VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem Trad. Jefferson Luiz Camargo. Revisão técnica José Cipolla Neto. São Paulo: Martins Fontes Editora, 1999.
- VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente 6. ed. Trad. José Cipolla Neto et al São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- WEIL, S. Aulas de filosofia Trad. Marina Appenzeller. Campinas: Papirus, 1991.
- WEIL, S. O enraizamento Trad. Maria Leonor Loureiro. Bauru, SP: EDUSC, 2001a.
- WEIL, S. Opressão e liberdade Trad. Ilka Stern Cohen. Bauru: EDUSC, 2001b, Coleção Mulher.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
17 Abr 2020 -
Data do Fascículo
Apr-Jun 2020
Histórico
-
Recebido
18 Nov 2019 -
Aceito
28 Fev 2020