RESUMO
Introdução:
Epígrafes são fenômenos da linguagem que ocorrem em várias áreas do conhecimento e no campo científico são parte fundamental da língua e da cultura histórica da ciência. Baseado teoricamente na Ciência da Informação, Sociologia da Ciência, Literatura e Linguística esse artigo defende a ideia que as epígrafes em textos científicos podem integrar o sistema de recompensas da ciência pois, assim como as citações, sinalizam a importância e a contribuição dos autores epigrafados para o campo de conhecimento no qual se inserem.
Objetivos:
Perscrutar teorias e metodologias sobre o significado das epígrafes em textos científicos; elaborar e aplicar um modelo de análise de epígrafes inseridas em teses doutorais da área de Ciência da Informação.
Método:
Pesquisa exploratória e descritiva fundamentada nas análises bibliométrica e de conteúdo.
Resultados:
As notas teóricas abordaram a origem e funções das epígrafes; o modelo de análise incluiu informações relacionadas à epígrafe, ao epigrafado e ao epigrafador. Foram identificados os tipos (autêntica, inexata, apócrifa, autógrafa e anônima), gênero (prosa, poesia), funções (direta, oblíqua e efeito-epígrafe), discursos implícitos (científico, literário, religioso, político e institucional) das epígrafes e os autores mais epigrafados.
Conclusão:
A análise das epígrafes demonstrou estratégias de legitimação, filiação e influências intelectuais dos epigrafadores e o reconhecimento científico dos epigrafados para o campo de conhecimento no qual se inserem
PALAVRAS-CHAVE:
Epígrafes; Reconhecimento científico; Bibliometria; Sociologia da Ciência.
ABSTRACT
Introduction:
Epigraphs are language phenomena that occur in various areas of knowledge and in the scientific field they are a fundamental part of the language and historical culture of science. Theoretically based on Information Science, Sociology of Science, Literature and Linguistics, this article defends the idea that epigraphs in scientific texts can be part of the science reward system because, like citations, they signal the importance and contribution of epigraphed authors to the field of knowledge in which they belong.
Objectives:
To scrutinize theories and methodologies about the meaning of epigraphs in scientific texts; develop and apply a model for the analysis of epigraphs inserted in doctoral theses in the field of Information Science.
Method:
Exploratory and descriptive research based on bibliometric and content analysis.
Results:
The theoretical notes addressed the origin and functions of epigraphs; the analysis model included information related to the epigraph, the epigraphed and the epigrapher. The types (authentic, inexact, apocryphal, autograph and anonymous), genre (prose, poetry), functions (direct, oblique and epigraph-effect), implicit scientific, literary, religious, political and institutional discourses of the epigraphs and the authors most epigraphed were identified.
Conclusion:
The analysis of the epigraphs demonstrated strategies of legitimation, affiliation and intellectual influences of the epigraphers and the scientific recognition of the epigraphed for the field of knowledge in which they belong.
KEYWORDS:
Epigraphs; Scientific recognition; Bibliometrics; Sociology of science.
1 INTRODUÇÃO
[...] isolada no branco da página, ela assume uma autonomia aparente, mas na verdade depende tanto do texto que lhe é anterior quando do que lhe segue. É neste jogo de convergências semânticas e formais que as epígrafes têm existência. (SCHWARTZ, 1981SCHWARTZ, Jorge. Murilo Rubião: a poética do uroboro. São Paulo: Ática, 1981., p.4)
Epígrafes são fenômenos da linguagem que ocorrem em várias áreas do conhecimento e no campo científico são parte fundamental da língua e da cultura histórica da ciência. A epígrafe pode ser definida como uma citação breve colocada no início ou em parte de uma obra servindo para resumir o tema ou assunto tratado. Assim como as citações, as epígrafes também podem ser entendidas como parte do sistema mertoniano de reconhecimento científico (MERTON, 1957MERTON, Robert King. Priorities in scientific discovery: a chapter in the Sociology of Science. American Sociological Review, v.22, n.6, p. 635-659, 1957., 1968MERTON, Robert King. The Matthew Effect in science. Science, v. 159, p. 56-63, 1968., 1988), pois sinalizam a importância e a contribuição dos autores epigrafados para o campo de conhecimento no qual se inserem. Com base nesse entendimento esse artigo parte do pressuposto de que as epígrafes podem se constituir em chaves de leitura para a compreensão das estratégias de legitimação e declarações de filiação de autores a determinado campo de conhecimento, e o seu estudo fornece novas perguntas e percepções sobre o sistema de recompensas da ciência.
Diante disso, esse artigo foi norteado pela busca de respostas para as seguintes questões de pesquisa: O que revelam as epígrafes sobre o epigrafado (autor da epígrafe) e o epigrafador (aquele que escolheu a epígrafe)? Quais são as características das epígrafes e as teorias explicativas sobre elas? O ato de epigrafar pode explicitar (ou camuflar) influências intelectuais? Os autores das epígrafes teriam utilizado a estratégia do name-dropping intelectual, isto é, a prática de fazer referência a autores importantes do seu campo científico para enviar uma metamensagem de pertencimento a essa comunidade científica? A questão de gênero está presente no ato de epigrafar?
Assim, por meio de um estudo teórico e aplicado sobre esse fenômeno da linguagem presente na comunicação científica, os objetivos do artigo são: a) apresentar um conjunto de teorias e metodologias oriundas dos campos da Sociologia da Ciência, Ciência da Informação, Literatura e Linguística que possam auxiliar na busca respostas para as questões relacionadas à presença e significado das epígrafes em textos científicos; b) propor e aplicar um modelo de análise de epígrafes em uma amostra de textos científicos da área de Ciência da Informação.
A realização do estudo justifica-se considerando que na literatura científica brasileira da Ciência da Informação existe um silêncio sobre o papel e a função das epígrafes em textos científicos, motivo pelo qual este artigo pretende se constituir em uma contribuição para esse campo de conhecimento. Além disso, este artigo é parte de um programa de pesquisa mais amplo que tem buscado por novos temas e objetos de estudo no âmbito dos estudos métricos da informação, tais como as evidências bibliométricas do reconhecimento científico em resenhas, entrevistas (AUTOR 1, 2020), obituários acadêmicos (AUTOR 1 et al, 2021a; AUTOR 1 et al 2021b) e em agradecimentos e obituários (AUTOR 1 et al, 2021c). A próxima seção apresenta um conjunto de notas teórico-metodológicas sobre epígrafes.
2 NOTAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS SOBRE EPÍGRAFES
Costumo dizer que quem não tem paciência para ler meus livros pode pelo menos olhar para as epígrafes e aprenderá tudo a partir daí. (SARAMAGO, 2011SARAMAGO, José. The notebook. London: Verso, 2011., p.90)
Etimologicamente a palavra epígrafe tem origem no grego ἐπιγραφή, que significa “inscrição”, que por sua vez deriva da palavra ἐπιγράφω, isto é, “escrever acima de”. De acordo Reis (2018REIS, Carlos. Dicionário de estudos narrativos. Coimbra: Almedina, 2018., p.104) a epígrafe é “um texto, normalmente breve, inscrito antes de se iniciar a narrativa propriamente dita, uma de suas partes, ou capítulos”. A epigrafia, por sua vez, refere-se ao estudo das epígrafes e tem por objeto o estudo, a decifração e a interpretação das inscrições antigas constituindo-se em uma disciplina auxiliar da investigação histórica e filológica (ISOLDI, 1952ISOLDI, Francisco. A epigrafia: síntese geral. Revista de História da USP, v. 4, n.9, p. 89-105, 1952.)
Suas raízes históricas podem ser buscadas na antiguidade clássica, quando se inscreviam textos breves em pedras, estátuas, medalhas, pilares e placas de metal, edifícios e monumentos para conservar a memória de pessoas ilustres ou acontecimentos históricos de relevo. Naquele momento, portanto, as epígrafes eram uma inscrição que não se referia a livros (CEIA, 2009CEIA, Carlos. E-dicionário de termos literários. 2009. Disponível em: https://edtl.fcsh.unl.pt/. Acesso em: set.2021.
https://edtl.fcsh.unl.pt/...
; BUURMA, 2019BUURMA, Rachel Sagner. Epigraphs. In: DUNCAN, Dennys.; SMYTH, Adam. Book parts. New York: Oxford University Press, 2019. p. 165-176.).
Na época moderna, o vocábulo epígrafe passou a designar os fragmentos de textos que servem de lema ou divisa de uma obra, capítulo ou poema. No século XVI a epígrafe literária entrou em uso, mas é a partir do século XVIII, com o Iluminismo que ela ganha terreno e passa a ser difundida em todo o tipo de literatura, conforme destacam Moysés (2004)MOYSÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. São Paulo: Cultrix, 2004. e Schmitt (2018)SCHMITT, Stéphane. Epigraphs as parts of text in Natural History books in the Eighteenth Century: between intertextuality and the architecture of the book. In: BRETELLE-ESTABLET, Florence.; SCHMITT, Stéphane. Pieces and parts in scientific texts. Cham: Springer,2018. p. 269-295.. Até o século XIX, como acentua Buurma (2019BUURMA, Rachel Sagner. Epigraphs. In: DUNCAN, Dennys.; SMYTH, Adam. Book parts. New York: Oxford University Press, 2019. p. 165-176., p. 168), a palavra epígrafe se referia a
[..] um trecho ou citação impressa no início de um texto literário como uma espécie de ponto de referência, guia interpretativo, exemplo ou contraexemplo destinado a orientar o leitor ao texto. Como palavra, 'epígrafe' carrega, portanto, o sentido de prioridade, de inscrição em muitas mídias e de estar sendo escrito antes ou acima, denotado pelas raízes gregas da palavra.
O uso da epígrafe não se limitou, é claro, a tipos puramente literários de escrita. Story (1954)STORY, M. L. Epigraphs on education. Peabody Journal of Education, 32:1, 43-48, 1954. já havia destacado que na abertura da famosa obra de Darwin, Origem das Espécies três citações cuidadosamente escolhidas oferecem uma curiosa premonição das descobertas revolucionárias relacionadas neste volume épico. O autor também mostra que em quase todos os campos de conhecimento certos autores mostraram predileção por incluir esse tipo de lema ou divisa preliminar em suas obras.
Do ponto de vista da normalização documentária existem diversas normas e manuais de estilo acadêmico que definem e regulamentam a formatação e inserção de epígrafes em um texto científico (ABNT, 2011ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 14.724: informação, e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação. 3.ed. 2011.; CMOS, 2018CHICAGO MANUAL OF STYLE (CMOS). Epygraphs and sources (CMOS 1.37). 2018. Disponível em: https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html. Acesso em: set. 2021.
https://www.chicagomanualofstyle.org/hom...
; APA, 2020AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA). Manual of the American Psychological Association. 7th. Ed. 2020. Disponível em: https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition. Acesso em; set. 2020.
https://apastyle.apa.org/products/public...
). De acordo com a norma brasileira de apresentação de trabalhos acadêmicos (ABNT, 2011ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 14.724: informação, e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação. 3.ed. 2011.) a epígrafe é descrita como um elemento pré-textual, de caráter opcional, que se localiza após os agradecimentos, e também podem constar nas folhas ou páginas de abertura das seções primárias, nas quais o autor apresenta uma citação, seguida de indicação de autoria, relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho. Não há indicação de que a fonte da epígrafe deva constar das referências.
As normas de estilo Chicago também preconizam que a fonte de uma epígrafe é geralmente fornecida em uma linha após a citação, às vezes precedida por um traço, sendo que apenas o nome do autor e, geralmente, o título do trabalho precisam aparecer; não é costume fazer uma citação completa (CMOS, 2018CHICAGO MANUAL OF STYLE (CMOS). Epygraphs and sources (CMOS 1.37). 2018. Disponível em: https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html. Acesso em: set. 2021.
https://www.chicagomanualofstyle.org/hom...
). Por sua vez, o manual de estilo da American Psychological Association (APA, 2020AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA). Manual of the American Psychological Association. 7th. Ed. 2020. Disponível em: https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition. Acesso em; set. 2020.
https://apastyle.apa.org/products/public...
) não trata especificamente das epígrafes, mas Hume-Patruch (2010)HUME-PATRUCH, Jeff. Dear professor: your students have questions we can’t answer. 2010. Disponível em: https://blog.apastyle.org/apastyle/2010/04/theres-an-art-to-it.html. Acesso em: set. 2021.
https://blog.apastyle.org/apastyle/2010/...
, editor científico da APA, já havia explicado que na formatação de epígrafes para periódicos da APA, a fonte de uma epígrafe não é listada na seção Referências, a menos que o trabalho seja um livro ou periódico acadêmico, e uma citação usada com permissão. Nesses casos, deve-se citar o autor, o ano e o número da página e a fonte deve estar listada na seção Referência.
Em relação aos aspectos de editoração, a lei de direitos autorais é aberta à interpretação sobre epígrafes, motivo pelo qual alguns editores defendem a exceção do seu uso justo, ao passo que outros solicitam documentação de permissões. (NORTON, 2009NORTON, Scott. Developmental editing: a handbook for freelancers, authors, and publishers. Chicago: University Chicago Press, 2009.). Talvez, esses sejam os motivos pelos quais a utilização de epígrafes em artigos científicos não seja habitual.
No entanto, para além de sua inserção em livros, as epígrafes podem ser encontradas em trabalhos acadêmicos para obtenção de títulos, como monografias de final de cursos de graduação, dissertações de mestrado e teses doutorais. Como forma de oferecer “ajuda” aos estudantes que desejam incluir epígrafes em seus trabalhos existem diversas coleções online de frases e pensamentos, tais como o site de acesso aberto “Pensador”, sendo que novas inserções são permitidas mediante cadastro. Entretanto, apesar de existirem muitos sites que fornecem citações os colaboradores que compilam essas citações podem não ter verificado se a redação ou a atribuição de autoria está correta. Esses cuidados contam para evitar equívocos ou questionamentos sobre a autoria das epígrafes.
Coleções populares de citações já existiam desde a segunda metade do século XIX, quando em 1855 o escritor e editor norte-americano John Barlett reuniu em um pequeno livro de 258 páginas, do tamanho de um cartão postal, uma lista organizada cronologicamente com frases e pensamentos de 169 autores indicando também as fontes originais. No breve prefácio dessa obra, intitulada Barlett’s Familiar Quotations, o autor esclarecia que o objetivo era “mostrar, até certo ponto, as obrigações que nosso modo de falar têm com os vários autores por numerosas frases e citações que se tornaram “palavras familiares”. (BARLETT, 2002BARLETT, John. Barlett's familiar quotations: a collection of passages, phrases, and proverbs traced to their sources in ancient and modern literature. 17.ed. Edited by Justin Kaplan. Boston: Little Brown, 2002., p. vii).
Obras similares ao Barlett’s Familiar Quotation têm sido editadas, tais como o The Oxford Dictionary of Quotations, que teve sua primeira edição publicada em 1941 e o Yale Book of Quotations, que apareceu em 2006. Recentemente, mais de 250 exemplos de epígrafes que cobrem quinhentos anos de literatura foram compilados por Ahern (2012)AHERN, Rosemary. The art of epigraph: how great books begins. New York: Atria Books, 2012.. Na introdução do seu compêndio a autora relata que sempre se mostra surpresa quando alguém afirma não ler epígrafes, pois “isso é uma oferta recusada, um prazer ignorado”. Para a autora “as epígrafes são atraentes para aqueles que ocasionalmente precisam do tipo de reforço que uma engenhosa frase ou peça inspiradora de sabedoria podem oferecer”. Em sua visão, as epígrafes nos lembram que os escritores são leitores. Contudo, complementa, esses escritores “não precisavam da obviedade de uma epígrafe para se ligar aos escritores anteriores, uma vez que seu trabalho foi gravado com suas leituras, e seus leitores quase sem esforço acompanharam suas referências implícitas à tradição literária”. (AHERN, 2012AHERN, Rosemary. The art of epigraph: how great books begins. New York: Atria Books, 2012., p. XI-XIV).
Outro aspecto importante das epígrafes se refere àquelas que são baseadas em citações incorretas, falsamente atribuídas e totalmente erradas. Esse tema foi explorado por Boller Jr. e George (1989)BOLLER JR., Paul. F.; GEORGE, John. They never say it: a book of fake quotes, misquotes, and misleading attributions. New York: Oxford University Press, 1989. ao analisarem centenas de citações errôneas e atribuições incorretas que frequentemente aparecem em livros, artigos e revistas, bem como falsas citações e fabricações flagrantes que ocorrem, por exemplo, quando a citação é deliberadamente colocada entre aspas pelo seu criador e atribuída a outrem. Os autores também retificaram alguns registros históricos, ao mostrarem que certas citações eram usadas muito antes do nascimento dos autores às quais são atribuídas. Boller Jr. e George (1989)BOLLER JR., Paul. F.; GEORGE, John. They never say it: a book of fake quotes, misquotes, and misleading attributions. New York: Oxford University Press, 1989. ainda fizeram uma distinção cuidadosa entre citações e atribuições erradas, geralmente não intencionais, e as falsificações deliberadas, além de tentarem rastrear a origem das citações falsas e evidenciar sua falta de autenticidade.
Uma verdadeira antologia das grandes citações no campo das Ciências Sociais, intitulada Social Sciences Quotations foi organizada por David Sills e Robert K. Merton. Eles observaram que embora a Enciclopédia Internacional de Ciências Sociais apresentasse 800 biografias acadêmicas e bibliografias anexas, muitos não citavam os escritos de cientistas sociais, enquanto o resto citava apenas passagens dispersas. Para os autores, o uso de citações em textos científicos e literários que são meros resumos ou paráfrases geralmente falha em capturar toda a força das formulações que tornaram as citações memoráveis. Apesar disso, essas palavras foram citadas ao longo das gerações, entrando no vernáculo com pouca consciência de suas fontes nas ciências sociais, e às vezes difundindo-se no pensamento popular. Sills e Merton (1991)SILLS, David.; MERTON, Robert King. Social sciences quotations: who said what, when, and were. New York: MacMillan, 1991. (Encyclopedia of the Social Sciences, v. 19). ainda notaram a existência de um processo muito comum na vida dinâmica das citações, uma vez que
[...] algumas das citações exercem uma influência tão extensa há tanto tempo que se tornaram parte da cultura com a identidade de seus autores originais não mais citadas, e no devido tempo se tornaram desconhecidas para muitos que fazem uso dessas citações anônimas. Esse padrão na transmissão da cultura foi descrito como “obliteração (da fonte) por incorporação (no discurso comum) - ou OBI, abreviado”. (SILLS; MERTON, 1991, p.xvii)
A ocorrência de citações com atribuições incorretas também foi indentificada por Sills e Merton (1991)SILLS, David.; MERTON, Robert King. Social sciences quotations: who said what, when, and were. New York: MacMillan, 1991. (Encyclopedia of the Social Sciences, v. 19)., mas ambos deixaram claro que no Social Sciences Quotations a fonte original é indicada nas anotações bibliográficas das citações. Por exemplo, é comum encontrar nos textos:
A Navalha de Ockham (“O que pode ser explicado por menos suposições é explicada em vão por mais”) geralmente é atribuída a Guilherme de Ockham, mas não há evidências convincentes de que ela era original. “O dinheiro ruim expulsa o dinheiro bom” é geralmente e equivocamente atribuído a Thomas Gresham, e “o melhor governo é o que menos governa” que foi atribuído de várias formas a Jefferson, Paine, Thoreau e ao editor do século XIX John Louis O'Sullivan. (SILLS; MERTON, 1991, p.xvii).
De outro lado, em duas oportunidades, Keyes (1995; 2006KEYES, Ralph. The quote verifier: who said what, where, and when. New York; St. Martin's Press, 2006.) se dedicou a identificar os problemas mais comuns que ocorrem com as citações. Primeiro, abordou as frases falsas, ditos espúrios e citações mal intencionadas, muitas vezes originadas pelo desejo de que os autores tivessem dito aquilo, ou condensando um comentário para torná-lo citável, bem como pronunciando palavras de outros como se fossem suas. Posteriormente, o autor voltou ao tema com a missão de buscar citações falsas e expor quem foi o primeiro a dizer aquilo, o quê realmente foi dito, onde e quando isso aconteceu. Imbuído da determinação de um promotor que expõe provas no tribunal visando o julgamento final, isso transparece na organização do livro, que não por acaso, apresenta e contextualiza a citação espúria e em seguida expõe o “veredito” sobre a autenticidade de suas fontes.
Com a obstinação de um detetive que busca provas de falsificação, Knowles (2006)KNOWLES, Elizabeth. What they didn't say: a book fo misquotations. Oxford: Oxford University Press, 2006. também examina mais de cento e cinquenta citações erradas, atribuições incorretas e observações apócrifas para revelar a origem das citações. A autora tem como objetivo esclarecer como determinadas citações não foram ditas por aqueles a quem a autoria comumente é atribuída, revelando os nomes e palavras reais que se escondem em famosos erros de interpretação.
Ao abordar a história das citações e dos locais onde foram coletadas, Morson (2011)MORSON, Gary Saul. The words of others: from quotations to culture. New Haven: Yale University Press, 2011. mostrou que muitas vezes somos vítimas de inúmeras fraudes verbais originadas por citações erradas e falsas atribuições. Por sua vez, Morton (2011)MORTON, Brian. Falser words were never speaking. The New York Times, 29 Aug. 2011. abordou as palavras espúrias que nunca foram ditas por Thoureau, Gandhi, Henri James, George Eliot, Picasso, Nelson Mandela, mas foram distorcidas e são encontradas no cotidiano, fixadas, por exemplo, em canecas de café ou em adesivos de carro, mostrando que não há evidência documental para a citação.
As causas de citações incorretas e como elas se espalham, foi examinada cuidadosamente por O’Toole (2017)O'TOOLE, Garson. Hemingway didn't say this: the truth behind familiar quotations. New York: Little A, 2017. ao escavar bancos de dados online em busca das origens duvidosas de citações, ditos cotidianos e aforismos que são repetidamente disseminados. Cientista da computação, o autor, cujo nome real é Gregory Sullivan, também criou em 2010 o website “Quote Investigator”, que verifica a origem de citações amplamente divulgadas. Na visão de Khalil (2016KHALIL, Beth. Quote investigator. The School Librarian, v.64, n.3, p.147, 2016., p.147) o site “é um recurso muito útil para bibliotecários, professores ou alunos usarem ao estudar uma variedade de assuntos”.
Essas considerações preliminares sobre a origem, funções e usos da epígrafe serviram de pano de fundo para introduzir as perspectivas teóricas e metodológicas que consideramos necessárias para melhor compreender o seu papel em textos científicos enquanto chave de leitura para o reconhecimento científico. Para tal, recorremos às obras de Genette (2009GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Trad. Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009., 2010GENETTE, Gérard. Palimpsestos: literatura de segunda mão. Belo Horizonte: Viva Voz, 2010.) nas quais a epígrafe é abordada no contexto de suas teorias sobre paratextualidade e intertextualidade, e à obra de Compagnon (1996)COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Trad. de Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1996. que insere as epígrafes nos contextos da intertextualidade e das citações.
Iniciamos com o sistema de transcendência textual, definido grosso modo por Genette (2010GENETTE, Gérard. Palimpsestos: literatura de segunda mão. Belo Horizonte: Viva Voz, 2010., p. 14) como sendo “aquilo que o coloca em relação, manifesta ou secreta, com outros textos”. Para o teórico, existem cinco tipos de relações transtextuais: intertextualidade, paratextualidade, hipertextualidade, metatextualidade e arquitextualidade. Essas relações, contudo, não devem ser consideradas como classes estanques e sem comunicação ou interseção. De acordo com sua visão, a intertextualidade pode ser definida
[...] de maneira sem dúvida restritiva, como uma relação de co-presença entre dois ou vários textos, isto é, essencialmente, e o mais frequentemente, como presença efetiva de um texto em um outro. Sua forma mais explícita e mais literal é a prática tradicional da citação (com aspas, com ou sem referência precisa) sua forma menos explícita e menos canônica é a do plágio (em Lautréaumont, por exemplo), que é um empréstimo não declarado, mas ainda literal; sua forma ainda menos explícita e menos literal é a alusão, isto é, um enunciado cuja compreensão plena supõe a percepção de uma relação entre ele e um outro (...). (GENETTE, 2010GENETTE, Gérard. Palimpsestos: literatura de segunda mão. Belo Horizonte: Viva Voz, 2010., p. 14)
Por sua vez, o paratexto é definido como “aquilo por meio do qual um texto se torna livro”, isto é, “mais do que um limite ou um fronteira estanque, trata-se aqui de um limiar, (...) de um ‘vestíbulo’, que oferece a cada um a possibilidade de entrar, ou de retroceder.” (Genette , 2009, p. 9-12). Esses elementos que fazem a mediação entre o livro e o leitor são, entre outros, os títulos, subtítulos, legendas, prefácios, posfácios, dedicatórias, epígrafes, notas de rodapé, ilustrações, capas, epílogos. O autor ainda explica que há duas categorias de paratexto: o peritexto, que pode estar situado “ao redor do texto, no espaço do mesmo volume, como o título ou o prefácio”, e o epitexto, que “se encontra às vezes inserido nos interstícios do texto, como os títulos de capítulos ou certas notas”. Essas duas categorias, que dividem o campo espacial do paratexto podem ser representadas pela seguinte fórmula: paratexto = peritexto +epitexto. Dos elementos que compõem o peritexto importa destacar a epígrafe, definida como
Uma citação colocada em exergo, em destaque, geralmente no início de obra ou de parte de obra: “em destaque” significa literalmente fora da obra, o que é uma coisa exagerada: no caso, o exergo é mais uma borda da obra, geralmente mais perto do texto, portanto depois da dedicatória, se houver dedicatória. Daí essa metonímia frequente hoje: “exergo” para epígrafe, que não me parece muito feliz, pois confunde uma coisa e seu lugar. (Genette, 2009GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Trad. Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009., p. 131)
A respeito do lugar da epígrafe no texto, Genette (2009)GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Trad. Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009. define-o como o local mais próximo do texto, geralmente na primeira página após a dedicatória, mas antes do prefácio. Também podem ocorrer casos em que as epígrafes estão localizadas no início de capítulos ou partes de textos. Outro lugar possível é no final da obra, após a última linha do texto separada por um espaço em branco, e nesse caso denomina-se como epígrafe terminal. Essa mudança de lugar pode implicar em uma mudança de função com relação ao leitor, pois “a epigrafe no início está no aguardo de sua relação com o texto; a epígrafe no fim, depois da leitura do texto, tem em princípio uma significação evidente e mais autoritariamente conclusiva: é a palavra final, mesmo que se finja deixá-la para outro”. (GENETTE, 2009GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Trad. Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009., p. 135).
Considerando a epígrafe enquanto citação que consiste em um texto, Genette (2009)GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Trad. Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009. também concede que ela também pode citar ou reproduzir produções não-verbais, como um desenho ou uma partitura.
Do fato de que as epígrafes são citações decorrem duas perguntas: quem é o autor, real ou putativo do texto citado, e quem escolhe e propõe a citação? O primeiro é chamado de epigrafado, e o segundo de epigrafador, ou destinador da epígrafe (sendo o seu destinatário - sem dúvida o leitor do texto - se fizerem questão, o epigrafário), conforme explica Genette (2009GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Trad. Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009., p.136). Em sua visão, a epígrafe pode ser alógrafa, quando é atribuída a um autor que não é o da obra. No entanto,
[...] se essa atribuição for verídica, a epígrafe é autêntica; mas a atribuição pode ser falsa, e de muitas maneiras: ou porque o epigrafador (...) forjou a citação para atribuí-la com ou sem verossimilhança a um autor real ou imaginário; (...) como já se disse que a epígrafe é apócrifa, falsamente atribuída; (...) seria igualmente falsa ou fictícia se, sempre forjada, fosse atribuída a um autor imaginário ou “suposto”. (...) Pode ainda ser autêntica, mas inexata (caso muito frequente), se o epigrafador, ou porque cita erroneamente de memória, ou porque deseja adaptar melhor a citação a seu contexto, ou por outra razão qualquer, como um intermediário infiel, atribui corretamente uma epígrafe inexata, isto é, não-literal. Pode sempre ser autêntica e exata, mas situada incorretamente pela referência, quando houver. (GENETTE, 2009GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Trad. Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009., p. 136-137)
Uma alternativa teórica à epígrafe alógrafa é a epígrafe autógrafa, que é atribuída de maneira explícita ao próprio epigrafador, ao autor do livro, como expõe Genette (2009GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Trad. Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009., p.137).
Na teoria genettiana, a epígrafe possui quatro funções não explícitas: 1) a mais direta, e que data do século XX, é a função de comentário, explicação, ou justificativa do título - ou seja, uma espécie de gesto mudo cabendo ao leitor a sua interpretação -, o que não exclui o seu efeito inverso, isto é, quando o título modifica o sentido da epígrafe; 2) a mais canônica, que consiste em um comentário do texto, cujo significado ela precisa ou ressalta indiretamente; 3) a mais oblíqua, ou seja, quando o essencial não é o que a epígrafe diz, mas a identidade do seu autor e o efeito de garantia indireta que sua presença determina à margem de um texto, e por isso, num grande número de epígrafes é apenas o nome do autor citado; 4) o mais poderoso, o efeito-epígrafe, isto é, deve-se talvez a sua simples presença, qualquer que seja ela. Nas palavras do teórico, “a epígrafe é por si só um sinal (que se quer índice) de cultura, uma palavra-passe para a intelectualidade”. E, enquanto a epígrafe aguarda “hipotéticas resenhas nos jornais, de prêmios literários e de outras consagrações oficiais, ela já é um pouco a sagração do escritor, que por meio dela escolheu seus pares e, portanto, seu lugar no Panteão”. (GENETTE,2009, p.141-144).
Vale reter da teoria gennetiana quem são os partícipes das epígrafes: epigrafário é o destinatário da epígrafe, isto é, o leitor do texto; epigrafado é o autor da epígrafe e epigrafador é quem escolhe e cita a epígrafe. (GENETTE, 2009GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Trad. Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009.).
A especificidade da epígrafe também assume um lugar de destaque para Compagnon (1996COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Trad. de Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1996., p. 120) uma vez que “a epígrafe é a citação por excelência, a quintessência da citação, a que está gravada na pedra para a eternidade, no frontão dos arcos do triunfo ou no pedestal das estátuas”. O autor ainda prossegue definindo-a e descrevendo suas funções:
Na borda do livro, a epígrafe é um sinal de valor complexo. É um símbolo (relação do texto com outro texto, relação lógica, homológica), um índice (relação do texto com um autor antigo, que desempenha o papel de protetor, é a figura do doador no canto de um quadro). Mas ela é, sobretudo, um ícone, no sentido de uma entrada privilegiada na enunciação. É um diagrama, dada a sua simetria com a bibliografia de que é precursora (um índice e uma imagem). Porém, mas ainda, ela é uma imagem, uma insígnia ou uma decoração ostensiva no peito do autor. (...) em nenhum outro lugar está tão a descoberto quanto nesse posto avançado do livro, onde nada em volta a protege. Sozinha no meio da página a epígrafe representa o livro, (...) infere-o, resume-o. Mas, antes de tudo, ela é um grito, uma palavra inicial (...) um prelúdio ou uma confissão de fé (...) é um trampolim, no extremo oposto do primeiro texto, uma plataforma sobre a qual o comentário ergue seus pilares. (COMPAGNON, 1996COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Trad. de Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1996., p.120-121)
Ao definir a epígafe como “citação por excelência” Compagnon (1996COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Trad. de Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1996., p.35) amplia o seu olhar sobre esse elemento paratextual, considerando-a também como “um tapa-buraco ou um encaixe (...) os varia que não cabem em nenhuma categoria taxonômica”. Da mesma forma, para o autor, “não é mais possível falar da citação por si mesma, mas somente de seu trabalho, o trabalho de citação”, pois “a citação trabalha o texto” e “o texto trabalha a citação”. (COMPAGNON, 1996COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Trad. de Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1996., p. 44-46).
O ato de citar, é uma prática de linguagem mais arcaica e universal na visão de Compagnon (1996COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Trad. de Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1996., p. 61), pois ela é “o bê-á-bá do bárbaro quando ele repete os gregos; é o ‘mamãe’ do infans quando ele clama por amor”. Nesse contexto é relevante a noção de perigrafia do texto, isto é, “a zona intermediária entre o fora do texto e o texto e para se chegar ao texto é preciso passar por ela”. Ao ser rodeado por ela o texto “exibe em sua franja seus títulos para reconhecimento”, e enquanto “aparelho instituído, anda junto com as citações”. (COMPAGNON, 1996COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Trad. de Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1996., p.105). Assim, do ponto de vista de seus fundamentos teóricos, a epígrafe inserida no cerne da peritextualidade genettiana ou da perigrafia compagnonista pode ser entendida tanto como “citação colocada em exergo” (GENETTE, 2009GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Trad. Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009.) ou como “citação por excelência” (COMPAGNON, 1996COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Trad. de Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1996.).
Vale observar, contudo, que no campo da Ciência da Informação as teorias paratextuais ainda não receberam muita atenção, principalmente no campo da Bibliometria, com poucas exceções: em estudos sobre agradecimentos (Cronin; Franks, 2005CRONIN, Blaise; LA BARRE, Kathryn. Patterns of puffery: an analysis of non-fiction blurbs. Journal of the American Society for Information Science and Technology, v. 37, n.1, p.17-24, 2005.; Salager-Meyer; ALCARAZ-ARIZA; PABÓN-BARBESÍ, 2009SALAGER-MEYER, Françoise.; ALCARAZ-ARIZA, María Ángeles.; PABÓN-BERBESÍ, Maryelis. ‘Backstage solidarity’ in Spanish-and-English-written medical research papers: publicaton context and the acknowledgment paratext. Journal of the American Society for Information Science and Technology, v. 60, n.2, p. 307-317, 2009.; SALAGER-MEYER et al, 2011SALAGER-MEYER, Françoise et al. Scholarly gratitude in five geographical contexts: a diachronic and cross-generic approach of the acknowledgment paratext in medical discourse (1950-2010). Scientometrics, v. 86, n.3, p. 763-784, 2011.; DesrocheRs; PECOSKIE, 2014DESROCHERS, Nadine; PECOSKIE, Jen. Inner circles and outer reaches: local and global information-seeking habits of author in acknowledgment paratext. Information Research, v.19, n.1, 2014.) e propagandas para estimular a venda de livros (Cronin; La Barre, 2006CRONIN, Blaise; FRANKS, Sara. Trading cultures: resource mobilization and service rendering in the life sciences as revealed in the journal article's paratext. Journal of the American Society for Information Science and Technology, v.57, n.14, p.1909-1918, 2006.).
Mais recentemente, Aström (2014)ASTRÖM, Fredrik. The context of paratext: a bibliometric study of the citation context of Gérard Genette's texts. In: DESROCHERS, Nadine.; APOLLON, Daniel. (ed.) Examining paratextual theory ant its application in digital culture. Hershey: IGI Global, 2014. p. 1-23. discutiu a relação entre estudos de paratexto e bibliometria oferecendo uma oportunidade para refletir até que ponto o uso de análises bibliométricas de diferentes características de documentos pode ser vista como uma estratégia para analisar empiricamente o paratexto. O autor questionou se as teorias paratextuais têm algo em comum com a Bibliometria; e se as análises bibliométricas têm o potencial de contribuir para estudos paratextuais. Para ele existe um parentesco definido entre estudos paratextuais e a Bibliometria, particularmente quando se trata de trabalhar com o mesmo material ou dados. Em sua visão, na Bibliometria, o foco das análises geralmente é a informação relacionada ao texto, e não o texto em si, na forma de referências transformadas em citações, endereços de autores e outras formas de metadados. Isso pode ser facilmente visto como paralelo, se não sinônimo, aos dispositivos liminares que Genette (2009)GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Trad. Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009. identifica como o paratexto de um documento. Assim, a Bibliometria pode ser vista como um importante conjunto de metodologias para as análises empíricas e quantitativas do paratexto.
Diferentemente do que ocorre no campo da Bibliometria, as teorias paratextuais são mais frequentes em estudos de Catalogação e Classificação. Por exemplo, Paling (2002)PALING, Stephen. Thresholds of access: paratextuality and classification. Journal of Education for Library and Information Science, v. 43, n. 2, p. 134-143, 2002. defendeu a ideia de que a paratextualidade genettiana também se constitui em limiares de acesso podendo auxiliar na superação da divisão que geralmente parece separar as humanidades do estudo da classificação. O estudo de Andersen (2002)ANDERSEN, Jack. Materiality of works: the bibliographic record as a text. Cataloguing & Classification Quarterly, v.33, n.3-4, p. 39-65, 2002. utilizou a noção de paratexto para estudar o registro bibliográfico como texto, mostrando que essa opção impõe uma visão mais ampla do que apenas entender esses registros como um modelo de relacionamento entre entidades. Por sua vez, Veros (2015)VEROS, Vassiliki. A matter of meta: category romance fiction and the interplay of paratext and library metadata. Journal of Popular Romance Studies, v.5, n.1, p. 1-13, 2015. teve como pressuposto em seu estudo que para entender conceitualmente a base das práticas de catalogação de bibliotecas e a criação de registros de catálogos é importante explorar os níveis de acesso a um objeto cultural, em particular paratexto e metadados.
Outros estudos no campo da Ciência da Informação também utilizaram as noções genettianas de paratextualidade: o estudo de Pecoskie e Desrochers (2013)PECOSKIE, Jen; DESROCHERS, Nadine. Hiding in plain sight: paratextual utterances as tools for information-related research and practice. Library and Information Science Research, v.35, p. 232-240, 2013. postula que os enunciados paratextuais servem como expressão e ferramenta do domínio cultural da publicação e podem ser usadas para fins informativos em pesquisas de Ciência da Informação. Por sua vez, Desrochers e Tomaszek (2014)DESROCHERS, Nadine.; TOMASZEK, Patricia. What I see and what you read: a narrative of interdisciplinary research on a common digital object. Proceedings of the 42nd Annual Conference of the Canadian Association for Information Science. Ontário: CAIS/ACSI, 2014. apresentaram uma dupla perspectiva sobre o aparato paratextual de uma obra de literatura eletrônica utilizando abordagens dos estudos de Literatura e Ciência da Informação. Gross e Latham (2017)GROSS, Melissa.; LATHAM, Don. The peritextual literacy framework: using the functions of peritext to support critical thinking. Library and Information Science Research, v.39, p.116-123, 2017. defendem que a funcionalidade do paratexto é considerada importante no campo da Ciência da Informação como elemento estrutural de literacia peritextual, pois permite acessar, avaliar e compreender o conteúdo da mídia usando elementos que emolduram o corpo de uma obra e mediam seu conteúdo para o usuário.
Ao propormos a análise de epígrafes a partir de uma perspectiva paratextual enquanto chave de leitura para o reconhecimento científico, concordamos que para sua análise podem ser aplicadas a perspectiva de Compagnon (1996)COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Trad. de Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1996., que a entende como o posto avançado do texto, isto é, a citação por excelência, e o modelo conciso de Genette (2009)GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Trad. Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009. que é baseado em cinco perguntas remanescentes do jornalismo e estipula que para seu entendimento é necessário: determinar seu lugar (onde?), sua data de aparecimento e às vezes de desaparecimento (quando?), seu modo de existência, verbal ou outro (como?), as características de sua instância de comunicação, destinador (epigrafador) e destinatário (epigrafário) (de quem? a quem?) e as funções que animam sua mensagem: para fazer o quê?.
3 METODOLOGIA
Bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista, diríamos que é o ponto de vista que cria o objeto. (SAUSSURE, 2006SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral. 27.ed. São Paulo: Cultriz, 2006., p.15)
Esse estudo caracteriza-se como exploratório e descritivo, de cunho bibliográfico e documental (AUTOR 1 et al, 2012) com enfoque teórico e aplicado. O objeto de estudo selecionado - as epígrafes inseridas em textos científicos - ainda não havia sido analisado do ponto de vista da análise bibliométrica (AUTOR 1, 2011) e de conteúdo (BARDIN, 2011BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.) Assim, essas abordagens metodológicas foram combinadas para permitir observar esse fenômeno sob diferentes perspectivas fortalecendo a descrição, interpretação e discussão dos resultados. Para execução da pesquisa foram adotadas as seguintes etapas de desenvolvimento:
a) constituição de um corpus teórico por meio de uma pesquisa bibliográfica sobre as epígrafes visando sintetizar as diferentes teorias e metodologias advindas de várias áreas de conhecimento e que fundamentam o estudo proposto. Esse tipo de método de análise da literatura científica permite identificar teorias e/ou conceitos recorrentes em determinadas temáticas e estabelecer relações com as produções anteriores, conforme argumentam Vosgerau e Romanovski (2014)VOSGERAU, Dilmeire Sant’Anna Ramos; ROMANOWSKI, Joana Paulin. Estudos de revisão: implicações conceituais e metodológicas. Diálogo Educacional, Curitiba, v.14, n.21, p. 165-189, jan./abr. 2014.. Para tal, foram selecionados artigos disponíveis no Portal de Periódicos Capes, bem como livros e capítulos, todos com foco na Ciência da Informação, Sociologia da Ciência, Literatura e Linguística. Os resultados dessa etapa foram expostos na seção 2.
b) elaboração do modelo de análise de epígrafes - detalhado na próxima seção - tendo como eixo norteador os aportes teóricos e metodológicos advindos da literatura científica examinada anteriormente e da leitura crítica das epígrafes selecionadas para análise.
c) seleção do corpus empírico da pesquisa constituído por epígrafes (n=299) inseridas em teses doutorais (n=104) defendidas nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação do IBICT/UFRJ (n=37) e da Unesp/Marília (n=67). Optou-se por esse tipo documental pois ao contrário das dissertações de mestrado, as teses doutorais são pesquisas originais que exigem dos autores autonomia intelectual e pensamento crítico com maior densidade teórica e maturidade metodológica, bem como o conhecimento e domínio de uma ampla gama de literatura científica. Além disso, epígrafes inseridas em trabalhos para obtenção de títulos na pós-graduação costumam ser mais frequentes do que aquelas presentes em artigos científicos. A escolha desses programas de pós-graduação justifica-se pela sua representatividade no cenário acadêmico do país, pois são, respectivamente, o programa mais antigo e tradicional da área (IBICT/UFRJ), e aquele que recebeu o conceito 6, considerado de excelência, na última avaliação da pós-graduação realizada pela CAPES (UNESP/Marília). Como critérios de inclusão foram consideradas a disponibilidade do texto integral da tese, a presença de epígrafes e um recorte cronológico de cinco anos compreendidos entre 2017 e 2021. As teses que não continham epígrafes representaram 20% (n=26) do total inicial (n=130) e por isso foram excluídas.
d) coleta, registro de dados e modelagem dos dados em uma planilha Excel contendo as categorias do modelo de análise. Essa etapa foi realizada entre maio e junho de 2021. A modelagem dos dados visou a padronização dos nomes dos epigrafados e checagem da autoria das epígrafes para evitar inconsistências. Isso exigiu uma intensa busca de informações por meio de consultas em bases de dados científicas, Wikipedia, Google Scholar, Researchgate, e sites como Quote Investigator e Wikiquote para checagem da autoria das citações.
e) elaboração de indicadores bibliométricos e de conteúdo das epígrafes representados em gráficos, figuras, tabela e quadros.
f) análise, interpretação e discussão dos resultados à luz das teorias e metodologias que fundamentaram a pesquisa.
Com base nessas etapas foi elaborado o modelo de análise das epígrafes apresentado a seguir.
4 MODELO DE ANÁLISE DE EPÍGRAFES EM TEXTOS CIENTÍFICOS
O reconhecimento e a fama tornam-se então um símbolo e uma recompensa por ter feito bem o seu trabalho”. (MERTON, 1973MERTON, Robert King. The sociology of science: theoretical and empirical investigations. Chicago: Chicago University Press, 1973., p.294)
O eixo norteador desse modelo adveio das teorias sobre o sistema de recompensas da ciência de matriz mertoniana, dos aportes teóricos genettianos e compagnonista sobre peritextualidade e perigrafia, além da leitura crítica das epígrafes selecionadas para análise.
Esse modelo compreende quatro categorias expressas em indicadores quantitativos e qualitativos relacionadas à epígrafe, ao epigrafado e ao epigrafador, os quais podem revelar as estratégias de legitimação, filiação e reconhecimento científico em um campo de conhecimento.
Os indicadores quantitativos advêm da análise bibliométrica das epígrafes e permitem analisar, entre outros aspectos, as frequências das epígrafes por instituição, localização no texto, idioma, tipo de obra epigrafada, gênero do epigrafado e do epigrafador, etc. Por sua vez, os indicadores qualitativos são baseados na análise de conteúdo das epígrafes e revelam aspectos intrínsecos e extrínsecos das epígrafes relacionados, por exemplo, ao gênero textual, funções e tipos das epígrafes, e aos perfis dos epigrafados e dos epigrafadores.
Cumpre observar que esse modelo exige do analista um conhecimento mais aprofundado da literatura de referência que fundamenta os textos científicos selecionados para análise - no presente estudo a área de Ciência da Informação - com vistas a identificar as possíveis relações entre as epígrafes e o campo de conhecimento específico no qual estas se inserem.
O Quadro 1 detalha as categorias e indicadores propostos no modelo de análise.
Vale enfatizar que os indicadores desse modelo podem ser ampliados ou reduzidos de acordo com o conteúdo do corpus investigado e do confronto com a literatura científica que embasa tal proposta.
5 APLICAÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE
Zona indecisa entre o dentro e o fora, sem limite rigoroso, nem para o interior (o texto) nem para o exterior (o discurso do mundo sobre o texto). (Genette, 2009GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Trad. Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009., p.10)
Para aplicação do modelo de análise foram selecionadas como fonte de dados as teses do IBICT/UFRJ (n=37) e da Unesp/Marília (n=67). A Tabela 1 apresenta essas teses por ano e gênero dos autores.
Nota-se que o ano de 2019 concentrou o maior número de trabalhos (n=37). Dado que a coleta de dados finalizou em junho de 2021, e por se tratar de um ano ainda em curso, a incidência de teses (n=6) foi menor. A diferença no total de teses por instituição pode ser devida aos diferentes totais de vagas disponibilizadas para ingresso e também ao número de defesas por ano nos respectivos programas de pós-graduação.
Em ambas as instituições o total de teses defendidas por mulheres (n=47) é superior ao masculino (n=37), seguindo o padrão característico de feminização do campo da Biblioteconomia e Ciência da Informação no Brasil (MARTUCCI, 1996; XAVIER, 2020XAVIER, Ana Laura Silva. A presença do feminino na biblioteconomia brasileira: aspectos históricos. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação). Marília: Faculdade de Filosofia e Ciências/ UNESP - Campus de Marília, 2020.).
As mulheres também predominaram quando foram analisados os resultados referentes à distribuição das epígrafes (n=299) por gênero dos autores das teses. As epígrafes (n=151) nas teses de autoria feminina foram discretamente superiores àquelas nas teses de autoria masculina (n=148). Considerando que as diferenças são pequenas esses resultados sugerem que o gênero dos autores das teses teve pouco impacto na inserção de epígrafes.
A Tabela 2 sintetiza as informações bibliográficas das epígrafes de acordo com os indicadores do modelo de análise.
Em relação à localização das epígrafes no texto a maioria (n=166) foi inserida na posição intermediária, isto é, nas seções e subseções das teses com preponderância daquelas do IBICT/UFRJ (n=91) seguidas pelas da UNESP/Marília (n=75). As epígrafes iniciais (n=90) localizadas exclusivamente nas páginas pré-textuais foram distribuídas entre as da UNESP/Marília (n=59) e IBICT/UFRJ (n=31). As demais epígrafes iniciais (n=32), com o mesmo quantitativo (n=16) em ambas as instituições, juntamente com as intermediárias (n=166) e com as finais (n=11) representaram juntas 69,9% (n=209) do total de epígrafes. Vale observar que essas epígrafes finais localizadas nas conclusões ou considerações finais das teses foram mais frequentes na UNESP/Marília (n=7) quando comparadas com as do IBICT/UFRJ (n=4).
Por sua vez, as epígrafes em português (n=257) representaram 86% do total e predominaram em ambas instituições com valores próximos, isto é: UNESP/Marília (n=130) e IBICT/UFRJ (n=127). O inglês foi o segundo idioma das epígrafes (n=28), seguido pelo espanhol (n=10). O idioma francês (n=3) só esteve presente em teses do IBICT/UFRJ e o sueco, em apenas uma tese da UNESP/Marília.
Os resultados revelaram que 56,9% (n=170) das obras citadas nas epígrafes são traduzidas, com preponderância daquelas da UNESP/Marília (n=92) seguidas por 45,8% (n=78) citadas pelo IBICT/UFRJ. Verificou-se que 43,1% das epígrafes (n=129) citadas utilizaram obras originais, com distribuição praticamente equitativa entre UNESP/Marília (n=65) e IBICT/UFRJ (n=64).
Notou-se ainda que em relação ao total de epígrafes (n=299) a maioria (n=153) informou a fonte na lista final de referências das teses do IBICT/UFRJ (n=90) e da UNESP/Marília (n=63). As demais epígrafes (n=146) não constaram nas referências das teses da UNESP/Marília (n=94) e do IBICT/UFRJ (n=52).
A Tabela 3 apresenta o perfil das epígrafes considerando os indicadores de gêneros textuais, tipos de epígrafes, funções não explícitas e discursos implícitos, conforme os indicadores do modelo de análise.
Ao considerar o gênero textual predominou a prosa (n=249) nas epígrafes da UNESP/Marília (n=134) e IBICT/UFRJ (n=115). As epígrafes que corresponderam ao gênero poesia (n=50) foram minoria no IBICT/UFRJ (n=27) e na UNESP/Marília (n=23). Vale esclarecer que no gênero textual poesia foram considerados não apenas poemas da literatura brasileira (Carlos Drummond de Andrade, Cora Coralina, Gregório de Matos, Manoel de Barros, Mário Quintana) e internacional (Fernando Pessoa, Herman Melville, Luís Vaz de Camões, Mia Couto, Pablo Neruda, T. S. Eliot, Antonio Machado, etc.) mas também textos bíblicos (por exemplo, os poemas que compõem o Livro dos Salmos da Bíblia cristã), bem como letras de músicas (Arnaldo Antunes, Banda El Efecto, Caetano Veloso, Cazuza e Arnaldo Brandão, Chico Buarque de Holanda e Pablo Milanés, Chico César, Engenheiros do Hawaii, Estação Primeira de Mangueira, Kiko Dinucci, MC Dexter, Milton Nascimento e Fernando Brant, Lars Winnerbäck, Mike Hadreas, Titãs) entre outros.
A análise das epígrafes de acordo com a tipologia proposta por Genette (2009)GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Trad. Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009. apontou que a maioria (n=280) é autêntica e distribuída entre aquelas da UNESP/Marília (n=142) e do IBICT/UFRJ (n=138). Em segundo lugar compareceram as epígrafes apócrifas (n=15) com destaque para aquelas da UNESP/Marília (n=13) atribuídas a Theodore Roosevelt, Philip Condit, William Shakespeare, Ernesto Che Guevara, Nelson Mandela, Robert A. Heinlein e Albert Einstein e as demais (n=2) também atribuídas a Albert Einstein em epígrafes do IBICT/UFRJ.
Em relação às epígrafes autógrafas foram identificadas apenas duas cujo autor real - isto é, o epigrafado - é o próprio autor da tese, e foram creditadas como “anotações do pesquisador infiltrado” e “diário de campo”.
As três epígrafes anônimas foram citadas em uma tese do IBICT/UFRJ e em duas teses da UNESP/Marília. A primeira traz um texto contendo reflexões sobre o conhecimento que se adquire ao longo do tempo e foi creditada como “Fragmentos do fim do mundo. Blog literário anônimo”. A segunda foi extraída de uma página do Facebook que compartilha opiniões de acadêmicos e contém uma postagem sobre o significado de um doutorado. A terceira (“Se for necessário explicar o que é simples, é porque foi mal projetado”) traz como crédito “sem identificação do autor”.
Apenas uma epígrafe inexata foi identificada e apareceu em uma tese do IBICT/UFRJ. Trata-se de citação atribuída a Simone de Beauvoir, mas que não é fiel ao texto original da autora. Conforme comentam Boller Jr. e George (1989)BOLLER JR., Paul. F.; GEORGE, John. They never say it: a book of fake quotes, misquotes, and misleading attributions. New York: Oxford University Press, 1989., esse tipo de atribuição geralmente não é intencional. Além disso, do ponto de vista genettiano, é muito frequente que a epígrafe inexata seja citada erroneamente pois o epigrafador deseja adaptar melhor a citação ao seu contexto.
Para conferir a autenticidade das epígrafes apócrifas, isto é, aquelas que são falsamente atribuídas, foram consultados o verificador de citações “Quote Investigator” (2021), o compêndio online Wikiquote (2021)QUOTE INVESTIGATOR. Tracing citations. 2021. Disponível em: https://quoteinvestigator.com/. Acesso em: jul. 2021.
https://quoteinvestigator.com/...
que contém citações em vários idiomas de pessoas notáveis, e os estudos de Boller Jr. e George (1989)BOLLER JR., Paul. F.; GEORGE, John. They never say it: a book of fake quotes, misquotes, and misleading attributions. New York: Oxford University Press, 1989., Calaprice (2011)CALAPRICE, Alice. The ultimate quotable Einstein. New Jersey: Princenton University Press, 2011., Morson (2011)MORSON, Gary Saul. The words of others: from quotations to culture. New Haven: Yale University Press, 2011., O’Toole (2017)O'TOOLE, Garson. Hemingway didn't say this: the truth behind familiar quotations. New York: Little A, 2017. além de sites da internet, como “Pensador” (2021PENSADOR. Frases e pensamentos. 2021. Disponível em: https://www.pensador.com/ Acesso em: maio 2021.
https://www.pensador.com/...
) e outros que oferecem frases e mensagens de pessoas famosas. Os resultados dessas buscas permitem concluir que a autenticidade dessas epígrafes é questionável.
Por exemplo, as epígrafes “Sempre parece impossível até que seja feito” cujo original em inglês é “It always seems impossible until it’s done” e “Tudo é teoricamente impossível, até que seja feito” foram citadas em duas teses da UNESP/Marília e as autorias foram creditadas a Nelson Mandela e Robert Heinlein. No entanto, ao serem conferidas no Quote Investigator (2016QUOTE INVESTIGATOR. It always seems impossible until it’s done. 2016. Disponível em: https://quoteinvestigator.com/2016/01/05/done/. Acesso em: jul. 2021.
https://quoteinvestigator.com/2016/01/05...
) este concluiu que a primeira foi atribuída a Nelson Mandela em 2001, embora a evidência tenha sido indireta, pois o ditado tem uma história muito longa. Ou seja, diferentes frases foram empregadas, entre outras, pelo naturalista Plínio, o Velho, pelo cientista de foguetes Robert H. Goddard, pelo autor de ficção científica Robert A. Heinlein, como foi o caso da segunda epígrafe.
Por sua vez, a organização não-governamental Africa Check dedicada a responsabilizar figuras públicas pelo que disseram e desmascarar declarações falsas, afirma ter consultado Sam Vether, pesquisador sênior da Fundação Nelson Mandela, e este informou que embora a Fundação não saiba de onde a citação se originou, eles não têm nenhum registro de Mandela dizendo isso. (WILKINSON, 2016WILKINSON, Kate. No record of Mandela saying ‘It always seems impossible until it’s done. 9 dec. 2016. Disponível em: https://africacheck.org/fact-checks/spotchecks/no-record-mandela-saying-it-always-seems-impossible-until-its-done. Acesso em: set. 2021.
https://africacheck.org/fact-checks/spot...
).
Os resultados da pesquisa também apontaram a existência de outras epígrafes apócrifas nas teses analisadas. Entre elas, as seguintes foram atribuídas a Albert Einsten: a) The games are the most advanced form of investigation (Os jogos são a forma mais avançada de investigação); b) A maioria das pessoas dizem que é o intelecto que faz um grande cientista. Eles estão errados: é o caráter; c) Uma mente que se abre para uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho normal (citada duas vezes); d) Conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro; e) A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, não seremos capazes de resolver os problemas causados pela forma como nos acostumamos a ver o mundo (citada duas vezes).
Todas essas epígrafes tiveram suas autencidade conferidas no site Quote Investigator, e no livro de Calaprice (2011)CALAPRICE, Alice. The ultimate quotable Einstein. New Jersey: Princenton University Press, 2011., biógrafa alemã de Einstein que compilou citações documentas nos arquivos do cientista. Ambos concluíram pela falta de evidências para se atribuir a autoria a Einstein essas epígrafes. Por exemplo, a epígrafe que menciona serem os jogos a forma mais avançada de pesquisa recebeu no Quote Investigator (2014QUOTE INVESTIGATOR. Play is the highest form of research. 2014. Disponível em: https://quoteinvestigator.com/2014/08/21/play-research/#return-note-9611-1. Acesso em: jul. 2021.
https://quoteinvestigator.com/2014/08/21...
) um alerta de que se alguém deseja usar uma frase semelhante deve dar crédito ao pesquisador de educação Neville V. Scarfe (1962)SCARFE, Nevile V. Play is education. Childhood Education, v.39, n.3, p. 117-121, 1962. que citou essa frase em um artigo.
Como refere O’Toole (2017)O'TOOLE, Garson. Hemingway didn't say this: the truth behind familiar quotations. New York: Little A, 2017. pessoas como Albert Einstein, Mark Twain, Marilyn Monroe, Winston Churchill, Dorothy Parker e Yogi Berra são astros das citações e por serem tão vibrantes e atraentes se tornam hospedeiros de citações que nunca proferiram. Ou como já havia alertado Lichtig (2010)LICHTIG, Toby. Epigraphs: opening possibilities. The Guardian. 30 mar. 2010. Disponível em: https://www.theguardian.com/books/booksblog/2010/mar/30/epigraphs-toby-lichtig. Acesso em: set. 2021.
https://www.theguardian.com/books/booksb...
, ao ocupar uma posição privilegiada de porta de entrada do texto a epígrafe está aberta ao abuso, pois os autores podem adicionar passagens aleatórias da Bíblia na busca de presságios, dísticos shakespearianos para adicionar um pouco de erudição; seções de Lewis Carroll para conjurar aquele ar ausente de mistério.
Outro exemplo de epígrafe apócrifa foi encontrada em uma tese da UNESP/Marília com atribuição a Che Guevara. Trata-se da frase “La única lucha que se pierde es la que se abandona”. Após checagem verificou-se que em vários sites da internet essa frase já foi imputada ao ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica, ao politico brasileiro Carlos Marighela e ao movimento argentino das Mães da Praça de Maio.
Caso parecido é o da epígrafe também inserida em outra tese da UNESP/Marília “Nenhum de nós é tão inteligente como todos nós” também inserida em outra tese da UNESP/Marília, e com autoria creditada a Philip Condit, engenheiro e empresário norte-americano que foi presidente da Boeing. Contudo, o site “O Pensador” apresenta a mesma frase com autorias atribuídas a Warren Bennis e a Ken Blanchard. Nota-se que essas frases inspiracionais geralmente são utilizadas por oradores motivacionais e são divulgadas com frequência em redes sociais e em palestras de autoajuda à guisa de conselhos, tornando difícil identificar a real autoria.
A epígrafe apócrifa “O único homem que não erra é aquele que nunca fez nada” foi atribuída a Theodore Roosevelt em outra tese da UNESP/Marília. Ao conferir sua autenticidade, o Quote Investigator (2014QUOTE INVESTIGATOR. Play is the highest form of research. 2014. Disponível em: https://quoteinvestigator.com/2014/08/21/play-research/#return-note-9611-1. Acesso em: jul. 2021.
https://quoteinvestigator.com/2014/08/21...
) informa que uma família de máximas como essa está em processo de evolução há mais de 150 anos, pois foram empregadas por vários indivíduos proeminentes. Por exemplo, Samuel Smiles colocou uma versão em seu influente livro de autoajuda de 1859. Josh Billings incluiu uma versão distinta em uma compilação publicada em 1874. Quanto a Theodore Roosevelt este empregou o ditado em 1900, conforme observado por seu biógrafo Jacob A. Riis (1901)RIIS, Jacob. The making of an American: an authobiography. Larivi, v.69, n.1, p.35, 1901., mas não foi uma versão que ele elaborou, ou seja, Roosevelt apenas popularizou um ditado que já estava em circulação.
A respeito das funções das epígrafes os resultados revelaram que o efeito-epígrafe, isto é, aquele em que a epígrafe tem a função de ornamento, foi o mais frequente com 81,6% (n=244) do total distribuído entre as teses da UNESP/Marília (n=136) e do IBICT/UFRJ (n=108). O Quadro 2 apresenta alguns exemplos em que é possível observar não haver relação do título da tese com a epígrafe.
As epígrafes com função direta, isto é, aquelas que denotam relação com o título ou capítulos das teses, representaram 12,4% (n=37) do total, conforme distribuição nas teses do IBICT/UFRJ (n=21) e da UNESP/Marília (n=16). No Quadro 3 estão alguns exemplos de epígrafes com essa função sendo possível verificar a relação destas com os títulos das teses.
Epigrafes com função oblíqua representaram 6,4% (n=19) do total sendo distribuídas nas teses do IBICT/UFRJ (n=14) e da UNESP/Marília (n=5). O essencial nas epígrafes com essa função não é o que elas dizem, mas a identidade de seus autores e o efeito de garantia indireta que suas presenças determinam à margem de um texto, conforme argumenta Genette (2009)GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Trad. Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009.. O Quadro 4 apresenta alguns exemplos de epígrafes com função oblíqua, sendo que a identidade de autores como Paulo Freire e Tefko Saracevic funcionam como uma fiança ao texto, independentemente dos títulos e /ou conteúdo da tese.
Os resultados também apontaram os diferentes tipos de discursos implícitos nas epígrafes. Para identificá-los levou-se em consideração dois aspectos: a relação entre o autor epigrafado e seu pertencimento a determinado campo de conhecimento ou área de atuação, e também o conceito de interdiscurso, isto é, “aquele que se constitui e se alimenta de vários outros discursos”, a partir do qual “muitos fenômenos textuais podem ser interpretados”, entre eles as citações, conforme preceitua Maingueneau (2000MAINGUENEAU, Dominique. Analisando discursos constituintes. Revista do GELNE, v.2, n.2, p. 1-12, 2000., p.5).
Com base nesse entendimento foi possível categorizar em sete tipos os discursos implícitos nas epígrafes: científico, literário, filosófico, religioso, institucional, político e motivacional, esclarecendo que esse último é transversal aos anteriores. Para melhor demonstrar essa categorização o Quadro 5 apresenta alguns exemplos desses tipos de discursos extraídos das epígrafes inseridas nas teses do IBICT/UFRJ e UNESP/Marília.
Vale observar, que as epígrafes com discurso motivacional foram inseridas em páginas pré-textuais das teses. Essas epígrafes geralmente transmitem uma mensagem inspiracional para enfrentamento dos desafios impostos pela pós-graduação.
A Tabela 4 apresenta a categorização das epígrafes de acordo com os tipos de discursos implícitos.
Os resultados da Tabela 4 mostram que o discurso científico com 46,3% (n=165) prevaleceu nas epígrafes de ambas instituições, seguido pelo discurso literário com 22% (n=78) e pelo discurso motivacional com 16% (n=57). Nas teses do IBICT/UFRJ prevaleceram as epígrafes com discursos literários e filosóficos, além de ser notada a ausência de epígrafes com discurso religioso. Os demais tipos de discursos implícitos das epígrafes foram superiores nas teses da UNESP/Marília.
Em relação ao gênero dos epigrafados (n=249) verificou-se a predominância masculina (n=186) representando 74,2% (n=222) do total de epígrafes, com superioridade para aqueles da UNESP/Marília (n=101). As mulheres (n=32) constituíram a minoria em ambas instituições, e representaram 10,7% (n=32) das epígrafes, mas foram superiores no IBICT/UFRJ (n=19), conforme dados da Tabela 5.
A categoria “não se aplica” na Tabela 5 se refere a autores anônimos, não identificados, instituições, órgãos, organização política, empresas, país, grupos musicais, divindades religiosas, entre outros.
Esses achados estão em consonância com aqueles encontrados em estudos sobre gênero na ciência, os quais apontam a desvantagem feminina em métricas como produtividade científica, citações, autorias e coautorias, prêmios científicos (NI et al, 2021NI, Chaoqun et al. The gendered nature of authorship. Science Advances, v.7, eabe4639, 1 Sept. 2021.; MEHO, 2021MEHO, Lokman. The gender gap in highly prestigious International research awards: 2001-2020. Quantitative Science Studies, v.2, n.3, p. 976-989, 2021.; MAYER; RATHMAN, 2018; AUTOR 1, 2017).
A Figura 1 apresenta os epigrafados que receberam entre 19 até duas citações em ambas as instituições. Reunidas sob a rubrica “textos sagrados” as epígrafes da Bíblia Sagrada (n=10) e outros textos do cristianismo (n=4), do budismo (n=2) do hinduísmo (n=1) e do judaísmo (n=2) representaram juntas 6,3% (n=19) do total das epígrafes e revelaram-se as mais frequentes sugerindo que a Antiguidade é o período histórico mais fértil citado no corpus analisado.
Dentre os autores mais epigrafados Albert Einstein foi citado em quatro teses da UNESP/Marília com duas epígrafes iguais: “A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, não seremos capazes de resolver os problemas causados pela forma como nos acostumamos a ver o mundo” e “Uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao normal”. Recorde-se que essa segunda epígrafe é apócrifa. Por sua vez, a epígrafe “A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê” de Arthur Schopenhauer foi citada uma vez no IBICT/UFRJ e em duas vezes na UNESP/Marília. Thomas Stern Eliot foi outro autor epigrafado duas vezes com a mesma frase - “Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação?” - no IBICT/UFRJ e na UNESP/Marília.
Epigrafados como Ludwig Wittgeinstein (n=8) e Jacques Derrida (n=8) aparecem com epígrafes diferentes na mesma tese do IBICT/UFRJ. Aliás, essa tese foi a que apresentou o maior número de epígrafes (n=49). Para além de uma demonstração de erudição do epigrafador, haja vista que entre os epigrafados (n=24) estão diferentes nomes da Filosofia (n=12), Literatura (n=8), Antropologia (n=2), Música (n=1) e Religião (n=1), essas epígrafes refletem a base de conhecimento cultural acumulada pelo epigrador. Contudo, estatísticamente o total de epígrafes dessa tese pode ser considerada um outlier em relação às demais que variaram entre um até 49, conforme mostram os dados da Figura 2.
Nota-se que 47,2% (n=141) do total das epígrafes (n=299) apareceram entre uma e cinco vezes em 87,5% (n=91) das teses analisadas (n=104), sendo a maioria nas teses da UNESP/Marília (n=60). Na posição intermediária estão 32,1% (n=96) das epígrafes que apareceram entre onze e quarenta e nove vezes em 5,8% (n=6) das teses, a maioria da UNESP/Marília. As demais 20,7% (n=62) das epígrafes apareceram entre seis e nove vezes em 6,7% (n=7) das teses, distribuídas igualmente entre as duas instituições.
A análise dos autores epigrafados permitiu identificar aqueles que pertencem ao campo da Ciência da Informação (n=11) sendo a maioria (n=6) do exterior e os demais (n=4) brasileiros. Juntos, as epígrafes desses autores representaram 5,7% (n=17) do total (n=299). Além disso, a maioria (n=10) desses autores foram epigrafados nas teses da UNESP/Marília, e somente três foram epigrafados nas teses da IBICT/UFRJ. (Tabela 6).
Entre os epigrafados brasileiros (n=5) do campo da Ciência da Informação quatro são pesquisadores sêniores que contribuíram para construção do campo no país desde o final dos anos 1960, em instituições pioneiras como o Instituto Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (IBBD), o atual IBICT, além de colaborarem na formação de uma plêiade de pesquisadores da área em programas de pós-graduação do IBICT/UFRJ, Unesp/Marília, Universidade de Brasília (UnB); outro é um jovem doutor da UFPB com destacada atuação na área. Verificou-se que dentre esses cinco epigrafados apenas um foi orientador do epigrafador, sendo esta epígrafe da UNESP/Marília.
Dentre os epigrafados do exterior (n=5), Paul Otlet é tido por muitos como o “pai da documentação”, campo que ele chamou de “documentação” no seu trabalho fundador sobre a organização e acesso ao conhecimento, o “Traité de documentation” (1934). Por outro lado, os sistemas de recuperação da informação são o foco das pesquisas de Tefko Saracevic que é considerado um dos introdutores da bibliometria no Brasil nos anos 1970 devido a sua atuação na então recém-criada pós-graduação em Ciência da Informação do IBBD e orientação de diversas dissertações com essa temática. Por sua vez, com uma abordagem teórica a partir da hermenêutica, o filósofo uruguaio Rafael Capurro, residente na Alemanha desde os anos 1970, tem oferecido inúmeras contribuições para a Filosofia da Informação. Da mesma forma, as pesquisas sobre controle bibliográfico, catalogação e classificação devem muito a Elaine Svenonius que trouxe uma abordagem da organização do conhecimento filosófico para catalogar a teoria. Por fim, Clare Beghtol foi uma teórica da classificação que explorou novas abordagens para a representação e organização do conhecimento.
Da extensa e relevante produção científica desses epigrafados alguns textos podem ser considerados “clássicos” da área, motivo pelo qual fragmentos dessas obras foram tomados como epígrafes pelos autores das teses, sinalizando a filiação intelectual ao pensamento dos epigrafados e o reconhecimento científico dos epigrafadores para esses autores devido as suas contribuições para o campo da Ciência da Informação. Além disso, pode-se supor que essa escolha do epigrafado se constitua em uma forma de homenagem prestada a autores consagrados ou contemporâneos do campo de conhecimento no qual estão inseridos.
5 CONCLUSÕES
O sujeito da citação é uma personagem equívoca [...] É um delator, um vendido - aponta o dedo publicamente para outros discursos e outros sujeitos -, mas sua denúncia, sua convocação, são também um chamado e uma solicitação: um pedido de reconhecimento” (COMPAGNON, 1996COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Trad. de Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1996., p.50)
Ao abordar a origem, as funções e tipos de epígrafes inseridas em textos científicos a partir de uma perspectiva paratextual e sociológica da ciência, as notas teóricas desse artigo permitiram elaborar e aplicar um modelo de análise cujos resultados se constituem em chave de leitura para o reconhecimento científico, haja vista que revelaram as estratégias de legitimação e filiação, as influências intelectuais dos epigrafadores e o reconhecimento científico aos epigrafados no campo de conhecimento no qual estão inseridos. Nesse contexto, as epígrafes ultrapassam o sentido de vestíbulo que dá acesso ao texto e se tornam um elemento essencial para entender a densa rede de intertextualidade plasmada no universo de referências explícitas entre o texto e outros textos.
Os resultados da pesquisa mostraram que a maioria das fontes das epígrafes foram inseridas na seção “Referências” das teses, embora aquelas que não o fizeram tenham apresentado um escore próximo. Todavia, sugere-se maior atenção aos futuros epigrafadores para que façam constar essa informação na lista de referências, apesar das normas da ABNT não fazerem essa exigência.
Outro aspecto diz respeito à inserção de epígrafes apócrifas, inexatas e anônimas. Atualmente, com as diversas ferramentas disponíveis online para verificação da autenticidade de citações, pode-se evitar que se incorra em falsas atribuições nas autorias das epígrafes. Igualmente válida é a sugestão para a grafia correta do nome dos epigrafados. Tais cuidados são desejáveis e esperados de epigrafadores de todas as áreas de conhecimento.
Também cabe destacar que o efeito-epígrafe teve maior incidência entre as epígrafes das teses. Esses resultados sugerem que os epigrafadores ao optarem por epígrafes com essa função parecem enviar uma metamensagem de pertencimento ao campo de conhecimento do epigrafado. Por conseguinte, para tornar mais real a aderência à área posicionando-se ao lado de epigrafados consagrados pela literatura científica, esses epigrafadores subscrevem o efeito name-dropping para legitimar seus vínculos intelectuais com uma figura relevante do seu campo de conhecimento.
O modelo de análise de epígrafes proposto e aplicado nesse estudo também produziu indicadores quantitativos e qualitativos que permitiram descrever como as epígrafes foram utilizadas em teses doutorais, caracterizar e analisar essas epígrafes com maior precisão e obter uma melhor compreensão de suas funções. Para tal empreitada, a combinação das análises bibliométrica e de conteúdo revelou-se um poderoso recurso metodológico para evidenciar a importância das epígrafes na esfera da comunicação científica. De maneira idêntica os aportes teóricos da Sociologia da Ciência e dos Estudos Literários e da Linguística foram fundamentais para embasar esse modelo e ampliar o escopo dos resultados obtidos.
Finalmente, ao tomar como objeto de estudo as epígrafes a pesquisa realizada pretendeu oferecer uma contribuição original para a Ciência da Informação, haja vista que não foram identificadas pesquisas similares nessa área de conhecimento, a despeito da importância desse elemento paratextual para melhor compreensão do reconhecimento científico em textos e publicações científicas. Por esse motivo, cumpre observar que os resultados aqui obtidos não podem ser generalizados e comparados com outros, dada a inexistência até o momento de estudos sobre epígrafes no campo da Ciência da Informação, motivo pelo qual estimula-se a realização de pesquisas semelhantes utilizando outras fontes de dados, por exemplo epígrafes em livros e artigos, de diferentes áreas de conhecimento.
Em conclusão, assim como as citações, as epígrafes conectam o texto epigrafado com outros textos, e oferecem a oportunidade de refletir sobre o seu impacto e a difusão de ideias em diferentes comunidades acadêmicas, merecendo, portanto, um olhar mais aprofundado dos pesquisadores que atuam no campo dos estudos métricos da informação .
-
Disponibilidade de dados e material:
Não aplicável. -
ERRATA
HAYASHI, M. C. P. I. Errata: Epígrafes no sistema de recompensas da ciência: notas teóricas e modelo de análise. RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, SP, v. 20, e022004e, 2022. DOI: 10.20396/rdbci.v20i00.8667926/ept. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8667926. Acesso em: 15 fev. 2022.NOTA:As referências abaixo, por descuido durante a revisão final do manuscrito, não foram incluídas na lista final do artigo, por essa razão está sendo feita neste arquivo e informand a Errata abaixo:REFERÊNCIAS1. HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini. Evidências bibliométricas do reconhecimento científico em resenhas e entrevistas. RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, SP, v. 18, p. e020037, 2019. https://doi.org/10.20396/rdbci.v18i00.86607432. HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini. Obituários acadêmicos: análise de homenagens póstumas da ciência em periódicos científicos. Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 50, p. 70-88, 2021.3. HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini; MAROLDI, Alexandre Masson; HAYASHI, Carlos Roberto Massao. Obituarios académicos y homenajes póstumos: legados científicos para el campo de la Cienciometría. Revista General de Información y Documentación, v. 31, p. 369-394, 2021a.4. HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini; MAROLDI, Alexandre Masson; HAYASHI, Carlos Roberto Massao. Reconhecimento científico e avaliação post-mortem em obituários acadêmicos na Revista Pesquisa FAPESP: estudo bibliométrico e de conteúdo. Brazilian Journal of Information Science, Marília, v. 26, p. 1-32, 2021b.5. HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini; MAROLDI, Alexandre Masson; HAYASHI, Carlos Roberto Massao. In vitam et post-mortem: expressões de gratidão a Derek de Solla Price em agradecimentos e obituários acadêmicos. Palabra Clave (La Plata), v. 11, p. e143-17, 2021c.6. SILVA, Márcia Regina da; HAYASHI, Carlos Roberto Massao; HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini. Análise bibliométrica e cientométrica: desafios para especialistas que atuam no campo. InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação, Ribeirão preto, v. 2, p. 110-129, 2011. -
Financiamento: Este estudo foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) mediante concessão de bolsa de produtividade em pesquisa.
REFERÊNCIAS
- AHERN, Rosemary. The art of epigraph: how great books begins. New York: Atria Books, 2012.
- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA). Manual of the American Psychological Association 7th. Ed. 2020. Disponível em: https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition Acesso em; set. 2020.
» https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition - ANDERSEN, Jack. Materiality of works: the bibliographic record as a text. Cataloguing & Classification Quarterly, v.33, n.3-4, p. 39-65, 2002.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 14.724: informação, e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação. 3.ed. 2011.
- ASTRÖM, Fredrik. The context of paratext: a bibliometric study of the citation context of Gérard Genette's texts. In: DESROCHERS, Nadine.; APOLLON, Daniel. (ed.) Examining paratextual theory ant its application in digital culture Hershey: IGI Global, 2014. p. 1-23.
- BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo São Paulo: Edições 70, 2011.
- BARLETT, John. Barlett's familiar quotations: a collection of passages, phrases, and proverbs traced to their sources in ancient and modern literature. 17.ed. Edited by Justin Kaplan. Boston: Little Brown, 2002.
- BOLLER JR., Paul. F.; GEORGE, John. They never say it: a book of fake quotes, misquotes, and misleading attributions. New York: Oxford University Press, 1989.
- BOURDIEU, Pierre. La spécificité du champ scientifique et les conditions sociales du progrès de la raison. Sociologie et Societés, v. 71, p.91-118, 1975.
- BUURMA, Rachel Sagner. Epigraphs. In: DUNCAN, Dennys.; SMYTH, Adam. Book parts New York: Oxford University Press, 2019. p. 165-176.
- CALAPRICE, Alice. The ultimate quotable Einstein New Jersey: Princenton University Press, 2011.
- CEIA, Carlos. E-dicionário de termos literários 2009. Disponível em: https://edtl.fcsh.unl.pt/ Acesso em: set.2021.
» https://edtl.fcsh.unl.pt/ - CHICAGO MANUAL OF STYLE (CMOS). Epygraphs and sources (CMOS 1.37). 2018. Disponível em: https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html Acesso em: set. 2021.
» https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html - COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação Trad. de Cleonice P. B. Mourão. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1996.
- CRONIN, Blaise; FRANKS, Sara. Trading cultures: resource mobilization and service rendering in the life sciences as revealed in the journal article's paratext. Journal of the American Society for Information Science and Technology, v.57, n.14, p.1909-1918, 2006.
- CRONIN, Blaise; LA BARRE, Kathryn. Patterns of puffery: an analysis of non-fiction blurbs. Journal of the American Society for Information Science and Technology, v. 37, n.1, p.17-24, 2005.
- DESROCHERS, Nadine; PECOSKIE, Jen. Inner circles and outer reaches: local and global information-seeking habits of author in acknowledgment paratext. Information Research, v.19, n.1, 2014.
- DESROCHERS, Nadine.; TOMASZEK, Patricia. What I see and what you read: a narrative of interdisciplinary research on a common digital object. Proceedings of the 42nd Annual Conference of the Canadian Association for Information Science Ontário: CAIS/ACSI, 2014.
- GENETTE, Gérard. Palimpsestos: literatura de segunda mão. Belo Horizonte: Viva Voz, 2010.
- GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais Trad. Álvaro Faleiros. Cotia: Ateliê Editorial, 2009.
- GROSS, Melissa.; LATHAM, Don. The peritextual literacy framework: using the functions of peritext to support critical thinking. Library and Information Science Research, v.39, p.116-123, 2017.
- HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini. Evidências bibliométricas do reconhecimento científico em resenhas e entrevistas. RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, SP, v. 18, p. e020037, 2019. https://doi.org/10.20396/rdbci.v18i00.8660743.
» https://doi.org/10.20396/rdbci.v18i00.8660743. - HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini. Obituários acadêmicos: análise de homenagens póstumas da ciência em periódicos científicos. Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 50, p. 70-88, 2021.
- HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini. Obituários acadêmicos: análise de homenagens póstumas da ciência em periódicos científicos. Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 50, p. 70-88, 2021.
- HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini; MAROLDI, Alexandre Masson; HAYASHI, Carlos Roberto Massao. Reconhecimento científico e avaliação post-mortem em obituários acadêmicos na Revista Pesquisa FAPESP: estudo bibliométrico e de conteúdo. Brazilian Journal of Information Science, Marília, v. 26, p. 1-32, 2021b.
- HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini; MAROLDI, Alexandre Masson; HAYASHI, Carlos Roberto Massao. In vitam et post-mortem: expressões de gratidão a Derek de Solla Price em agradecimentos e obituários acadêmicos. Palabra Clave (La Plata), v. 11, p. e143-, 2021c.
- HUME-PATRUCH, Jeff. Dear professor: your students have questions we can’t answer. 2010. Disponível em: https://blog.apastyle.org/apastyle/2010/04/theres-an-art-to-it.html Acesso em: set. 2021.
» https://blog.apastyle.org/apastyle/2010/04/theres-an-art-to-it.html - ISOLDI, Francisco. A epigrafia: síntese geral. Revista de História da USP, v. 4, n.9, p. 89-105, 1952.
- KHALIL, Beth. Quote investigator. The School Librarian, v.64, n.3, p.147, 2016.
- KEYES, Ralph. The quote verifier: who said what, where, and when. New York; St. Martin's Press, 2006.
- KNOWLES, Elizabeth. What they didn't say: a book fo misquotations. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- LICHTIG, Toby. Epigraphs: opening possibilities. The Guardian 30 mar. 2010. Disponível em: https://www.theguardian.com/books/booksblog/2010/mar/30/epigraphs-toby-lichtig Acesso em: set. 2021.
» https://www.theguardian.com/books/booksblog/2010/mar/30/epigraphs-toby-lichtig - MAINGUENEAU, Dominique. Analisando discursos constituintes. Revista do GELNE, v.2, n.2, p. 1-12, 2000.
- MARTUCCI, Elisabeth Márcia. A feminização e a profissionalização do magistério e da biblioteconomia: uma aproximação. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 1, n.2, p. 225-244, jul./dez. 1995.
- MAYER, Sabrina J.; RATHMANN, Justus M. K. How does research productivity related to gender? Analyzing gender differences for multiple publications dimensions. Scientometrics, v.117, p. 1663-1693, 2021.
- MEHO, Lokman. The gender gap in highly prestigious International research awards: 2001-2020. Quantitative Science Studies, v.2, n.3, p. 976-989, 2021.
- MERTON, Robert King. Priorities in scientific discovery: a chapter in the Sociology of Science. American Sociological Review, v.22, n.6, p. 635-659, 1957.
- MERTON, Robert King. On the shoulders of giants: a shandean postscript. New York: Free Press/Macmillan, 1965.
- MERTON, Robert King. The Matthew Effect in science. Science, v. 159, p. 56-63, 1968.
- MERTON, Robert King. The sociology of science: theoretical and empirical investigations. Chicago: Chicago University Press, 1973.
- MORSON, Gary Saul. The words of others: from quotations to culture. New Haven: Yale University Press, 2011.
- MORTON, Brian. Falser words were never speaking. The New York Times, 29 Aug. 2011.
- MOYSÉS, Massaud. Dicionário de termos literários São Paulo: Cultrix, 2004.
- NI, Chaoqun et al. The gendered nature of authorship. Science Advances, v.7, eabe4639, 1 Sept. 2021.
- NILSEN, Jakob. Projetando websites: designing web usability. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
- NORTON, Scott. Developmental editing: a handbook for freelancers, authors, and publishers. Chicago: University Chicago Press, 2009.
- OTLET, Paul. Tratado de documentação: o livro sobre o livro: teoria e prática. Brasília: Briquet de Lemos, [1934] 2018.
- O'TOOLE, Garson. Hemingway didn't say this: the truth behind familiar quotations. New York: Little A, 2017.
- PALING, Stephen. Thresholds of access: paratextuality and classification. Journal of Education for Library and Information Science, v. 43, n. 2, p. 134-143, 2002.
- PECOSKIE, Jen; DESROCHERS, Nadine. Hiding in plain sight: paratextual utterances as tools for information-related research and practice. Library and Information Science Research, v.35, p. 232-240, 2013.
- PENSADOR. Frases e pensamentos 2021. Disponível em: https://www.pensador.com/ Acesso em: maio 2021.
» https://www.pensador.com/ - QUOTE INVESTIGATOR. Tracing citations 2021. Disponível em: https://quoteinvestigator.com/ Acesso em: jul. 2021.
» https://quoteinvestigator.com/ - QUOTE INVESTIGATOR. Play is the highest form of research. 2014. Disponível em: https://quoteinvestigator.com/2014/08/21/play-research/#return-note-9611-1 Acesso em: jul. 2021.
» https://quoteinvestigator.com/2014/08/21/play-research/#return-note-9611-1 - QUOTE INVESTIGATOR. It always seems impossible until it’s done. 2016. Disponível em: https://quoteinvestigator.com/2016/01/05/done/ Acesso em: jul. 2021.
» https://quoteinvestigator.com/2016/01/05/done/ - REIS, Carlos. Dicionário de estudos narrativos Coimbra: Almedina, 2018.
- RIIS, Jacob. The making of an American: an authobiography. Larivi, v.69, n.1, p.35, 1901.
- SALAGER-MEYER, Françoise.; ALCARAZ-ARIZA, María Ángeles.; PABÓN-BERBESÍ, Maryelis. ‘Backstage solidarity’ in Spanish-and-English-written medical research papers: publicaton context and the acknowledgment paratext. Journal of the American Society for Information Science and Technology, v. 60, n.2, p. 307-317, 2009.
- SALAGER-MEYER, Françoise et al Scholarly gratitude in five geographical contexts: a diachronic and cross-generic approach of the acknowledgment paratext in medical discourse (1950-2010). Scientometrics, v. 86, n.3, p. 763-784, 2011.
- SARAMAGO, José. The notebook London: Verso, 2011.
- SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral 27.ed. São Paulo: Cultriz, 2006.
- SCARFE, Nevile V. Play is education. Childhood Education, v.39, n.3, p. 117-121, 1962.
- SCHMITT, Stéphane. Epigraphs as parts of text in Natural History books in the Eighteenth Century: between intertextuality and the architecture of the book. In: BRETELLE-ESTABLET, Florence.; SCHMITT, Stéphane. Pieces and parts in scientific texts Cham: Springer,2018. p. 269-295.
- SCHWARTZ, Jorge. Murilo Rubião: a poética do uroboro. São Paulo: Ática, 1981.
- SILLS, David.; MERTON, Robert King. Social sciences quotations: who said what, when, and were. New York: MacMillan, 1991. (Encyclopedia of the Social Sciences, v. 19).
- SILVA, Márcia Regina da; HAYASHI, Carlos Roberto Massao; HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini. Análise bibliométrica e cientométrica: desafios para especialistas que atuam no campo. InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação, Ribeirão preto, v. 2, p. 110-129, 2011.
- STORY, M. L. Epigraphs on education. Peabody Journal of Education, 32:1, 43-48, 1954.
- VEROS, Vassiliki. A matter of meta: category romance fiction and the interplay of paratext and library metadata. Journal of Popular Romance Studies, v.5, n.1, p. 1-13, 2015.
- VOSGERAU, Dilmeire Sant’Anna Ramos; ROMANOWSKI, Joana Paulin. Estudos de revisão: implicações conceituais e metodológicas. Diálogo Educacional, Curitiba, v.14, n.21, p. 165-189, jan./abr. 2014.
- XAVIER, Ana Laura Silva. A presença do feminino na biblioteconomia brasileira: aspectos históricos. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação). Marília: Faculdade de Filosofia e Ciências/ UNESP - Campus de Marília, 2020.
- WIKIQUOTE. Página principal 2021. Disponível em: https://en.wikiquote.org/wiki/Main_Page Acesso em: set. 2021.
» https://en.wikiquote.org/wiki/Main_Page - WILKINSON, Kate. No record of Mandela saying ‘It always seems impossible until it’s done 9 dec. 2016. Disponível em: https://africacheck.org/fact-checks/spotchecks/no-record-mandela-saying-it-always-seems-impossible-until-its-done Acesso em: set. 2021.
» https://africacheck.org/fact-checks/spotchecks/no-record-mandela-saying-it-always-seems-impossible-until-its-done
Disponibilidade de dados
Não aplicável.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
23 Jan 2023 -
Data do Fascículo
2022
Histórico
-
Recebido
04 Dez 2021 -
Aceito
13 Jan 2022 -
Publicado
28 Jan 2022
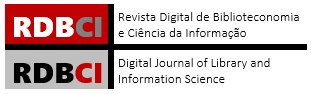



 Fonte: Elaborado pela autora.
Fonte: Elaborado pela autora.
 Fonte: Elaborado pela autora.
Fonte: Elaborado pela autora.