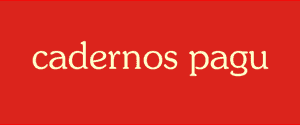Nos últimos anos, um número significativo de coletâneas e dossiês sobre etnografias em prisões foram publicadas (Bandyopadhyay et alii, 2013; Drake; Earle, 2013Drake, Deborah; Earle, Rod. On the inside: prison ethnography around the globe. Criminal Justice Matters, nº. 91 (1), 2013, pp.12-13 [https://doi.org/10.1080/09627251.2013.778746 – acesso em: 25 out. 2019].
https://doi.org/10.1080/09627251.2013.77...
; Jewkes, 2013, Martin et alii, 2014; Ugelvik, 2014Ugelvik, Thomas. Prison Ethnography as Lived Experience: Notes From the Diaries of a Beginner Let Loose in Oslo Prison. Qualitative Inquiry, n. 20(4), 2014, pp.471-480 [https://doi.org/10.1177/1077800413516272 – acesso em: 20 out. 2019].
https://doi.org/10.1177/1077800413516272...
; Drake et alii, 2015; Godoi; Mallart, 2017; Frois, 2017Frois, Catarina. Female Imprisonment: An Ethnography of Everyday Life in Confinement. London and New York, Palgrave Macmillan, 2017.). Essas publicações resultam de trabalhos desenvolvidos desde diversos campos disciplinares – psicologia, sociologia, criminologia, antropologia, entre outros – e fornecem inúmeros apontamentos e ideias voltadas para o desenvolvimento analítico sobre os desafios e possibilidades de produzir pesquisas no campo prisional, tendo a etnografia como prática privilegiada no trabalho de campo (Peirano, 2014Peirano, Mariza. Etnografia não é método. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 20, n. 42, jul./dez. 2014, pp.377-391 [http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71832014000200015 – acesso em: 24 out. 2019].
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71832014...
). Este dossiê é tributário das contribuições desenvolvidas pelas publicações sobre etnografias e prisões, mas por meio dos artigos aqui elencados, propomos adensar as análises ao destacar a centralidade das relações e tecnologias de gênero no trabalho de campo elaborado desde as fronteiras entre dentro e fora das prisões.
Se, dezessete anos atrás, Loïc Wacquant (2002)Wacquant, Loïc. The Curious Eclipse of Prison Ethnography in the Age of Mass Incarceration. Ethnography, vol. 3, n. 4, 2002, pp.371-397 [JSTOR, www.jstor.org/stable/24047814 – acesso em: 15 out. 2019].
www.jstor.org/stable/24047814...
se perguntava sobre a ausência de pesquisas sobre prisões na era do encarceramento em massa, atualmente há uma infinidade de estudos antropológicos voltados para o campo prisional e/ou para a experiência de encarceramento. Embora os antropólogos estejam cada vez mais engajados na pesquisa prisional, pouco se escreve sobre questões epistemológicas, éticas e metodológicas específicas dos compromissos antropológicos com esse campo específico (Rhodes, 2013Rhodes, Lorna A. Ethnographic imagination in the field of the prison. Criminal Justice Matters, n. 91(1), 2013, pp.16-17 [https://doi.org/10.1080/09627251.2013.778748 – acesso em: 24 out. 2019].
https://doi.org/10.1080/09627251.2013.77...
). Este dossiê procura abordar essa importante lacuna na literatura, olhando para além da etnografia como prática de pesquisa e propondo refletir sobre os desafios e possibilidades de realização dos estudos antropológicos situados nos e sobre os estabelecimentos prisionais.
A realização de pesquisas nas prisões exige não apenas a colaboração dos próprios interlocutores, mas também de agentes que congregam toda uma trama institucional (Gregori, 2000Gregori, Maria Filomena. Viração: Experiência de meninos nas ruas. São Paulo, Companhia das Letras, 2000.) da qual fazem parte os aparelhos do sistema prisional, bem como grupos religiosos, organizações não governamentais e coletivos da sociedade civil organizada. O tipo de acesso que é permitido a pesquisadora/ao pesquisador na prisão impacta os compromissos que ela/ele terá com as pessoas em campo, bem como os tipos de colaboração que serão possíveis, necessários, ou mesmo inevitáveis para desenvolvimento da pesquisa. De que forma os diferentes modos de acesso ao campo impactam a produção de saber sobre ele (ver Gaborit, neste volume)? O que acontece quando diferentes atores (pessoas em cumprimento de pena, funcionários, formuladores de políticas públicas e sociedade civil organizada) trabalham juntos ou uns contra os outros para provocar mudanças sócio-políticas voltadas para os modelos de encarceramento das populações? De que maneira as emoções e os sentidos afetam o modo como o cotidiano prisional é percebido e vivenciado (ver Frois; Osuna e Pedroso de Lima, neste volume)? Como analisar as conexões emocionais e o impacto delas nas colaborações de pesquisa estabelecidas em tais contextos? O campo prisional, certamente, apresenta desafios particulares ao conhecimento antropológico. Mas o exame voltado para esses desafios também pode significar o desenvolvimento de contribuição no avanço da investigação antropológica como um todo, como é explorado nos artigos deste dossiê.
As prisões não são “apenas” espaços de confinamento. Antes, são espaços onde legitimidade, punição, justiça, privações e práticas de resistência se expressam na vida cotidiana - onde tais conceitos são vividos, experimentados e contestados, não apenas pelas próprias pessoas presas, mas também por outros atores envolvidos em suas vidas como funcionários do sistema penal (Nascimento, 2019) e familiares (ver Lago, neste volume). De fato, um argumento que atravessa todos os artigos publicados neste dossiê é o de não ser a prisão nem “fechada”, nem uma “instituição total” (Goffman, 1961Goffman, Erving. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Garden City, New York, Anchor Books/Doubleday & Company Inc., 1961.). Examinar o “efeito etnográfico” (Strathern, 1999Strathern, Marylin. Property, substance and effect: anthropological essays on persons and things. London, Athlone, 1999.) no campo prisional significa analisar as porosidades das prisões e como o etnógrafo toma parte nelas (Godoi, 2010Godoi, Rafael. Ao redor e através da prisão: cartografias do dispositivo carcerário contemporâneo. Dissertação (Mestrado em Sociologia), Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2010.).
As contribuições publicadas neste dossiê tomam especial atenção a questões de posicionalidade, ou “localização social” (Mahler; Pessar, 2001Mahler, Sara J.; Pessar, Patricia R. Gendered Geographies of Power: Analysing gender across transnational spaces. Identities, vol.7(4), 2001, pp.441-459.; Padovani, neste volume), para acessos e engajamentos pessoais (ver Bertrami, Uziel; Hérnandez, neste volume) e, mais especificamente, explora a dinâmica da intimidade, da colaboração (ver Lago, neste volume) e, também, de como as emoções afetam o trabalho de campo na pesquisa prisional (ver Ballesteros Pena, neste volume). Essas dinâmicas são inescapavelmente produzidas por meio de relações de poder e afeto emaranhadas por muitos atributos que localizam o pesquisador como “estrangeiro” (ver Ordoñez-Vargas, neste volume); como membro da equipe da prisão ou alguém que também trabalha como voluntário em uma organização de direitos humanos. Ser localizada/o como “estrangeiro”, como parte da “equipe prisional” ou “parte de uma ONG”, por exemplo, cria expectativas sociais que são embaralhadas pelas e nas trajetórias e atributos de gênero, sexualidade, raça e classe categorizam pesquisadoras/es em suas relações, como demonstra particularmente o artigo de Céu Cavalcanti e Vanessa Sander, neste volume.
A ideia deste dossiê foi produzida no âmbito da rede Anthropology of Confinement, da Associação Europeia de Antropologia Social, fundada por Ueli Hostettler, Ines Hasselberg e Carolina Sanchez Boe, em 2014. Ganhou fôlego durante o Iº Workshop internacional Gênero, Sexualidade e Direitos, organizado, em colaboração, por Anna Uziel e Natália Corazza Padovani, o qual ocorreu em abril de 2018, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ.1 1 O 1º Workshop Internacional “Prisões, sexualidades, gênero e direitos: desafios e proposições de pesquisas contemporâneas”, ocorreu no Rio de Janeiro em abril de 2018. Foi organizado por Anna Paula Uziel; Luisa Bertrami D'Angelo; Jimena de Garay Hérnandez; Bárbara Rocha da Silva; Vanessa Pereira de Lima e todos os membros do grupo de pesquisa GEPSID - Subjetividades, Instituições e dobras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). O evento também foi organizado em colaboração com Natália Corazza Padovani, do Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Estadual de Campinas (Pagu/UNICAMP). O workshop foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e pelo Consulado Francês no Brasil. Apresentando etnografias realizadas em vários contextos geográficos – Brasil, Mianmar, Portugal e Espanha – as produções aqui publicadas oferecem contribuições empíricas e conceituais para as importantes questões descritas acima, bem como fornecem análises críticas sobre o avanço do conhecimento e o encontro antropológico na prisão.
Referências bibliográficas
- Bandyopadhyay, Mahuya, et alii. Prison spaces and beyond: the potential of ethnographic zoom. Criminal Justice Matters, n. 91 (1), 2013, pp.28-29 [https://doi.org/10.1080/09627251.2013.778758 – acesso em: 23 out. 2019].
» https://doi.org/10.1080/09627251.2013.778758 - Drake, Deborah; Earle, Rod; Sloan, J. (ed.). The Palgrave Handbook of Prison Ethnography New York; Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015.
- Drake, Deborah; Earle, Rod. On the inside: prison ethnography around the globe. Criminal Justice Matters, nº. 91 (1), 2013, pp.12-13 [https://doi.org/10.1080/09627251.2013.778746 – acesso em: 25 out. 2019].
» https://doi.org/10.1080/09627251.2013.778746 - Frois, Catarina. Female Imprisonment: An Ethnography of Everyday Life in Confinement London and New York, Palgrave Macmillan, 2017.
- Godoi, Rafael. Ao redor e através da prisão: cartografias do dispositivo carcerário contemporâneo Dissertação (Mestrado em Sociologia), Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2010.
- Goffman, Erving. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates Garden City, New York, Anchor Books/Doubleday & Company Inc., 1961.
- Gregori, Maria Filomena. Viração: Experiência de meninos nas ruas São Paulo, Companhia das Letras, 2000.
- Jewkes, Yvonne. “What has prison ethnography to offer in an age of mass incarceration?” Criminal Justice Matters, n. 91 (1), 2013, pp.14-15 [https://doi.org/10.1080/09627251.2013.778747 – acesso em: 25 de outubro de 2019].
» https://doi.org/10.1080/09627251.2013.778747 - Mahler, Sara J.; Pessar, Patricia R. Gendered Geographies of Power: Analysing gender across transnational spaces. Identities, vol.7(4), 2001, pp.441-459.
- Mallart, Fabio; Godoi, Rafael. BR111: A rota das prisões brasileiras São Paulo, Editora Veneta, 2017.
- Nascimento, Francisco Elionardo de Melo. Agente penitenciário e/ou pesquisador? Trabalho e pesquisa na prisão desde um lugar relacional. Norus – Novos Rumos sociológicos, vol. 6, 2018, pp.304-327 [http://dx.doi.org/10.15210/norus.v6i10.13555 – acesso em: 25 out. 2019].
» http://dx.doi.org/10.15210/norus.v6i10.13555 - Peirano, Mariza. Etnografia não é método. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 20, n. 42, jul./dez. 2014, pp.377-391 [http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71832014000200015 – acesso em: 24 out. 2019].
» http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71832014000200015 - Rhodes, Lorna A. Ethnographic imagination in the field of the prison. Criminal Justice Matters, n. 91(1), 2013, pp.16-17 [https://doi.org/10.1080/09627251.2013.778748 – acesso em: 24 out. 2019].
» https://doi.org/10.1080/09627251.2013.778748 - Strathern, Marylin. Property, substance and effect: anthropological essays on persons and things London, Athlone, 1999.
- Ugelvik, Thomas. Prison Ethnography as Lived Experience: Notes From the Diaries of a Beginner Let Loose in Oslo Prison. Qualitative Inquiry, n. 20(4), 2014, pp.471-480 [https://doi.org/10.1177/1077800413516272 – acesso em: 20 out. 2019].
» https://doi.org/10.1177/1077800413516272 - Wacquant, Loïc. The Curious Eclipse of Prison Ethnography in the Age of Mass Incarceration. Ethnography, vol. 3, n. 4, 2002, pp.371-397 [JSTOR, www.jstor.org/stable/24047814 – acesso em: 15 out. 2019].
» www.jstor.org/stable/24047814
-
1
O 1º Workshop Internacional “Prisões, sexualidades, gênero e direitos: desafios e proposições de pesquisas contemporâneas”, ocorreu no Rio de Janeiro em abril de 2018. Foi organizado por Anna Paula Uziel; Luisa Bertrami D'Angelo; Jimena de Garay Hérnandez; Bárbara Rocha da Silva; Vanessa Pereira de Lima e todos os membros do grupo de pesquisa GEPSID - Subjetividades, Instituições e dobras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). O evento também foi organizado em colaboração com Natália Corazza Padovani, do Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Estadual de Campinas (Pagu/UNICAMP). O workshop foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e pelo Consulado Francês no Brasil.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
02 Dez 2019 -
Data do Fascículo
2019